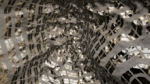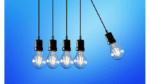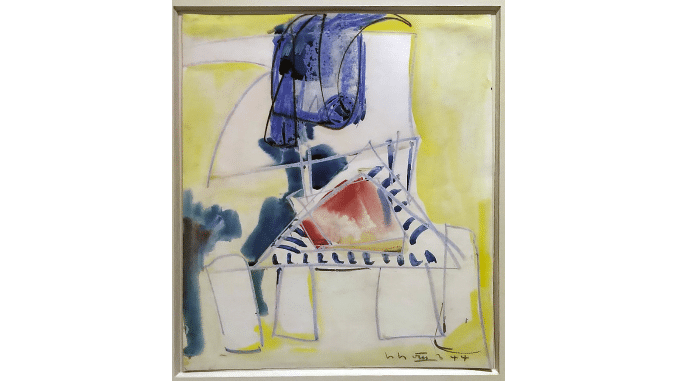Por TETÊ MATTOS*
Considerações sobre o curta-metragem de Glauber Rocha
No dia 11 de março de 1977 o curta-metragem Di-Glauber, do cineasta Glauber Rocha sobre a morte do pintor Di Cavalcanti fez sua estreia na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, provocando risos e aplausos na plateia composta por 500 cinéfilos.
Mas foi somente dois anos após sua estreia, quando exibido em circuito comercial, que o filme foi apreendido através de um mandado de segurança impetrado pela filha do pintor, Elizabeth Di Cavalcanti, sob a alegação de que o filme “denigre a imagem do pintor Di Cavalcanti física e moralmente”,[1] que é uma “usurpação da imagem”, e que faz “apologia da morte”. Na sentença da interdição do filme a alegação era de que “causa uma clara lesão à personalidade de Di Cavalcanti”; “fere o sentimento íntimo dos herdeiros”; “filha se sente chocada ao se defrontar com a face patética do seu pai”. Um perito chega ao extremo de afirmar numa matéria do jornal O Globo, de 02 de junho de 1981: “É toda uma demoníaca montagem tendo como centro o corpo do pintor, ficando inclusive sua face deformada pela moléstia”.
Procuraremos neste artigo analisar algumas características estéticas de Di-Glauber – estilização, alegoria, carnavalização, procedimentos de agressão, e atitude agressiva e provocadora do cineasta com o espectador – que demonstram uma guinada da obra de Glauber, onde são visíveis os sinais de um caminho que vai ao encontro do Cinema Marginal.
No que diz respeito à estética marginal utilizamos como base para as nossas reflexões o livro de Fernão Ramos Cinema Marginal (1968/1973): a representação em seu limite sobre o tema, que delimita o período do movimento como compreendido entre os anos de 1968 e 1973. O próprio autor afirma que a delimitação deste período histórico não deve ser tratada de forma excludente.[2] Sendo assim nos sentimos bastante a vontade em tratar Di-Glauber, uma produção de 1977, como possuidor de elementos estéticos característicos do cinema marginal.
Também é importante comentar que o movimento do Cinema Marginal foi basicamente representado por filmes de ficção. Ao afirmarmos que o documentário em questão possui elementos da estética marginal, demonstra a diversidade deste campo cinematográfico, além de reforçar a singularidade da obra em questão.
Outro ponto que gostaríamos de levantar, diz respeito às próprias declarações do cineasta Glauber Rocha sobre o movimento do cinema marginal por ele denominado de udigrudi. Em entrevista a revista Debate e crítica, em abril de 1975 o cineasta afirma: “Os filmes udigrudi são ideologicamente reacionários porque psicologistas e porque incorporam o caos social sem assumir a crítica da história e formalmente, por isso mesmo, regressivo. São uma mistura de Godard anarquista pré-67 e do formalismo fenomenológico e descritivo de Warhol, e nenhum deles conseguiu o que pretendia: liberar o inconsciente coletivo subdesenvolvido num espetáculo audiovisual totalizante.” (citado em Sidney Rezende (organizador) Ideário de Glauber Rocha. Philobiblion, Rio de Janeiro, 1986, p. 80).
A declaração acima do cineasta é resultado de uma polêmica entre os cineastas marginais e os cineastas do Cinema Novo. Nos anos de 1969 e 1970 os cineastas Rogério Sganzerla, Júlio Bressane e a atriz Helena Inêz deram entrevistas na imprensa, criticando e ironizando o Cinema Novo. Glauber Rocha não deixou por menos e também fez as suas críticas ao cinema marginal. Chegou ao ponto de afirmar que o único filme realmente underground é Câncer (1969) dirigido pelo próprio cineasta. (em Ramos, obra citada, p. 388). De fato, Câncer é sem sombra de dúvida, o filme de Glauber Rocha considerado “marginal”.[3]
Para Ismail Xavier: “As polêmicas da época formaram o que se percebe hoje como um movimento plural de estilos e ideias que, a exemplo de outras cinematografias, produziu aqui a convergência entre “a política dos autores”, os filmes de baixo orçamento e a renovação da linguagem, traços que marcam o cinema moderno, por oposição ao clássico e mais plenamente industrial.” (“O cinema moderno brasileiro” em Cinemais, Rio de Janeiro, no. 4, março/abril de 1997, p. 43).
Na escassa literatura encontrada sobre o Di-Glauber, encontramos algumas afirmações que nos ajudaram a dar a partida para desenvolver nosso pensamento. Alguns autores fazem citações do filme em questão como sendo característico do cinema marginal. Mas nenhum deles desenvolve suas ideias. Haroldo de Campos em prefácio ao livro de Jean-Claude Bernardet, O vôo dos anjos: Bressane, Sganzerla – estudo sobre a criação cinematográfica (Brasiliense) afirma: “Usei, muito de indústria, no parágrafo anterior, a fórmula adverbial de ressalva “aparentemente”. É que, já de alguns anos a esta parte, venho acalentando em mim uma hipótese – hoje convicção – de que Glauber Rocha, o pai do Cinema Novo e o pater “putativo” no processo semiótico de devoração crítica aqui estudado, estava por seu lado, com suas sensibilíssimas antenas criativas muito mais sintonizadas (na estrutura profunda dos eventos) com o udigrudi, o cinema dito marginal, da Belair, do que com cinenovismo já entrando em fase epigonal. Prova dessa “afinidade eletiva” são, desde logo Câncer (1969) e, do último Glauber, o desconcertante A idade da terra e o feérico documentário sobre a morte-velório de Di Cavalcanti, filmado não em clima de plangência lutuosa, mas em ritmo vertiginosamente carnavalizado (funferall, diria o Joyce do Finnegans Wake), um ritmo que tem o condão de restituir a vida ao notável pintor e consumado boêmio cuja memória celebra.” (Haroldo de Campos, “O voo rasante do cinema” em O voo dos anjos: Bressane, Sganzerla, p. 16 e 17).
A caracterização do documentário de Glauber por Haroldo de Campos também coincide com a posição de Regina Motta: “Di-Glauber incorpora os elementos de baixa definição das artes gráficas e dos planos encadeados, sem respeito às leis de contiguidade da arte do vídeo, já bastante desenvolvida nessa época. Nesse aspecto, ele se aproxima conceitualmente e formalmente dos manifestos cinematográficos do cinema marginal de Bressane e Sganzerla, entre outros.” (Di-Glauber: A montagem nuclear. Trabalho apresentado no Encontro da COM-PÓS, Salvador, em 1999, mimeo).
Mas em que momento o documentário Di-Glauber dialoga com o cinema marginal? Se pensarmos, em primeiro lugar, no contexto histórico em que surge o movimento marginal, contexto de impossibilidade de ação, de repressão instituída, de acirramento da censura, onde os filmes se apresentam como resposta a um processo cultural, podemos perceber que são contextos bastante semelhantes. A falta de condição de produção é muito parecida. Se os filmes do cinema marginal são filmes bem baratos, Glauber filma seu documentário quase sem nenhum recurso: com equipamento emprestado e sobras de negativo. A finalização do filme foi feita pela Embrafilme.
Em declarações na mídia, por ocasião da premiação de Di-Glauber em Cannes, vimos o desabafo do cineasta numa entrevista à jornalista Maria Lucia Rangel: “No fundo, eu achava engraçado ter ficado oito anos sem filmar no Brasil (o último filme que fez aqui foi O dragão da maldade contra o santo guerreiro, vencedor do prêmio de melhor direção em Cannes em 1969), e reaparecer no festival tanto tempo depois, disputando na categoria curta-metragem. Isto é bom, porque me apresento como um jovem cineasta do Terceiro Mundo, recomeçando um cinema que desapareceu nos fracassos dos anos 1960, e sem nenhum compromisso com a cultura cinematográfica e também com a cultura oficial que circula aqui no Brasil. Quando digo cultura oficial, não quero dizer cultura do Estado. É a cultura de uma intelectualidade que realmente oficializa e censura a manifestação artística no Brasil. O Di Cavalcanti é um filme marginal, apesar de ter sido, depois de filmado por mim, comprado pela Embrafilme, o que não tem nada de mais, porque vários filmes péssimos atualmente são financiados pela Embrafilme. De forma que, como a TV brasileira não iria adquirir meu filme, pois não obedece às leis de montagem, de som e de texto que dominam hoje a mediocridade dos documentários brasileiros…”. (Jornal do Brasil, 28 de maio de 1977).
Acreditamos que quando o cineasta se refere a “um filme marginal” esta postura se dá em relação às dificuldades das condições de produção e principalmente pelo fato do cineasta se sentir discriminado. A ideia de “recomeçar” com um curta-metragem está associada à ideia deste formato ser encarado como um “estágio” para o longa-metragem. Discordamos deste pensamento, predominante até hoje, acreditando que muitas das invocações estéticas da linguagem cinematográfica se dão justamente neste formato. O próprio movimento do Cinema Novo teve como marco dois curtas-metragens: Aruanda (1959), de Linduarte Noronha e Arraial do Cabo (1960), de Paulo César Saraceni.
Talvez nesta postura do cineasta de estar à margem é onde podemos compreender melhor esta aproximação com o Cinema Marginal. Uma pergunta a ser levantada é o porquê dos filmes marginais serem tão provocadores? Essa provocação se dá em relação à atitude agressiva com o espectador. Se o movimento do Cinema Novo buscava um espectador mais “ativo”[4], os cineastas do Cinema Marginal, por sua vez, elaboravam filmes voltados para um efeito de “incômodo” no espectador, questionando sua posição social e através do deboche e da agressividade.
Ambos iam contra a atitude passiva da plateia, porém no Cinema Novo se buscava, ao questionar a realidade, uma tomada de consciência do espectador que resultaria numa ação prática transformadora. A provocação em Di-Glauber está mais identificada com o estilo do Cinema Marginal do que com o estilo dos filmes do Cinema Novo: é a negação, é o deboche, é a agressividade que, de certa forma, está fadada a uma impossibilidade de ação.
Tomemos como exemplo a sequência em que o cineasta exibe a face cadavérica de Di Cavalcanti. Este plano de 40 segundos (bastante longo para a média de planos do filme) exibe uma panorâmica, em primeiro plano, que vai das flores do caixão do pintor até a sua face cadavérica, como um tom de narração bastante debochada. O texto narrado por Glauber Rocha ao som de uma transmissão radiofônica é de total provocação, de deboche, de ironia: “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Corta! Agora dá um close na cara dele. Barba por fazer, calça de brim azul marinho, casaco azul claro. Corta! [ ] Filmagem causa espanto e irrita filha de amigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Corta! Agora dá um close na cara dele. Barba por fazer, calça de brim azul marinho, casaco azul claro, camisa esporte quadriculada, sapatos marrom. O cineasta Glauber Rocha está parado ao lado do caixão de Di Cavalcanti no velório do Museu de Arte Moderna”.
A repetição do texto na narração é típica da estética marginal. O tom radiofônico em tom de paródia se aproxima muito da narração de O bandido da luz vermelha, desestabilizando[5] a imagem apresentada. A proximidade da câmera com o rosto de Di Cavalcanti, que segundo Glauber Rocha está sorrindo – é uma das cenas mais provocadoras do filme. A face cadavérica e a narração radiofônica transmitem o caos. É justamente esta imagem que compõe o cartaz do filme.
A provocação do filme de Glauber Rocha se dá justamente pela forma como o cineasta trabalha a morte. A morte, condição inacessível à inteligência humana, é a passagem de uma forma social a outra, ou seja, é uma transformação, no sentido de desaparecimento. O ritual de um enterro ou de um velório é o espaço de separação do morto deste mundo, e o seu transporte para outro mundo. É um lugar de respeito, pois o “desaparecimento” do morto provoca emoções que são expressas através da tristeza, do choro, do silêncio. O horror que um cadáver provoca na nossa sociedade é indescritível. Até mesmo profissões de “coveiro”, “papa-defuntos”, “agentes funerários” exercem uma repugnância nas sociedades.
Ora, voltando à imagem cadavérica do pintor Di Cavalcanti, podemos perceber que o cineasta ao aproximar a câmera do rosto do pintor, revelando suas narinas cheias de chumaços de algodão, invade/ultrapassa um espaço permitido aos rituais funerários da nossa sociedade. Se a imagem fosse exibida em silêncio, acreditamos que por si só já conteria uma ousadia do cineasta. Mas Glauber vai mais além: a aproximação da imagem se dá com uma narração radiofônica caótica, carregada de ironia e deboche. Desta forma a provocação em Di-Glauber pode ser atribuída ao desprezo, desrespeito, desonra e humilhação de como o cineasta trata o ritual da morte.
Uma constante dos filmes marginais é a inversão da ordem social, observada na atração pelo excêntrico e pelo desmedido. Assassinatos familiares podem ser observados em Matou a família e foi ao cinema e em Meteorango Kid. Ao subverter os valores de um ritual funerário da nossa sociedade, acreditamos que Di-Glauber também demonstra esta característica.
A narrativa marginal sacrifica o desenvolvimento linear da ação, com o alongamento dos planos até o seu limite, para se fixar demoradamente em um rosto, numa paisagem, em um berro, ou num vômito (Ramos, obra citada, p. 140). A sequência do plano da face cadavérica de Di Cavalcanti é bastante longa se compararmos ao restante do curta. O princípio de montagem utilizado por Glauber Rocha em Di-Glauber é chamado de “montagem nuclear” que significa “a qualidade está na quantidade”, ou seja, o filme é composto por excessivos 174 planos, muitos deles com duração de segundos ou frações de segundos. Justamente o contrário dos 40 segundos desta sequência tão polêmica.
Em relação à narrativa podemos afirmar que em Di-Glauber; assim como nos filmes marginais, é fragmentada. Utilizaremos como exemplo a sequência em que o ator Antônio Pitanga dança na frente dos quadros de Di Cavalcanti (planos 3 a 20). Com apenas 14 segundos de duração o cineasta nos apresenta 18 planos, entremeando a imagem de Pitanga, com imagens de quadros do pintor. A quantidade de informações deste pequeno trecho faz com que o espectador tenha um trabalho árduo, de extrema atenção no recolhimento de dados para a constituição da relação dos planos. Outro exemplo desta fragmentação pode ser encontrado, no último bloco do filme, no momento em que o cineasta lê a crítica de Frederico Morais sobre o pintor e a sua importância nas artes plásticas contemporânea:
“Di Cavalcanti, lírico, romântico, sensual, carioca principalmente, Frederico de Moraes. O Globo, Quarta-feira. Di nunca foi um realista. Emiliano Di Cavalcanti, que faleceu ontem, aos 79 anos, depois de longa enfermidade, não bastasse ter sido segundo o seu próprio… recentemente, aliás, se disse ah! Talvez Picasso, ah, talvez movimento, Di não se deixou talvez Gauguin os realizadores da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal… em São Paulo…”
A narração é caótica. As frases não têm fim, são incompreensíveis; o cineasta insere frases soltas, sem nexo e sem coerência impedindo a compreensão do espectador, ou seja, dificultando a “contemplação” do filme. Podemos também traçar um paralelo entre a atitude de Glauber Rocha como narrador e alguns personagens do Cinema Marginal no que diz respeito ao avacalhamento. O protagonista de Rogério Sganzerla em O bandido da luz vermelha tem como lema “quando a gente não pode fazer nada a gente avacalha…, avacalha e se esculhamba”; Lula, por sua vez, personagem de Meteorango Kid na sequência final do filme de André Luiz de Oliveira afirma: “que será de mim, de minha vida… que importa!”.
Em Di-Glauber esse avacalhamento se dá na sequência em que o ator Joel Barcellos juntamente com os parentes de Di Cavalcanti carrega o caixão em direção ao rabecão. Na locução Glauber Rocha em total deboche: “Di por Di, as vozes do túmulo, soa um gênio, sou um velho, uma guarda nacional; não encham meu saco!!!”
É uma postura bastante semelhante à postura dos personagens marginais. No plano descrito acima, também gostaríamos de comentar, a ironia e o deboche da presença do ator Joel Barcellos que carrega a alça do caixão de Di Cavalcanti, em posição de destaque, como se fosse um amigo íntimo da família. Um ritual funerário, na nossa sociedade, possui códigos e normas de conduta.
O antropólogo José Carlos Rodrigues afirma que no século XX, se deu uma transformação nas sociedades, cujo objetivo é a neutralização dos ritos funerários e a ocultação de tudo que diz respeito à morte: “Do individuo enlutado, espera-se que seja capaz de exibir sempre um rosto sereno, e não demonstrar dor transforma-se em signo de equilíbrio emocional. Analogamente, o luto é cada vez mais assunto de um número restrito de pessoas: ele privatiza, tocando somente os parentes muito próximos (quando não desaparece totalmente). (…) Os cortejos fúnebres são digeridos pela cidade. (…) Os automóveis se perdem no meio de todos os outros e o furgão se identifica cada vez menos como tal. Tudo se passa como se propositalmente se o quisesse ocultar, como se quisesse atrapalhar o menos possível os sobreviventes e seus trânsitos urbanos.” (José Carlos Rodrigues, Tabu da morte. p. 186-187).
O ator Joel Barcellos se comporta exatamente como Rodrigues descreve: seu ar é de serenidade, suas roupas são discretas, sua postura é de neutralidade. É, e não é! Se Barcellos fosse amigo de Di Cavalcanti, de fato ele estaria se comportando com a neutralidade esperada de um ritual de enterro. Acontece que o ator só estava ali a pedido do cineasta. O seu papel, então, muda completamente de figura: de serenidade passa a deboche, de discrição passa a ironia, de neutralidade passa a avacalho. De documentário passa para a ficção.
Em relação à postura do cineasta, nada vemos em comum com a descrição feita por Rodrigues. Glauber, segundo as matérias da imprensa e declarações no filme pelo próprio cineasta, fez um tremendo estardalhaço na filmagem durante o velório, subvertendo de forma debochada os padrões morais deste ritual. Um exemplo do comportamento do cineasta pode ser observado no plano 36 de Di-Glauber que mostra imagens do velório com o seguinte texto: “Agora dá uma panorâmica geral. Enquadra o caixão no centro. Depois começa a filmar da esquerda para a direita. Aqui, devagarinho. Vamos lá. Um, dois, três. Quando a contagem chegou a dez mandou parar. (narração radiofônica)… o artista morto, só terminaria uma hora e 23 minutos depois, junto ao túmulo no Cemitério São João Batista. Quando por solicitação da filha adotiva do pintor, Elizabeth, uma amiga da família pediu a Glauber para “parar com este espetáculo mórbido”, ele explicou: “não se preocupe, esta é a minha homenagem a um amigo que morreu. Estou aqui filmando a minha homenagem ao amigo Di Cavalcanti. Agora dá licença que eu preciso trabalhar”.
Mais uma vez a provocação de Glauber Rocha: o estardalhaço da filmagem e o comentário deste estardalhaço no próprio filme. De fato é uma provocação!
Rodrigues no trecho acima afirma que existe uma tentativa de neutralização dos rituais da morte, principalmente no que diz respeito ao luto. Porém isto não significa que não haja uma preocupação com o vestuário, mas sim que não há mais uma rigidez em ir de preto ao enterro, ou melhor, o preto fica restrito aos parentes mais próximos do morto. Em relação a isto podemos ressaltar as descrições feitas no filme em relação ao vestuário.
Em primeiro lugar, Glauber Rocha lê matéria de Edson Brenner em que este cita (plano 2) as roupas usadas pelo cineasta: “Barba por fazer, calça de brim azul marinho, casaco azul claro, camisa esporte quadriculada, sapatos marrom. O cineasta Glauber Rocha está parado ao lado do caixão de Di Cavalcanti no velório do Museu de Arte Moderna.”
Cita, mas não mostra. As imagens são do caixão e da face cadavérica do pintor. Num segundo momento (plano 36) Glauber lê em tom baixo: “Vestida de branco, turbante preto nos cabelos…” referindo-se à vestimenta da modelo Marina Montini, musa inspiradora de Di Cavalcanti. Montini se veste de branco a pedido do cineasta. Podemos concluir que apesar da “neutralização do luto” o traje ainda tem importância, tanto que o fato da modelo estar de branco causou certo constrangimento nos familiares. Mais uma vez vimos a provocação de Glauber Rocha.
É também na trilha sonora do filme que observamos uma atitude debochada e irônica, características da estética marginal, em Di-Glauber. A entrada de Marina Montini ao som de “o teu cabelo não nega, mulata” ironiza a nossa própria condição de subdesenvolvimento, o cinismo da sociedade que sente vergonha da população negra e o preconceito racial e a escravidão como uma vergonha nacional. Em O velório do Heitor a ironia de Glauber Rocha se dá na comparação do morto a um contraventor. Sem falar também nos ritmos das canções: carnaval e chorinho não combinam com velório e sepultamento.
Em Di-Glauber a carnavalização está presente o tempo todo. As diversas imagens de Antonio Pitanga dançando podem ser consideradas exemplos desta carnavalização (planos 3 a 20; 22 a 33 e 52). Para Celso Favaretto: “O carnaval caracteriza-se, sobretudo, pela inversão de hierarquias, através do exagero grotesco de personagens, fatos e clichês. Abole a distância entre o sagrado e o profano, entre o sublime e o insignificante, entre o cômico e o sério, entre o alto e o baixo etc., relativizando todos os valores. (…) O rito carnavalesco é ambivalente: é a festa do tempo destruidor e regenerador. Introduz no tempo cotidiano outro tempo, o de mistura de valores, de reversão de papéis sociais – tempo do disfarce e da confusão entre realidade e aparência. Provoca ações em que a intimidade é exteriorizada dramaticamente, contrariando a vida “normalizada”. (Celso Favaretto, Tropicália: alegoria, alegria. Kairós, p. 92).
Ora, encontramos o tempo todo no filme de Glauber Rocha as características acima: a confusão entre a realidade e aparência na presença do ator Joel Barcellos, o exagero grotesco da face cadavérica de Di Cavalcanti, a intimidade do morto revelada nos depoimentos de Glauber, o profano da paquera de Joel Barcellos no espaço sagrado do sepultamento, só para citar alguns exemplos.
Uma das cenas que achamos interessante comentar mais detalhadamente refere-se a do plano 91 de Di-Glauber. O lúdico no documentário aparece na troca de nomes dos cineastas Roberto Rosselini e Alberto Cavalcanti. Roberto rima com Alberto; Rosselini e Cavalcanti, palavras com quatro sílabas e ambas paroxítonas. Ainda neste plano gostaríamos de comentar as imagens que exibem matérias de jornais com manchete com os seguintes dizeres: “Glauber Rocha filmou tudo: o velório e o enterro. Mas foram poucos os amigos no adeus de Di Cavalcanti, sepultado ontem no Cemitério São João Batista. Agora, o pintor do Catete é só uma rua na Barra.”
Um tanto pejorativo para um documentário com o qual se pretende homenagear o pintor morto. Mais uma provocação do cineasta?
A alegoria, característica presente nos filmes marginais, também pode ser encontrada em Di-Glauber. Para Ismail Xavier a alegoria pode ser encarada como uma noção de referência dos filmes brasileiros do final da década de 60 (Alegorias do subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema Marginal. Brasiliense, p. 11) embora estes possuam uma enorme diversidade. E vai mais além: “O cinema, dado o seu caráter sintético, exige, na interpretação dos filmes, uma articulação que não pode desconsiderar nenhuma das duas dimensões da alegoria – a da narrativa e a da composição visual. No terreno da visualidade, em geral o estilo alegórico moderno é associado à descontinuidade, pluralidade de focos, colagem, fragmentação ou outros efeitos criados pela montagem “que se faz ver”. No entanto, veremos que o alegórico aqui pode se manifestar através de esquemas tradicionais como o emblema, a caricatura, a coleção de objetos que cerca a personagem, de modo a constituir uma ordem “cósmica” onde ele se insere.” (p. 14).
A alegoria pode ser exemplificada principalmente na sequência intitulada de “O reino dos espelhos”, onde o cineasta juntamente com Roberto Pires, Miguel Farias e Cacá Diegues prende num espelho uma série de objetos, recortes, bonecas, adereços e colagens. O mito de Orfeu e Eurídice ou de São Jorge e o Dragão também fazem parte desta alegoria. Glauber no texto distribuído por ocasião da estreia do filme procura explicar as metáforas em Di-Glauber:
“(…) No campo metafórico transpsicanalítico materializo a vitória de São Jorge sobre o Dragão. E, no caso de uma produção independente, por falta de tempo e dinheiro, e dada a “urgência” do “trabalho”, eu interpreto São Jorge (desdobrado em Joel Barcelos e Antonio Pitanga) e Di – o dragão. Mas curiosamente eu sou Orfeu Negro (Pitanga) e Marina Montini, dublemente Eurídice (musa de Di), é a Morte (…)”.[6]
A questão da estilização dos filmes marginais – em oposição a uma estética realista – podemos afirmar que mesmo Di-Glauber se tratando de um documentário se distancia, de certa forma, do parâmetro realista. A atitude irreverente, debochada, lúdica, carnavalesca, exagerada, por vezes grotesca, subverte a estética do documentário, se aproximando muito da estética do Cinema Marginal. A crença no mito da imagem verista do cinema documentário em Di-Glauber se apresenta num outro nível de discussão: o desrespeito com que o cineasta trata a morte do pintor famoso.
Resta-nos comentar os créditos finais do filme. São sujos, rabiscados, improvisados propositalmente, esculhambados, ou mesmo avacalhados. A câmera é nervosa, frenética, não para quieta. A leitura é dificultada pelo movimento incessante da câmera. É o único momento do filme, que ouvimos uma voz diferente da de Glauber Rocha que interpreta o pintor Di Cavalcanti. É a verdadeira estética do lixo!
Mesmo Di-Glauber sendo uma obra de cinema documentário, mesmo as declarações do cineasta contra o movimento do Cinema Marginal, mesmo o ano da produção (1977) sendo posterior ao dos filmes marginais gostaríamos de insistir na nossa hipótese de que o documentário em questão é depositário de uma estética marginal, por possuir os seguintes elementos característicos: a estilização, a alegoria, a carnavalização; a fragmentação narrativa percebida na “montagem nuclear”; procedimentos de agressão, vistos no deboche, na ironia, na paródia, no grotesco; a atitude agressiva e provocadora do cineasta com o espectador.
Apesar do nosso trabalho não ter como proposta a discussão da proibição da obra, considerada pela família como uma obra profana, também esperamos estar contribuindo para que discussões acerca do tema “direito da imagem” sejam repensadas. Certos de que a liberdade de expressão constitui elemento primordial de toda sociedade democrática, e certos da originalidade de Di-Glauber não só em relação ao cinema documentário, mas também na própria obra de Glauber Rocha, e na história do cinema brasileiro, esperamos estar contribuindo para o incremento desta discussão.
*Tetê Mattos é professora do Departamento de Artes da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Publicado originalmente na revista Cinemais n. 30, julho-agosto de 2001.
Notas
[1] O Globo, 02 de junho de 1981 (Arquivo Tempo Glauber).
[2] Fernão Ramos quando afirma que esta delimitação não deve ser tratada de forma excludente, está se referindo aos filmes cujas datas são bastante aproximadas do período por ele sugerido. É claro que encontraremos ao longo da história do cinema filmes com estéticas características de movimentos passados. Os curtas-metragens Polêmica (1998) de André Luiz Sampaio sobre o encontro dos músicos Noel Rosa e Wilson Batista e A hora vagabunda (1998) de Rafael Conde, que retrata um dia na vida de um jovem em conflito com a sua arte dialogam muito com a estética marginal.
[3] Fernão Ramos faz a análise do filme no seu livro Cinema Marginal (1968/1973): a representação em seu limite. Brasiliense, São Paulo, 1987.
[4] Tomás Gutierrez Alea discute o conceito de “espectador contemplativo”, como sendo aquele que não supera o nível passivo-contemplativo de um espetáculo, e “espectador ativo”, como sendo aquele que tomando como ponto de partida o momento de contemplação viva, acaba gerando um processo de compreensão crítica da realidade e uma ação prática transformadora. (Tomás Gutiérrez Alea, Dialética do espectador: seis ensaios do mais laureado cineasta cubano. Summus, São Paulo, 1984, “O espectador contemplativo e o espectador ativo”, página 48). Já o crítico José Carlos Avellar trabalha com os conceitos de “cinema de espectador” e, a partir dos filmes do Cinema Novo, “cinema de realizador”. (“Cinema e espectador” em Ismail Xavier [Organizador] O cinema no século. Imago editor, Rio de Janeiro, 1996, páginas 217 a 243).
[5] Em O bandido da luz vermelha a narração radiofônica desestabiliza o comentário em voz over do bandido: propagandas, anúncios de invasão de discos voadores descentram e minimizam os crimes do Bandido da Luz Vermelha.
[6] Não poderíamos deixar de citar o filme À meia-noite levarei sua alma (1964) de José Mojica Marins, onde o personagem Zé do Caixão, cruel coveiro e agente funerário, provocam terror numa cidade interiorana. Uma das seqüências célebres do filme refere-se ao desrespeito pelas tradições e rituais da sociedade quando Zé do Caixão come carne de carneiro em plena Sexta Feira Santa, quando uma procissão passa embaixo da sua janela. A propósito, José Mojica Marins é considerado um cineasta marginal.