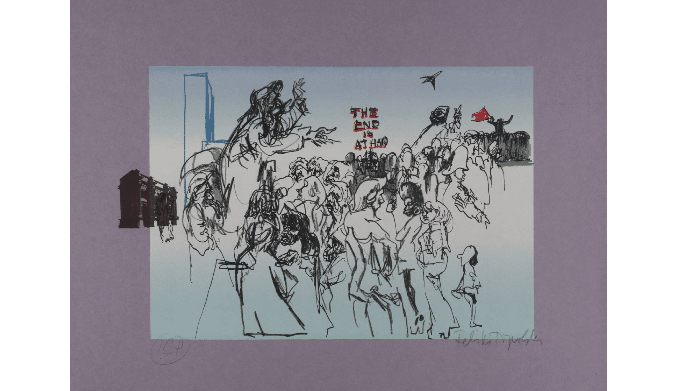Por PEDRO PAULO PIMENTA*
Introdução ao livro recém-editado de Denis Diderot
O materialismo biológico de Diderot
“O estudo da medicina e da fisiologia está para a metafísica como o da geometria está para o da lógica. Não há boa metafísica sem um conhecimento extenso das duas primeiras ciências e de seus diferentes ramos; não há boa lógica sem a aplicação direta do método e dos princípios da geometria” (Jacques-André Naigeon, Memória sobre a vida e a obra de Diderot, 1821).
1.
Qual o lugar de Diderot na história do pensamento biológico? Quando o filósofo morreu, em 1784, não existia a disciplina científica e acadêmica a que damos o nome de “biologia”. No espaço que depois seria ocupado por ela, encontramos uma pletora de saberes, reunidos sob a alcunha de história natural, e que, a essa altura do século, empenhavam-se em investigar os seres vivos utilizando os métodos e os princípios da filosofia natural de Newton.
Era possível ser newtoniano de diferentes maneiras, mas quase todas as pessoas que comungavam desse credo – dentre elas filósofas importantes, como a marquesa de Châtelet – tendiam a concordar que a grande contribuição do geômetra inglês para a filosofia é o método indutivo. Este consiste em chegar às leis gerais a partir da análise dos casos particulares, feita pela observação e confirmada pela experimentação.
O século XVII fora o dos grandes sistemas, que apregoavam a dedução das leis do mundo a partir de princípios universais e necessários encontrados na razão e exprimidos na língua da matemática (geometria analítica, cálculo algébrico). Os sistemas criados no século XVIII, a começar pelo do próprio Newton, exposto com elegância impecável no último livro dos Princípios matemáticos de filosofia natural (1679), têm outro feitio. O universal dá lugar ao geral, e o método substitui a mathesis –em cada ciência, a generalização deve respeitar as particularidades constitutivas da classe de objetos de que ela se ocupa.
A história natural não se parece muito com o que entendemos hoje por ciência, assemelhando-se mais a uma arte – na qual os melhores resultados são produzidos pelos homens mais talentosos (no período que nos interessa, não há mulheres naturalistas de vulto). A análise dos fenômenos fisiológicos nem sempre corrobora as generalizações previamente estabelecidas pelos naturalistas, introduzindo exceções que não raro levam à revisão de teses até há pouco tidas como certas.
Domínio da verdade provisória, a história natural vai acumulando, entre 1749, com Buffon, e 1859, com Darwin, conhecimentos cada vez mais ricos e preciosos, que, no entanto, parecem resistir à sistematização definitiva. Não por acaso, a síntese da Origem das espécies é produto de um golpe de gênio – a aplicação, sem mais, do modelo político-econômico da escassez ao reino da natureza, por definição estranho à economia política – e prescinde inteiramente do conhecimento do mais importante, as leis de transmissão dos caracteres adquiridos no decorrer do processo de seleção natural.
Diderot não ficaria espantado com esse evento tão inusitado na história do conhecimento da vida. Em 1753, ele publica um panfleto intitulado Pensamentos sobre a interpretação da natureza, no qual defende que, enquanto a geometria e a álgebra são ciências cultivadas por homens talentosos e estudiosos, a história natural é província do gênio, que adivinha a verdade da natureza por trás do “véu” com que ela insiste em se furtar ao observador desavisado. Pensava, sem dúvida, nos inúmeros achados dos tratados biológicos de Aristóteles, esse monumento até hoje inigualado, se pensarmos que foi erguido sobre os alicerces de uma física que quase nos parece de outro mundo.
Mas pensava também em Maupertuis, que na Vênus física (1753) esboça uma teoria da geração e da reprodução a partir de um esquema puramente formal de manutenção dos caracteres específicos nas sucessivas gerações de indivíduos, e em Buffon, que, recusando a via da classificação taxonômica, proposta por Lineu, que conduz do sexo das plantas à existência de Deus, punha o acento na desproporção entre o entendimento humano, com sua ânsia de estabilidade, e o fluxo constante de uma natureza que parece não conhecer nenhum limite. Literalmente perdido no mundo, o homem se põe em seu centro por conveniência metodológica, que lhe permite instituir uma ordem, uma hierarquia, e, logo, uma inteligibilidade que depende unicamente dessa ficção de que haveria um centro, que seria ocupado pela sua espécie.
Esse recurso um pouco desesperado, e, convenhamos, bastante precário, é a consequência necessária do abandono do postulado da centralidade humana garantido pelo Antigo Testamento e por inúmeras outras mitologias, inclusive as que não são de extração semítica. Discretamente, a partir de 1753-54, a história natural se torna uma disciplina ateia, que dispensa a ideia de uma divindade e muitas vezes chega mesmo a contestá-la. Para Diderot, tudo o que é necessário ao conhecimento dos seres vivos é a ideia de um arquétipo geral das formas orgânicas, a partir do qual derivam, por combinação ao acaso, embora constante, protótipos de espécies e, a partir destes, os indivíduos.
Adotado pelos anatomistas, esse recurso metodológico substitui a metafísica da criação. É verdade que uma tensão permanece. Buffon se vê obrigado, por recomendação de amigos censores, a temperar seu ateísmo e a mencionar, sempre que oportuno, um Deus, é verdade que bastante exíguo, nas páginas de sua História natural. O próprio Darwin se enreda nessa teia, declarando a existência de um criador que parece ter um gosto peculiar pelas soluções complicadas e imperfeitas, tendo em vista os resultados altamente insatisfatórios da seleção natural – quando comparados, por exemplo, à perfeição matemática das leis da física.
Mais uma vez, Diderot percebeu o mais importante, quando declarou, em carta a Voltaire datada de 1758, que o império da geometria está em vias de ser contestado pelos naturalistas – que dispensam o uso da matemática como crivo último do que é ou não ciência. A ousadia e a insolência desse diagnóstico se explicam, ao menos em parte, pelo discernimento de que a crença nas verdades geométricas, de resto amparada pela razão em seu uso mais saudável, é a derradeira morada da teologia. Como poderia haver uma ordem perfeita sem uma inteligência perfeita?
Apenas no século XXI é que os arautos da matematização começam a se dar conta desse problema, empenhando-se, inclusive, em dar à teoria da evolução uma roupagem matemática que não a comprometa com uma teologia disfarçada. Note-se o seguinte: falar em “relojoeiro cego” é insistir na ideia do artífice, ainda que pela via negativa, privilegiando-se a visão. Mas basta ler a Carta sobre os cegos para uso dos que veem para se dar conta, nos passos de Diderot, de que a visão é, precisamente, o sentido da ilusão metafísica, sendo a cegueira um privilégio que conduz ao conhecimento da inexistência de um artífice. Ordem sem sentido, regularidade sem necessidade, sistema sem perfeição: tais são os contrassensos metafísicos que a história natural impõe ao século XVIII, e que continuam a desafiar nosso senso comum (científico e filosófico, inclusive).
2.
Os três escritos aqui reunidos expõem o cerne do pensamento biológico de Diderot. Seria um desacerto buscar em suas páginas um avanço em relação às teorias correntes na época ou, pior, a prefiguração do que, visto retrospectivamente, estaria por vir (mas poderia não ter vindo). Para tirar proveito da leitura, é preciso pôr de lado, por um instante, o que sabemos ou pensamos saber sobre o desenvolvimento da biologia como ciência. O pensamento filosófico de Diderot se desenvolveu a partir de uma lógica própria e tem uma dinâmica reflexiva interna, que o autor faz questão de deixar muito clara em cada uma das peças que escreveu.
Os Princípios, o Sonho e os Elementos pertencem a um período, que começa em 1768, no qual Diderot, desembaraçado das obrigações que havia vinte anos o prendiam à edição da Enciclopédia, pode, enfim, retomar o projeto de uma filosofia da natureza, tal como esboçado na já mencionada Interpretação, de 1753. Com uma diferença importante, pois, agora, ele pode contar com aliados – os médicos e fisiologistas da Escola de Montpellier –que embasam a ideia de que toda a matéria é dotada de sensibilidade, e, portanto, de que a diferença entre o vivo e o inerte é de grau, e não de gênero.
Esses fisiologistas, Théophile de Bordeu à frente, contribuem com dezenas de verbetes da Enciclopédia, nos quais a investigação dos fenômenos vitais é realizada em conformidade ao preceito newtoniano, com prioridade para a observação: o que o médico vê e sente no seu paciente obriga-o a pensar leis gerais para fenômenos aparentemente desconexos, obtendo uma representação coerente do ser vivo, ou do organismo.
Isso obriga uma revisão gramatical, pois, até então, vigorara no século, via de regra, a metáfora do ser vivo como máquina (pensemos no cérebro como computador, processador etc.). A origem dessa figuração é cartesiana, e depende, com efeito, do postulado metafísico, que Descartes se empenha em demonstrar, da existência de duas substâncias, a alma espiritual e inextensa, e o corpo, extenso e material. Elas se combinam na joia da criação, o homem, de uma maneira tal que não se encontra em nenhum outro ser vivo – todo o resto são autômatos, ou puras máquinas. Estamos simplificando uma história bem mais rica, mas é o suficiente para o que nos interessa aqui.
Pois, em 1768, quando Diderot começa a escrever os três diálogos que compõem a peça central deste volume – O sonho de d’Alembert –, muita gente já percebeu que a teoria cartesiana não resiste à observação de alguns fatos triviais, dentre os quais a presença de sensibilidade, sentimento e razão em outros animais que não os humanos, o que sugere fortemente a inutilidade da ideia de alma para a fisiologia. Se é verdade, como quer Descartes, que os animais não têm alma, e se, como tudo indica, eles raciocinam, melhor inferir, em nome da parcimônia, que o animal humano não precisa de alma para raciocinar.
Esse pequeno sofisma não é proposto por Diderot em nenhuma parte, mesmo porque a primeira conversa entre dois personagens – “Diderot” e “d’Alembert” – começa em trono de um “ponto” misterioso de matéria a partir do qual se desenvolvem todas as propriedades do ser pensante, inclusive desse ilustre geômetra que foi também, durante um tempo, coeditor da Enciclopédia, ao lado de Diderot. Cai o dualismo, e a ideia de máquina tem de ser revista. Diderot escreve a torto e a direito, inclusive nas páginas aqui traduzidas, que o animal é uma máquina, que o corpo humano é uma máquina, e assim por diante. Mas pensa no que ele chama de máquina natural ou máquina orgânica: não tanto um produto técnico fabricado por uma inteligência quanto um sistema organizado de tal maneira que cada uma das partes se refere às demais, formando um todo, que se reproduz e que, ao fazê-lo, varia de aspecto sem, no entanto, perder a forma fundamental.
Estamos, alguém diria, a um passo de Darwin, mas não cedamos a essa doce tentação. Algo ainda mais saboroso nos aguarda. A variação, tal como pensada por Diderot, a transformação da matéria organizada, é uma ideia poética, que ele colhe junto a Virgílio, a Horácio, a Lucrécio, mas, principalmente, ao Ovídio das Metamorfoses. O ser vivo do Sonho de d’Alembert é um paradoxo encantador, aranha que se tece a si mesma, enxame de abelhas, cacho de uvas, crisálida que voa sem direção nem destino.
Em constante transformação, a Natureza é fluxo, e a forma é ilusão – a relatividade da vida e da morte, a transitoriedade das espécies, a ausência de sentido, a força de uma sensibilidade eterna e onipotente, que se põe e se renova sem nenhuma intenção e que vai deixando, no rastro desse processo terrível, uma benesse incomparável: o prazer que todo ser vivo tem de desfrutar de uma sensibilidade que cada um sente como sua (o seu “eu”, dirá a filosofia moral, cometendo um abuso – justificável –de palavras).
3.
Talvez o efeito mais curioso dos escritos “biológicos” de Diderot aqui reunidos seja a impressão de alucinação que eles provocam no leitor. Élisabeth de Fontenay cunhou a expressão “materialismo encantado” para se referir a esse efeito: uma doutrina que não esclarece muita coisa, mas, em compensação, desperta e anima uma reflexão que, de tão intensa e prazerosa, funciona como o atestado da sua pertinência. O efeito alucinatório é dissimulado, nos Elementos de fisiologia, pelo ar sisudo da exposição – o que não é suficiente para conter a irrupção, em numerosas passagens, de um registro aforismático que, decididamente, põe Diderot na companhia dos irmãos Schlegel.
No Sonho de d’Alembert, a cabeça do leitor oscila desde a apresentação dos personagens, todos eles calcados em figuras reais, ainda vivas na época da composição: “d’Alembert” e “Diderot”, o “Dr. Bordeu” já mencionado e “Julie de l’Espinasse”, amiga íntima do geômetra. Não é este o lugar para dissecar a estrutura da ação, de resto evidente desde a primeira leitura. Mas gostaríamos de mencionar alguns elementos que a tornam especialmente interessante; a começar pela desavença entre Diderot, o materialista, e d’Alembert, o cético, passando pela agilidade das trocas entre Bordeu e Julie, até as sugestões maliciosas que, ao longo das conversas, vão sugerindo que a reprodução e o gozo ligado a ela são o motor da Natureza em constante e eterno movimento.
Tudo se passa como se, nesse teatro de claro e escuro, a fabulação sobre a ordem levasse à celebração da libertinagem – sexual, por certo, mas também, e principalmente, intelectual. Convém não esquecer, o pensamento, excretado pelo cérebro, é tão físico quanto qualquer outro produto dos processos fisiológicos do corpo animal. Deliberadamente infiel aos modelos reais, inclusive a si mesmo, Diderot imortaliza essas pessoas ao transformá-las em personagens difíceis de esquecer, e cuja companhia relutamos em abandonar. Mas não há problema: o, Sonho de d’Alembert, escrito tão desconcertante quanto elegante, é dessas obras que o leitor frequenta com proveito, descobrindo algo novo e inesperado a cada vez.
4.
Os escritos que formam este volume foram publicados postumamente, os Princípios em 1798, o Sonho em 1823, os Elementos de fisiologia em 1875. Unidos por uma temática em comum, diferem consideravelmente quanto à forma e ao estilo. Os Princípios têm a aparência de um pequeno tratado filosófico; os diálogos do Sonho são estruturados à maneira dos atos de um drama; os Elementos, obra inacabada, oferecem a propedêutica filosófica para uma nova ciência. O agrupamento entre eles, jamais sugerido por Diderot, foi adotado por Dieckmann e Varloot no volume 17 das Obras completas, que serviu de base às presentes traduções (Paris: Hermann, 1987). Como se espera de um escritor de seu porte, Diderot varia o estilo conforme as exigências de cada um desses gêneros, dominando com maestria a demonstração, a conversação e a dogmática.
Mas essa unidade tem algo de provisório, e não deve fechar, aos nossos olhos, as aberturas desses escritos para outros, compostos no mesmo período, e também publicados postumamente. Embora não lidem diretamente com isso que estamos chamando de filosofia da natureza, obras como O sobrinho de Rameau, Suplemento à viagem de Bougainville, Jacques, o Fatalista e Paradoxo do comediante são em alguma medida indispensáveis, se quisermos ter uma ideia justa do escopo em que o Sonho se insere, trazendo consigo e justificando a existência dos Princípios e dos Elementos – peças que não teriam o mesmo interesse sem o tríptico de diálogos que as liga entre si.
Em todo caso, temos aí, nesses grandes textos de maturidade, o testemunho da envergadura de Diderot como filósofo e como escritor. Nas placas que sinalizam o boulevard Diderot em Paris, ele é dito “filósofo”, à diferença de Voltaire, que, em seu boulevard, é nomeado “escritor”. Qualquer um que tenha se dedicado à difícil tarefa de vertê-lo fielmente a partir do francês sabe que essas duas ocupações eram, para ele, como, de resto, também para Voltaire, inseparáveis. As traduções que se seguem foram realizadas com a intenção de trazer para nossa língua senão toda ao menos uma boa parte da leveza, da agilidade e do gênio filosófico desse autor incomparável.
Dirigindo-se a nós sem ter a intenção de fazê-lo, pronunciando-se a partir de um século, de uma época cada vez mais estranha à nossa, Diderot, filósofo da natureza, é portador de um segredo que nos interessa conhecer. Para haver biologia, foi preciso antes haver materialismo – não como uma ontologia alternativa às existentes, mas como ponto de vista da enunciação do “real”: da sua realização no discurso.
*Pedro Paulo Pimenta é professor no Departamento de Filosofia da USP. Autor, entre outros livros, de A trama da natureza: organismo e finalidade na época da Ilustração (Unesp).
Referência
Denis Diderot. O sonho de d’Alembert e outros escritos. Organização: Pedro Paulo Pimenta. Tradução: Maria das Graças de Souza. São Paulo, Unesp, 2023, 316 págs (https://amzn.to/3OSKaXI).
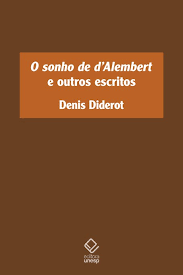
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA