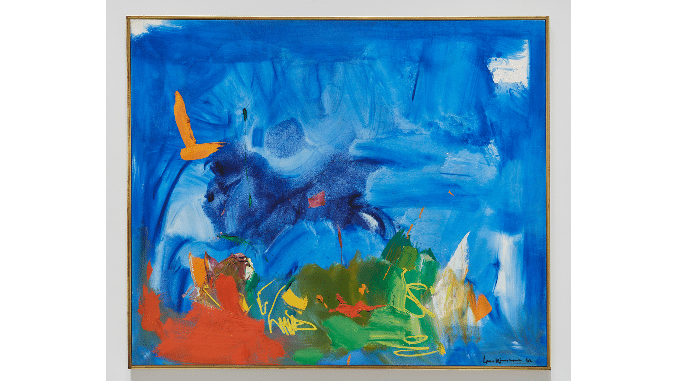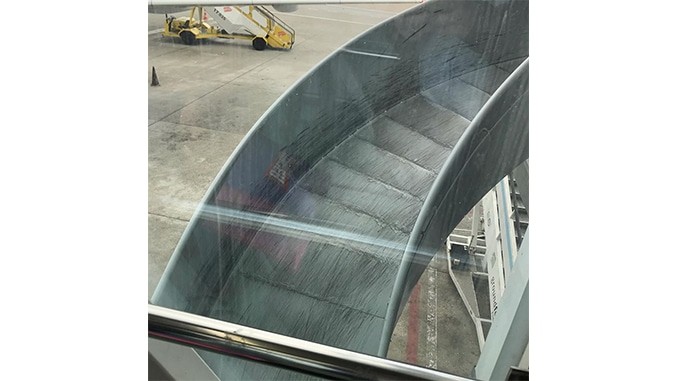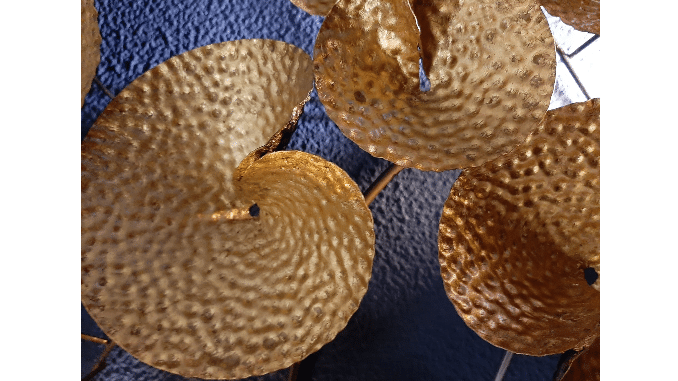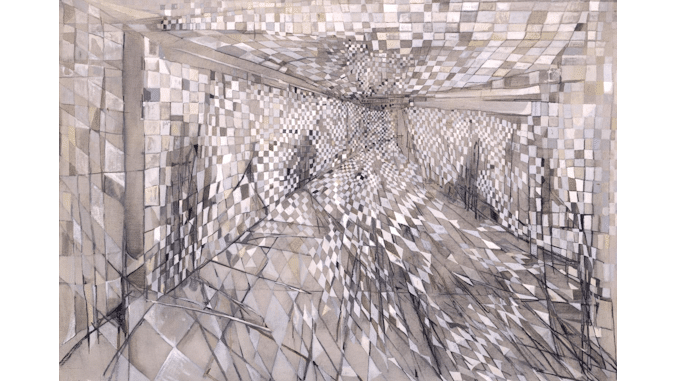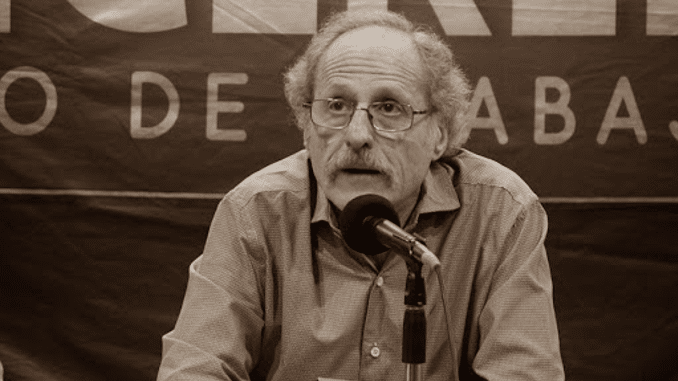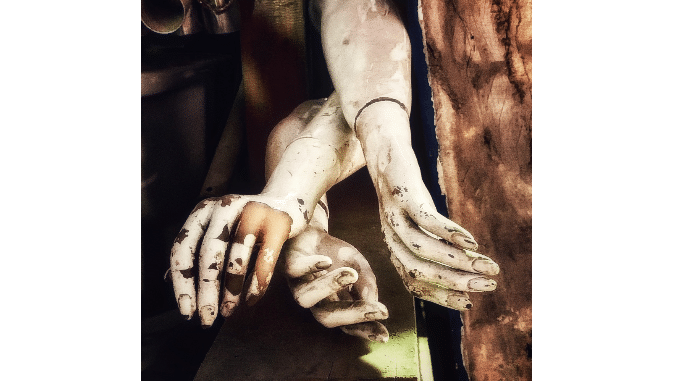Por GEO BRITTO*
Depoimento inserido no livro recém-lançado, organizado por Fabiana Comparato e Julián Boal.
A ideia de Boal era virar vereador sem abandonar o teatro. Ou melhor, queria levar sua trupe para dentro da Câmara de Vereadores. E assim nasce o Teatro Legislativo já em campanha com o grupo do Centro de Teatro do Oprimido (CTO), nós. Não tínhamos recursos e nossa campanha contava sobretudo com as conexões preexistentes do CTO e suas práticas. Eu me juntei ao CTO em 1990. O centro, no entanto, existia no Rio de Janeiro desde 1986, e até 1992, ano da campanha, passou por diversos momentos de instabilidade, inclusive pelo fato de não ter uma sede fixa.
Mas o grupo nunca abandonou seu próprio trabalho de base e com parcerias, como, por exemplo, com o sindicato dos bancários, dos professores, e prefeituras progressistas da época. Além disso, havia também a notoriedade de Boal como figura reconhecida do teatro brasileiro. Ou seja, mesmo sem financiamento, a campanha já contava com uma rede ampla de pessoas das mais diversas áreas, de sindicalistas a estudantes, professores, trabalhadores da cultura, artistas etc. Mas um fator importante, e talvez até determinante para o alcance da nossa campanha tão desprovida de recursos, foram as manifestações pelo impeachment do presidente Fernando Collor em 1992, que antecederam o período de campanha para as eleições municipais.
Hoje a estetização das manifestações é um fenômeno corriqueiro, mas na época era inédito. Não havia uma organização de grupos no sentido de estetizar a rua. Em geral ia-se à rua, junto de um grupo, com bandeiras e faixas, mas sem uma imagem trabalhada. Nós do CTO fomos um dos primeiros grupos a teatralizar as manifestações, para além dos grupos de estudantes que ficaram conhecidos como os cara-pintadas. Criávamos cenas e músicas sobre as questões políticas em pauta que faziam muito barulho, chamavam atenção, chegando até a ganhar espaço na mídia. O que fez também com que agregássemos novas pessoas, pois unia o prazer em fazer teatro ao sair às ruas e se manifestar.
No mais, a redemocratização era recente e as expressões de desgaste com o sistema político e o processo eleitoral eram ainda muito pequenas. Na esteira da tão sonhada abertura política, pós-ditadura, votar ainda gerava entusiasmo, havia esperança no processo eleitoral. Boal não era um homem do partido, mas o Partido dos Trabalhadores (PT) representava então a força da esquerda e a campanha da então candidata à prefeitura, Benedita da Silva, cresceu muito, mesmo apesar do grande racismo que sofreu. Tínhamos tudo isso ao nosso favor.
Realizávamos também muitas atividades nas universidades, a mobilização estudantil era forte. Muitas vezes criávamos cenas e músicas para as atividades de campanha da Benedita, e, quando convidados, fazíamos visitas pontuais a determinadas comunidades. Além desse trânsito pelos diferentes territórios, que buscávamos das formas possíveis, nossa campanha não possuía eixo temático (algo que era vantagem, mas por outra ótica talvez desvantagem). Tendo a cultura um teor transversal e considerando a própria essência do Teatro do Oprimido – de debater todas as formas de opressão –, as temáticas eram múltiplas.
Ao contrário do que outras campanhas faziam, invariavelmente focando em áreas de atuação específicas, como muito ouvíamos falar no “candidato da educação” ou no “candidato da saúde”, as questões abordadas por nossa campanha e que seguiriam mandato adentro eram as que se revelavam nos encontros, e passavam por saúde, educação, direitos humanos, moradia, racismo, homofobia, preconceitos etc. Inclusive, em retrospecto, penso que poderíamos ter lutado mais no front das políticas públicas para a cultura. Aprofundando no debate do setor como, por exemplo, o da criação de um fundo municipal de cultura. O que não nos faltava era autoridade e capacidade de mobilização para organizar um debate nesse sentido. Mas o fato é que um único mandato, principalmente sendo este pautado pela participação direta, não teria como abarcar todos os debates.
Uma observação interessante, que talvez reflita esse caráter múltiplo da campanha não só em relação a temas, mas a formas de ganhar a cidade, foi a distribuição dos votos de Boal. Sua militância e sobretudo o trabalho de base realizado em campanha, capitaneado por sua teoria teatral do Teatro do Oprimido, se refletiu diretamente na capilaridade de seus votos, que estavam distribuídos um pouco em cada canto da cidade, e não concentrados na Zona Sul, como muitos poderiam imaginar.
Vencemos as eleições com a proposta central de um mandato que faria política através do teatro. Nosso lema era: a democratização da política através do teatro. Aqui nasce o mandato político-teatral de Augusto Boal. E é importante destacar que, quando falávamos de política, era política também no sentido formal da palavra. Ou seja, da política como ofício do mandato, na atuação do vereador.
Nosso desafio era como democratizar essa gaiola de ouro, que são os espaços formais de política e seus atores. Era difícil encontrar naquela época cidadão comum que sequer havia adentrado um desses espaços, como a ALERJ (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) ou a Câmara Municipal. Em outras palavras, democratizar inclusive o acesso às estruturas, abrindo para a população o que acontecia ali dentro, mesmo que nosso foco fosse para além desses espaços.
A estratégia do mandato partia da criação de núcleos temáticos ou regionais, em localidades nas quais já tínhamos ou éramos convidados a construir contato. Chegávamos com o elenco do CTO já apresentando uma cena. Uma única kombi nos levava para todos os lugares, junto com os cenários, figurinos e tudo o mais necessário para montar uma apresentação teatral mesmo onde não havia palco. Tudo era simples e leve. Divisórias de palco e “camarins” feitos de estrutura tubular rudimentar com panos e lonas. O suficiente para criarmos um espaço estético. A montagem do espaço cênico iniciava o processo de aproximação, chamando a atenção das pessoas para o que iria acontecer ali. Um espaço mágico criado em locais onde muitas vezes as pessoas sequer tinham ido ao teatro ou visto uma peça.
Nossa intenção primeira era a de demonstrar como poderíamos levar as questões locais para outras esferas através da própria ferramenta teatral, potencialmente até criando leis. Mas, apesar do teatro ser libertador, sozinho não faz nada. Não faz parte do conceito do Teatro do Oprimido cair de paraquedas num espaço social, por isso a necessidade primeira de interlocução com algum grupo, associação ou movimento social ou comunitário. Chegar com o teatro em uma comunidade é como entrar na casa do outro, e há que se fazer com respeito. A ideia nunca era criar um grupo do vazio; ou seja, o Teatro Legislativo, através das práticas do Teatro do Oprimido, vinha para somar forças aos movimentos locais existentes, com o intuito de expansão.
E ainda não podemos perder de vista o fato de este ser um processo atravessado pela política formal, ou seja, ter a incidência de um partido político, mesmo que não participássemos de um mandato convencional. Por um lado, essa presença política nos oferecia estrutura, mas também resistência no trabalho de base, mesmo que na época a visão em relação ao PT fosse outra, menos crítica que a de hoje. Procurávamos ultrapassar a resistência deixando absolutamente claro que ninguém do núcleo precisaria se filiar a qualquer partido político. E sempre fomos muito bem recebidos.
A imagem normalmente associada aos vereadores era a de uma figura que distribuía camisetas, dentaduras, mas não a nossa. O teatro não chegava como ameaça. Inclusive, nem sempre os participantes dos núcleos eram necessariamente progressistas. Muitas vezes lidávamos com indivíduos conservadores e reacionários. Mas isso também fazia parte do processo inerente ao Teatro do Oprimido, sensibilizar através da construção de cenas as questões relatadas pela comunidade. Ou seja, o trabalho de criação dos núcleos era de aproximação, mobilização e, acima de tudo, articulação e conscientização.
Sempre buscávamos conexões possíveis para cada grupo. No caso da saúde mental, por exemplo, além da criação de cenas e debates com o núcleo, promovíamos apresentações em universidades, mas também em escolas para desestigmatizar o tema. Na época, em parceria com o Instituto Franco Basaglia e a Casa das Palmeiras,[1] pesquisamos a Lei Orgânica do Município na área de saúde mental e descobrimos que era um Frankenstein, possuía desde lobotomia até questões mais progressistas. Então nos conectamos com a luta antimanicomial e com os movimentos da reforma psiquiátrica para entender como alterar a legislação.
A ideia, sobretudo, era criar conexões não só temáticas, mas de ampliação dos territórios. Por exemplo: supondo que criássemos uma peça sobre violência doméstica junto com uma determinada comunidade. A cena poderia ter sido desenvolvida através de uma experiência específica daquela favela, mas perpassava a questão de gênero de mulheres de toda a cidade. Havia ali possibilidades de conexão que são fundamentais para que uma transformação maior se dê e que não aconteceria apenas através de um núcleo pequeno. Era necessário avançar e ampliar as questões nesse sentido. Muitas vezes até rompendo os muros dos próprios movimentos, que com frequência se fechavam e não buscavam diálogo.
Esse trabalho em essência era o que chamávamos de “rede de solidariedade” – apresentações conjuntas que criavam um canal de encontro entre diferentes lutas. Como, por exemplo, um grupo de negros se apresentando junto com um grupo LGBT. O que há de comum nas opressões raciais e homofóbicas? Quem é o opressor nesses casos? Muitas vezes trata-se de um opressor semelhante. Como Boal com humor colocava, muitas vezes esse opressor “saía do mesmo quartel-general”. E, proporcionando esse tipo de aproximação, é possível expandir a visão acerca das muitas opressões sendo vivenciadas por grupos não próximos, mas que tinham em comum experiências de opressão. Demonstrando que não existe hierarquia de opressões, elas são multifacetadas e atuam em diferentes campos, com frequência até transversais.
A “Câmara na Praça” também era mais um instrumento que nos auxiliava a levar temáticas complexas para fora da casa legislativa e de conectá-la com a população. Para essa sensibilização dos temas, muitas vezes levávamos outros vereadores para fora da Câmara. Com frequência a “Câmara na Praça” acontecia logo ali em frente à casa legislativa mesmo, na praça da Cinelândia, juntávamos vereadores e a população para debater projetos em conjunto. E chegávamos a ter um público cativo de população de rua que nos cobrava quando não tinha apresentação teatral.
Iniciamos o trabalho do Teatro Legislativo com um grupo relativamente grande de vinte, trinta pessoas que foi se afunilando até chegarmos ao grupo de seis pessoas (Bárbara Santos, Claudete Félix, Helen Sarapeck, Maura de Souza, Olivar Bendelak e eu), que permaneceu junto nessa travessia de quatro anos do mandato. Os núcleos eram formados de cidadãos, militantes, não de atores profissionais contratados. Com isso os encontros se davam em horários diversos, quando era possível para as pessoas, à noite, nos finais de semana. Um trabalho militante.
Ainda havia os chamados “incêndios” que, como o nome indica, eram as situações não previstas que demandavam nossa ação imediata. Como uma rápida resposta a uma denúncia de racismo, por exemplo. E que envolvia criar rapidamente uma peça sobre o assunto e apresentá-la no local onde ocorrera o incidente, como forma de protesto. Muito no ritmo do que acontecia no CPC (Centro Popular de Cultura) dos anos 1960. Hoje essas estratégias podem não parecer mais tão novas, mas na época esse tipo de prática era rara, se não inexistente. Assim como a própria relação do mandato com as comunidades, as favelas. Diferente de hoje, na época eram poucas as organizações, inclusive não governamentais, que atuavam diretamente nos territórios e/ou principalmente utilizavam arte e cultura como instrumento de atuação.
O foco nas conexões fez com que participássemos de um mandato de vereador, talvez o único, com ação até fora do nosso próprio município. Naquela época o MST do Rio de Janeiro ainda era um pouco incipiente como organização, então criamos um núcleo no assentamento mais próximo, o Sol da Manhã, em Seropédica, grupo muito emocionante. Numa visão pragmática da política eleitoreira, não fazia sentido criar um núcleo e engendrar esforços que extrapolassem as fronteiras do município que o mandato representava. Mas não para nós, porque, além de tudo, o grupo vinha se apresentar na Zona Sul da cidade.
Imaginem, naquela época, o Movimento Sem Terra fazendo uma apresentação teatral na praia de Ipanema. Tratava-se da promoção do debate político, para além do pragmatismo de resultados imediatos. Esse é um aspecto importante sobre o Teatro Legislativo, ele não se extingue em seu arcabouço jurídico, ou seja, não se limita a ser só um facilitador de leis. Como dizia Luiz Eduardo Greenhalgh, “a luta faz a lei”. Ou seja, o projeto de lei apresentado, a lei promulgada, não é oriunda de uma cabeça individual, mas de um debate político amplo de luta social.
Indo além, o Teatro Legislativo tampouco se encerra em fazer a lei, a experiência envolve acompanhar a execução da lei e em denunciar outras leis que não correspondem às necessidades da população. Fazer Teatro Legislativo não é só fazer leis, mas construir um processo político de debate e questionamento de injustiças através do teatro. Podendo ser, por exemplo, uma ação político-teatral denunciando uma opressão, e mobilizando parceiros e movimentos sociais para lutar nessa frente.
E para tal a comunicação com a população era um compromisso, que acontecia também através da nossa mala direta. Distribuíamos com determinada periodicidade nosso boletim, o Boca no Trombone, para todos interessados em recebê-lo, cujos endereços eram recolhidos durante os eventos, nos núcleos, nas apresentações, mobilizações etc. Não se tratava de um comunicado panfletário, relatando apenas os feitos do mandato, pois havia na comunicação algo de contação de história com certo humor, no melhor estilo Boal, uma “contação” dos processos e debates do mandato naquele dado momento. Éramos uma novidade mesmo dentro do partido, dentro da esquerda. E por vezes enfrentávamos resistência tanto dentro quanto fora do partido, nem sempre éramos levados a sério por conta da nossa forma e da nossa estética.
Muito do que fizemos seria, ainda hoje, de certa forma, uma inovação. Não uma novidade por completo, dado que já foi feito. Principalmente no que tange à nossa proposta de inserção estética na política. Mas, do ponto de vista da conexão com a política formal, partidária, essas técnicas ainda são subaproveitadas. Ainda hoje é um processo estimulante e que não se exauriu. Não éramos políticos de carreira, nosso objetivo primeiro não era a arrecadação de votos. Ouvir, por exemplo, Boal pronunciar na primeira campanha as palavras “vote em mim” chegava a ser difícil. Mas isso também fez com que esse mandato único não enxergasse em seu processo a sua própria possibilidade de continuidade.
Acabou sendo um mandato-piloto, durante o qual as ferramentas eram ao mesmo tempo desenvolvidas e colocadas em prática. Ou seja, os instrumentos permanecem novos, porque o Teatro do Oprimido oferece essa ferramenta que é essencialmente participativa, esse chamado à participação. O mandato de Augusto Boal foi uma experiência única, mas não é a única experiência possível, muitas outras podem ser criadas. Há definitivamente muito a ser explorado e criado seguindo o caminho do Teatro Legislativo, ainda mais nos dias de hoje, quando a luta de classes se encontra escancarada e há uma radical disputa por corações, mentes e corpos. Acredito que a ação cultural e teatral pode ser muito valiosa neste momento em que estamos perdendo de goleada.
*Geo Britto é mestre em Estudos Contemporâneos das Artes pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e membro de Centro de Teatro do Oprimido (CTO) desde 1990. Atualmente é diretor artístico da Escola de Teatro Popular (ETP).
Depoimento a partir de entrevista feita em maio de 2020, por Fabiana Comparato.
Referência
Augusto Boal. Teatro Legislativo. Organização: Fabiana Comparato e Julián Boal. São Paulo, Editora 34, 2020, 256 págs.
Nota
[1] O Instituto Franco Basaglia (IFB), que já não está mais em operação, foi uma instituição civil sem fins lucrativos de atuação na área da saúde mental de papel importante na reforma psiquiátrica no Brasil. A Casa das Palmeiras, outra instituição sem fins lucrativos, criada por Nise da Silveira a partir de suas práticas em 1956, ainda mantém suas atividades no atendimento de pacientes, além de ser um espaço de estudo e formação. As duas instituições foram muito importantes para a mudança de paradigma na atenção à saúde mental no país.