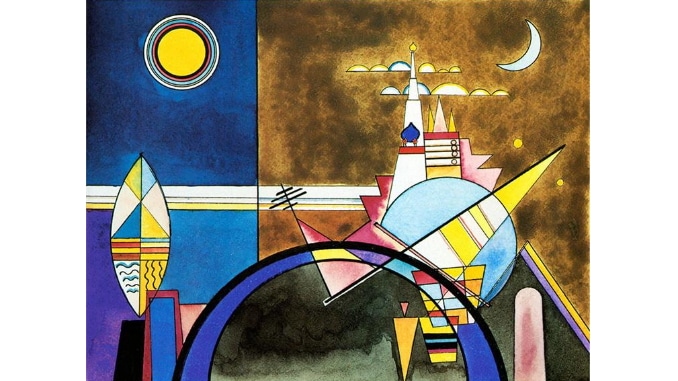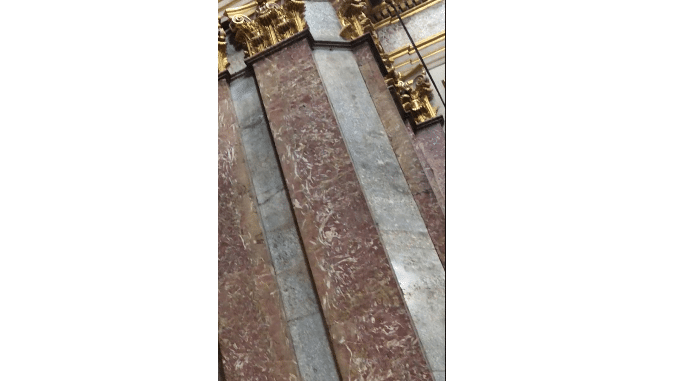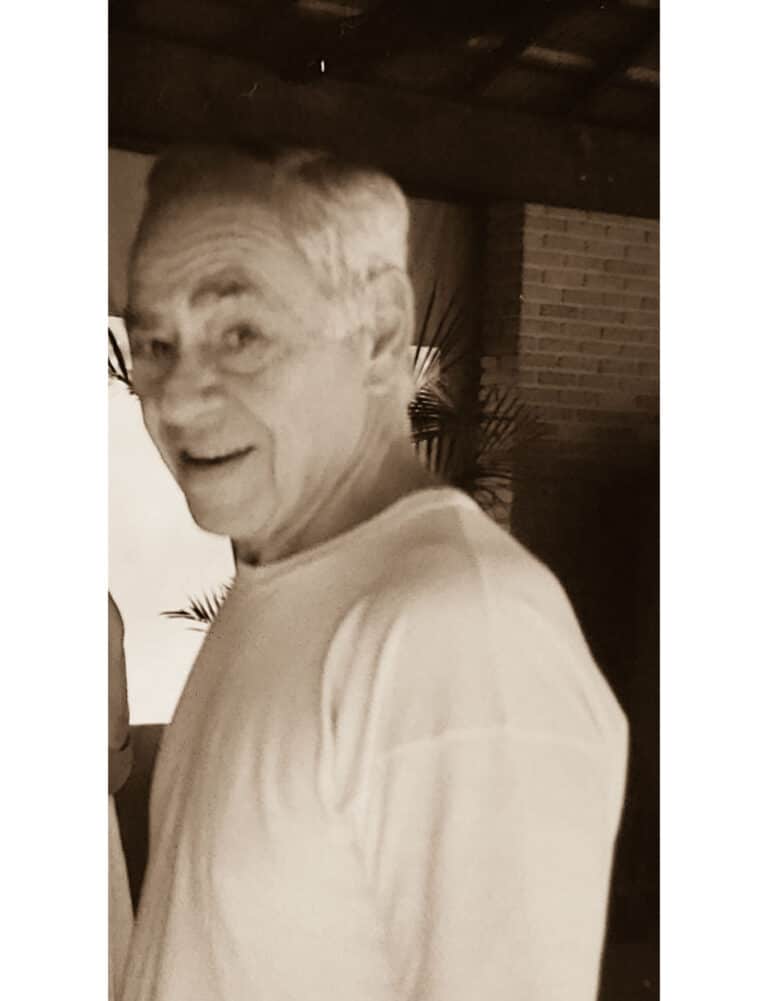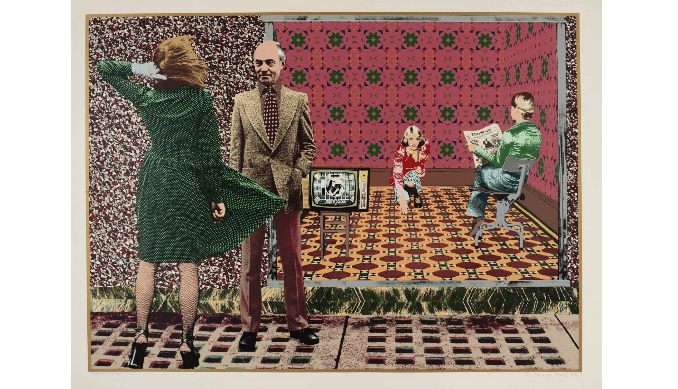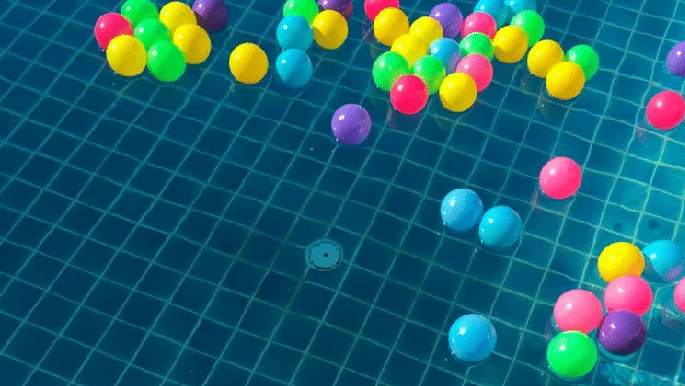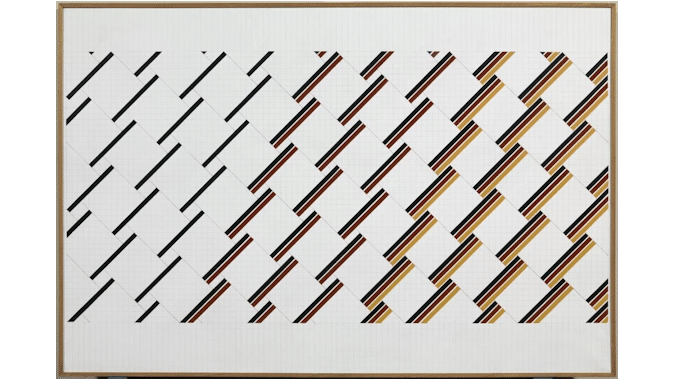Por HENRY BURNETT*
Comentário sobre o álbum do Grupo Ofá
Lançado em 2019, o álbum Obatalá – uma homenagem a mãe Carmen (Gege Produções sob licença exclusiva da Deck), do Grupo Ofá, com participações variadas, teve recentemente o documentário de sua produção exibido na GloboNews com o título Obatalá – o pai da criação. Ligado à família da mais famosa casa de candomblé do Brasil, o Terreiro do Gantois em Salvador, o projeto tem uma característica especial, a maioria das gravações dos cantos sagrados foi registrada na língua Yorubá original. As faixas em português somente se equilibram, apesar de belas, como “Carmen” (Beto Pellegrino & Ariston), em meio à força histórica que a língua originária impõe aos ouvintes hoje; especialmente hoje.
Num momento em que, segundo Agamben num texto de intervenção chamado “Quando a casa queima”, “Deus, encarnando-se, cessou de ser único e se tornou um homem entre tantos” e que, “por isso o cristianismo teve de se ligar à história para seguir até o fim seu destino – e quando a história, como hoje parece acontecer, se extingue e decai, também o cristianismo se aproxima do seu ocaso” (https://www.n-1edicoes.org/textos/196), o álbum chega como um chamado ao que sinto como uma verdadeira dimensão religiosa, ligada desde sempre ao canto, à poesia e ao espírito dos que vivem a fé como partilha e não como carnificina e intolerância. Obatalá é, em todos os sentidos, uma lição.
Recheado de estrelas pop, o disco tem a capacidade de neutralizar as vozes mais conhecidas, subsumindo-as ao rito da execução de cada canto. Então, dessa uniformização, surgem as forças que se destacam no disco justamente porque parecem mais integradas na casa de origem. Ou seria na religião? Pouco importa. Ao unir Jorge Benjor e Matheus Aleluia num mesmo projeto, algo realmente importante se manifesta. Todos os famosos e proscritos estão a serviço desses cantos ancestrais.
Um respeito mútuo paira na atmosfera do documentário. Sem a ingenuidade de supor que Ivete Sangalo e Daniela Mercury não cumprem suas funções integradas no projeto, é impossível ouvir Márcia Short, Luciana Baraúna, Alcione, Vó Cici, entre outras, sem ser tocado de profunda emoção; mesmo aqueles que, como eu, acham que podem se aproximar dessa religião matricial sem se deixar afetar, como um ouvinte a mais, por interesse estritamente musical; um engano.
Mesmo quando, por um acaso, como narra Flora Gil no documentário, Benjor foi parar no estúdio cantando “Odu Re Odure Ayelala – Orixá Oxalá” junto com Gil acompanhados apenas dos tambores, algo como uma confluência fica no ar, como se a realização não fosse casual, mas ditada por algo maior. Não é fácil falar em sublimações em tempos de tanta violência real e simbólica. Mas é disso que se trata, Obatalá é um encontro raro, mais que um registro fonográfico no estúdio do também presente Carlinhos Brown, que canta “O Fururu Loorere – Orixá Oxalá” depois da abertura obrigatória com “Oriki – Orixá Exú”, pronunciada por Felix Omidiré.
Apesar da coesão do conjunto, algumas faixas falam mais alto. Como um grito potente de liberdade e integração, escutamos “Ajaguna Gbawa O – Orixá Oxagiayan”, com o Grupo Ofá e Lazzo Matumbi. “Obatalá – homenagem a Mãe Carmen” é a faixa que une modernidade e ancestralidade com mais ênfase, embora a voz de Matheus Aleluia invoque tudo que pode haver de mais historicamente importante na herança africana deixada aos seus descendentes.
“O Yeku – Xá Omiludé – Orixá Oxum” cantada pelo Grupo Ofá é o ponto alto dessa festa que não acaba; uma Alcione quase irreconhecível explode em “Odekomorode – Orixá Oxóssi”, um dos cantos mais conhecidos e mais belos das celebrações de origem africana que aqui permaneceram apesar de tanta dor, ou por causa dela. Na faixa mais explicativa do disco, Gal e Gil se unem em “Carmen”.
Um disco que gira ininterruptamente como um ritual há semanas, ajudando a superar a angústia e a virada de ano mais melancólica que o século XXI já enfrentou. Talvez seja esse o recado que Zeca Pagodinho e Nelson Rufino deixam na despedida do disco, uma faixa solar e esperançosa: é preciso olhar para a frente, embora não se possa ver muito sob o nevoeiro espesso.
*Henry Burnett é professor de filosofia da Unifesp. Autor, entre outros livros, de Nietzsche, Adorno e um pouquinho de Brasil (Editora Unifesp).
Publicado originalmente na Revista Guaru.