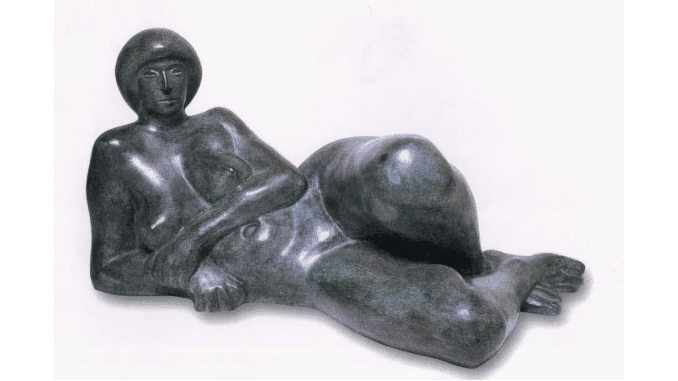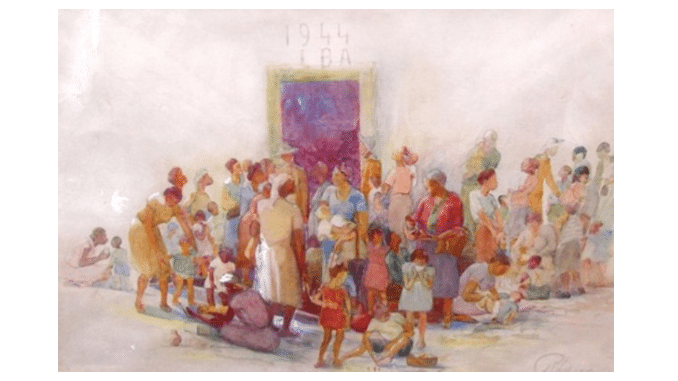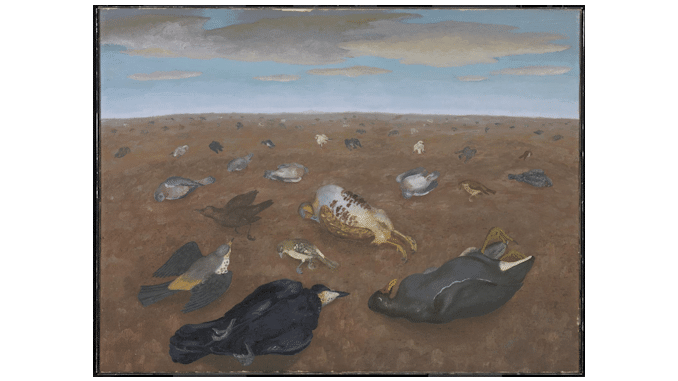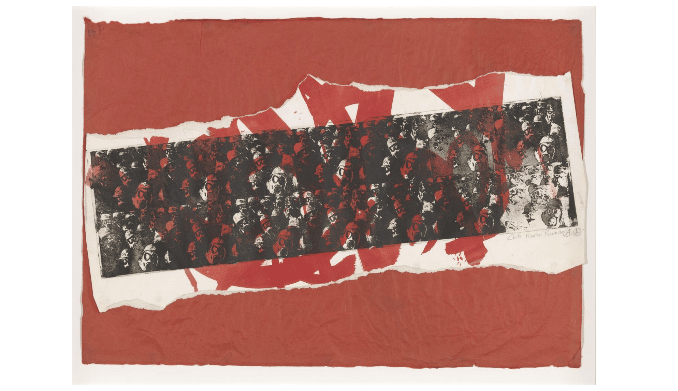Por MARCOS SILVA*
A seletividade do que é designado como “nosso” patrimônio histórico
O Forte dos Reis Magos e o Engenho de Cunhaú são edifícações coloniais, no Rio Grande do Norte, preservados e acessíveis à visitação pública, com larga presença de turistas em seus espaços, além da frequência de potiguares, que os consideram exemplos privilegiados de nosso patrimônio histórico.
Nós quem, cara-pálida?
Certamente, turistas não fazem seus passeios em busca de rigorosas aulas críticas de História, o que não significa passar para eles informações equivocadas sobre os novos locais e os seres humanos que conhecem. A situação é ainda mais grave em relação aos potiguares: quem somos nós, historicamente, qual o patrimônio histórico que é nosso?
Os debates sobre Patrimônio Histórico, no Brasil, foram articulados por Mário de Andrade, em seu anteprojeto para o órgão federal criado na ditadura do Estado Novo (1937/1945: Andrade não era um ideólogo dessa ditadura), implantado com muitos limites em relação às propostas daquele pensador.
Mário esboçou uma concepção de patrimônio histórico múltipla, que incluía diversidade social e até de suporte físico ou imaterial, tanto prédios quanto saberes e crenças.
O Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional efetivamente implementado naquele Brasil findou priorizando edificações católicas, mais as administrativas e militares da Coroa Portuguesa (não havia separação entre Estado e Igreja na monarquia absolutista), prestou grandes serviços para a garantia e sobrevivência física de conjuntos arquitetônicos, com ênfase em igrejas coloniais mineiras e baianas, mais aquelas instalações bélicas (fortalezas e similares) e administrativas (outros órgãos de governo), existentes desde a colonização.
É claro que tudo isso precisava ser preservado, restaurado, estudado; boa parte dos prédios, junto com seus acervos, estava em risco de destruição, infestados por cupins Mas o recorte social de atuação do SPHAN foi muito claro: sedes de instituições dominantes. Não houve esforço para preservar vestígios de senzalas e terreiros religiosos afro, assim como de aldeias indígenas. O primeiro terreiro de candomblé tombado pelo IPHAN (sucessor do SPHAN) foi o de Casa Branca do Engenho Velho (Salvador, BA), em 1984,ainda ditadura civil-militar, possível ação de raros profissionais críticos, talvez interesse governamental no apoio de setores afrodescendentes da população.
O problema do recorte de classe social sofrido pelo patrimônio histórico brasileiro, nessas ações governamentais, não foi somente dele, percorre a Historiografia erudita, até data recente, como se observa no título do primeiro volume da “História da vida privada no Brasil”, organizado pela competente historiadora Laura de Mello e Souza, com colaboradores muito bons: Cotidiano e vida privada na América portuguesa… Aquela América nunca foi somente “portuguesa”, exceto pelo ângulo administrativo! Indígenas e escravos africanos também eram, de formas diferentes, a mesma América!
Esse dilema se aplica igualmente ao Rio Grande do Norte – português, indígena e africano. O delírio de uma capitania (depois província, depois estado) apenas branca-europeia, ou branco/europeu, é tão somente…um delírio! É bom que nós, potiguares, nos olhemos no espelho: temos cara e corpo de uma enorme mistura de índios com brancos e negros; nossa alimentação “típica” reproduz essa mescla, com milho, mandioca, arroz e molho à cabidela, mais os acréscimos de macarrão, sorvete e sanduíches; nosso vocabulário faz o mesmo.
Mas o que designamos habitualmente como nosso patrimônio histórico parece ser, tão somente… europeu! E idealizamos esse patrimônio, evocando as bonitas arquiteturas e localizações daqueles prédios: a foz do Rio Potengi (Forte dos Reis Magos) e Canguaretama (Engenho de Cunhaú), com sua orla marítima. Pensamos frequentemente que o forte existiu apenas para impedir a invasão do território por outros europeus (como se não desempenhasse função de poder sobre indígenas e escravos africanos); sacralizamos, literalmente, o engenho com a beatificação dos mártires católicos na luta contra holandeses em 1645 (como se os indígenas e africanos ali falecidos não fossem mártires da colonização portuguesa, desde antes dos outros invasores). O forte e o engenho não eram bonitos para quem neles trabalhava ou sentia outros de seus efeitos. Sua beleza, no olhar atual, corresponde quase sempre a uma visão abstrata, paisagem desprovida de pensamento.
Falta reflexão histórica crítica sobre essas evidências arquitetônicas da colonização, bem como sobre similares referentes a Império e República. Títulos nobiliárquicos são desvinculados de escravidão. Carreiras de altos funcionários do Estado Novo e da ditadura civil-militar de 1964/1985 são nobilitadas, como se não fossem marcadas por torturas e assassinatos.
Certamente, esse não é um problema exclusivo do Rio Grande do Norte nem do Brasil: turistas que visitam o Egito assistem a espetáculos deslumbrantes de edificações, joias e objetos sagrados do universo faraônico, desconhecendo o esforço cruel exigido de quem produziu aquelas preciosidades ou tornou possível sua existência. Egípcios pobres do presente são levados a crer nesse universo como patrimônio seu e da humanidade, universalizando o poder faraônico enquanto matriz de tudo – os “faraós embalsamados” da canção “Rancho da goiabada”, de João Bosco e Aldir Blanc.
Nós, potiguares, não somos um bloco homogêneo, unificados pela nação, o que também se observa em relação a outros estados. Muitos de nós representamos histórias de classes sociais, gêneros, grupos étnicos e tantos outros níveis de sociabilidade, em busca de igualdade e Justiça, ainda não atingidas. Perdemos edificações (a Galeria de Arte, erguida no governo municipal de Djalma Maranhão, demolida gratuitamente); apagamos memórias de práticas sociais e personagens.
Se somos majoritariamente mestiços, aqueles lugares do poder colonizador podem ser preservados também como recordação dos que ameaçaram e exploraram nossos ancestrais. E quem não é mestiço na epiderme vive a mestiçagem na experiência cotidiana de alimentação, vocabulário e outras práticas culturais.
Nosso patrimônio histórico vai além de fortalezas, engenhos, salões palacianos, embora devamos preservar, estudar, conhecer esses espaços para melhor entendermos sua importância nas relações sociais. Tal patrimônio, ampliado e contextualizado socialmente, será capaz de nos abranger na complexidade de nossas experiências.
Recuperadas tais facetas, será mais crível falarmos num patrimônio histórico potiguar (ou brasileiro e universal), que inclua conflitos e buscas de sua superação na luta por igualdade e Justiça.[1]
*Marcos Silva é professor do Departamento de História da USP.
Nota
[1] Agradeço a Dacio Galvão, que me incentivou a escrever estes comentários.