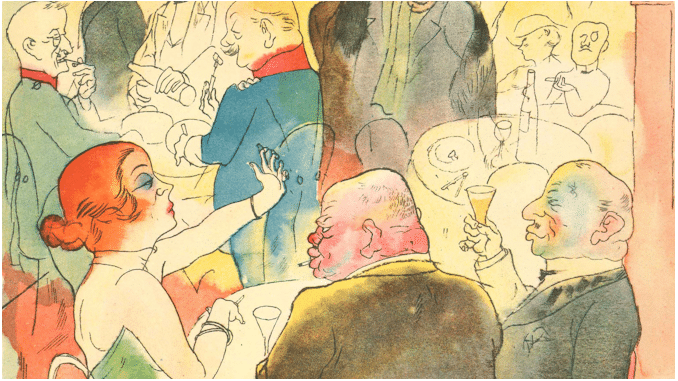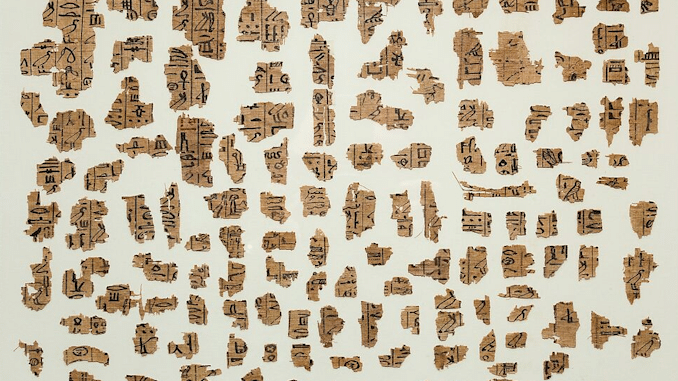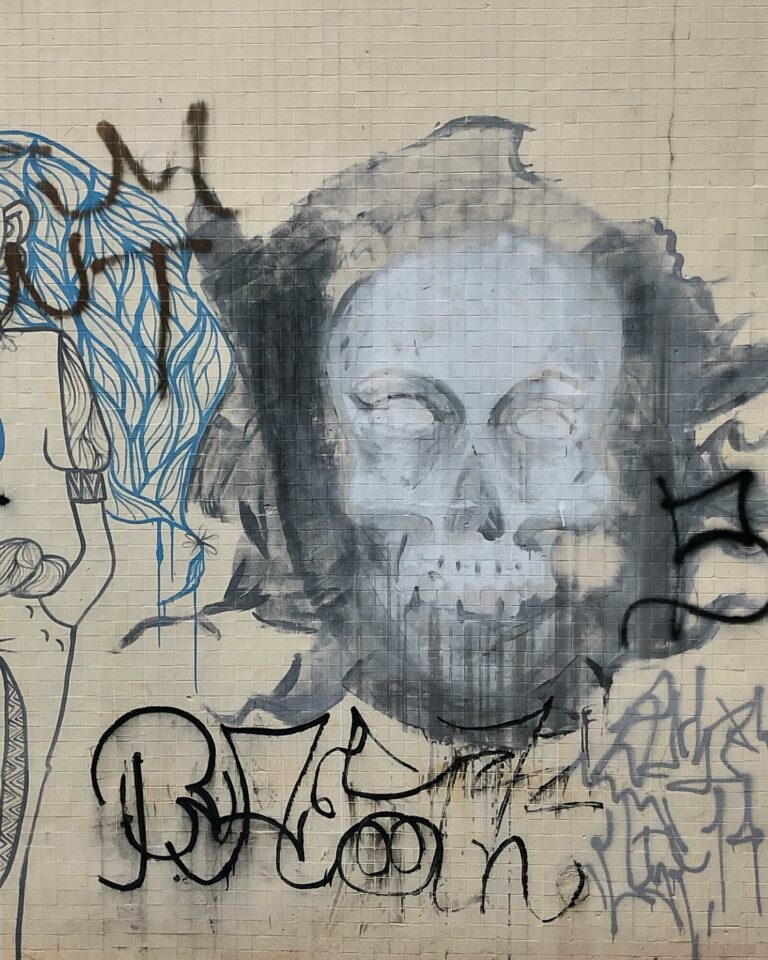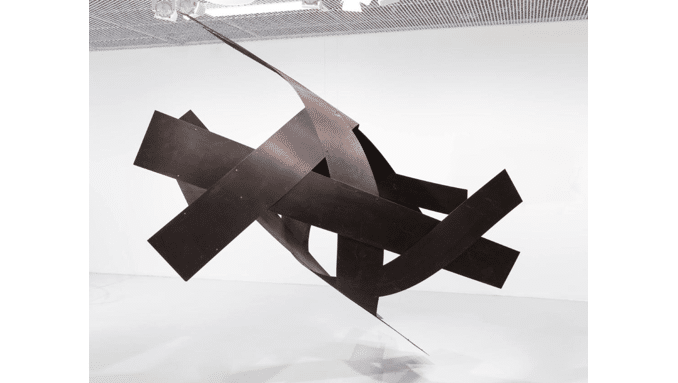Por DANILO JORGE VIEIRA*
É fundamental reabilitar a política fiscal como instrumento de gestão macroeconômica
A política fiscal será um dos temas dos mais importantes no grande debate nacional que ocorrerá neste ano de eleição. O pleito, que irá redesenhar a correlação de forças da sociedade, ensejará a discussão sobre os principais problemas e desafios orçamentários do país e permitirá, sobretudo, recolocar em escrutínio as reformas de cunho ultraliberal em implementação no campo das finanças públicas desde o golpe de 2016. Esse debate sobre a política fiscal certamente não será feito nas mesmas bases da eleição de 2018, momento em que a agenda nacional ainda se encontrava contaminada e organizada pela temática falaciosa, moralista e persecutória do combate à corrupção.
A persistência da crise socioeconômica e a eclosão da pandemia – implicando na reativação acelerada do circuito vicioso do desemprego, da pobreza e da fome – exigiram a ampliação dos gastos públicos e o revigoramento da ação estatal. Assim, a política econômica ultraliberal vigente no Brasil a partir da segunda metade da década passada foi colocada em xeque, abrindo espaço para o questionamento mais amplo de seus fundamentos e resultados, de modo que eleição deste ano será circundada por um contexto transformado e bastante distinto daquele que pavimentou a ascensão da extrema direita ao governo.
A Emenda Constitucional nº 95/2016 (EC 95/2016), que estabeleceu limites à evolução das despesas primárias da União, tem catalisado as discussões sobre as questões fiscais. O consenso que vai se firmando no segmento democrático-popular aponta para a necessidade de revogação desse ordenamento legal, em razão do entendimento a respeito dos efeitos negativos que irradia para o conjunto consolidado do setor público. Fica cada vez mais evidente que tal dispositivo criou restrições orçamentárias crescentes amplificadas, tanto para o governo central quanto para os entes subnacionais, neutralizando a política fiscal e comprometendo, desse modo, as perspectivas de superação da crise e de recuperação de um novo ciclo duradouro de crescimento.
Contudo, a reabilitação da política fiscal como instrumento de gestão macroeconômica, crucial para qualquer possibilidade de equacionamento dos atuais impasses sociais e econômicos do país, não envolve apenas a revogação da EC 95/2016. Exige, igualmente, a revisão de diversas reformas implementadas nas finanças públicas subnacionais, que buscam estender a estados e municípios os mesmos parâmetros restritivos de controle das despesas primárias fixados para a União por intermédio da EC 95/2016. De fato, desde o golpe de 2016, sucessivas alterações normativas têm sido efetuadas com vistas a ampliar o disciplinamento dos entes subnacionais, em particular dos governos estaduais, cuja perda de autonomia e de poder decisório na esfera orçamentária e financeira vai sendo aprofundada.
Como será argumento neste texto, a reversão do processo de paulatino esvaziamento econômico e institucional dos governos estaduais vai requerer não apenas a revogação das reformas ultraliberais feitas no quadro regulatório das finanças públicas subnacionais, como também vai demandar a adoção de um programa de reestruturação financeira destes entes federativos, em especial dos governos estaduais. Tal programa deve ser distinto dos anteriores e abandonar as usuais diretrizes de controle estrito e indiferenciado das despesas primárias e do endividamento, em favor de iniciativas destinadas a recuperar a capacidade dos estados de efetuarem gastos de forma sustentável, reabilitando, assim, as competências dessas instâncias governamentais, o que permitirá reconfigurar em bases renovadas o federalismo fiscal brasileiro.
Fragilização estadual
Os governos estaduais vivenciam um processo histórico contínuo de fragilização institucional, detendo poderes de decisão e de ação cada vez mais débeis e restringidos. As evidências mais demarcadas desse enfraquecimento crônico e persistente de poder se expressam, por exemplo, na perda de espaço na carga tributária e nos gastos públicos primários.
De acordo com a série histórica do IBGE, a participação dos estados na carga tributária baixou de 34% para 25% entre 1967 (ano da promulgação da Constituição centralizadora do regime militar) e 1999. Nas despesas primárias, a participação dos estados caiu de 35% para 30%. No mesmo período, a posição relativa da União na carga tributária foi de 63% para 70%, enquanto a dos municípios subiu de 3% para 5%. Nas despesas primárias, enquanto a participação da União ficou estável em 55%, a dos municípios variou positivamente de 11% para 16%.
Tendo como base informações atualizadas da Secretaria do Tesouro Nacional, observa-se que a fragilização econômica e institucional dos estados prossegue neste século XXI. No total consolidado das despesas primárias do setor público, a participação dos estados caiu de 32% para 23%, o que significou retração acumulada de 26% entre 2000 e 2020. No mesmo período, as posições relativas dos municípios e da União subiram de 15% para 18% e de 54% para 59%, perfazendo elevação de 20% e 10%, respectivamente.
No que diz respeito à carga tributária, informações da Receita Federal mostram a ocorrência de uma moderada descentralização nos anos recentes, que favoreceu, sobretudo, os municípios. A participação da União retraiu de 69% para 66%, baixando 4,5% entre 2000 e 2020. Cerca de 2/3 desta perda relativa da União (2 pontos percentuais) foram capturados pelos municípios, que ampliaram a sua fatia na carga tributária de 5% para 7%, perfazendo ganho de 40% nas duas primeiras décadas do presente século. Os estados, por sua vez, tiveram incremento marginal (de 1 ponto percentual), passando de 26% para 27%, o que significou elevação de 3,8% no período em referência.
Esses números são suficientes para evidenciar o continuado debilitamento dos governos estaduais, gerando um padrão distorcido de federalismo fiscal no Brasil, cuja trajetória, desde pelo menos o final dos anos 1960, tem se caracterizado pela compressão do ente intermediário (os estados) entre os outros dois níveis governamentais (nacional e local). Tal evolução peculiar resultou na conformação de uma estrutura federativa crescentemente desbalanceada, com a progressiva hipertrofia das esferas superior e inferior, criando problemas estruturais de coordenação, uma vez que os municípios tendem a transpor os estados para se articular diretamente e sem mediações com o governo central, o que implica em fragmentação, desigualdade, dispersão, heterogeneidade e assincronia das políticas públicas em termos territoriais e jurisdicionais.
Nova institucionalidade fiscal
Esse processo de fragilização dos governos estaduais no âmbito do federalismo brasileiro alcançou novo padrão político-institucional e tornou-se muito mais estrutural e sistêmico a partir de meados da década de 1990, quando um novo aparato regulatório das finanças públicas subnacionais começou a ser organizado, no bojo da estabilização inflacionária da economia brasileira promovida por meio do Plano Real e das reformas neoliberais implementadas naquele momento para pavimentar a reinserção do país no sistema financeiro global.
Com estruturas orçamentárias comprometidas por elevados e onerosos passivos, originados do esforço nacional de industrialização dos anos 1970 e da crise recessiva e hiperinflacionária da década de 1980, os estados passaram a enfrentar graves impasses fiscais no novo contexto macroeconômico de baixa inflação e altas taxas de juros derivado do Plano Real. Com as finanças desorganizadas e na iminência de paralisia da máquina pública, os estados tiveram que se submeter às diretrizes do governo federal na busca do equacionamento dos desequilíbrios financeiro e patrimonial que vivenciavam. Por meio da Lei nº 9.496/1997, foi criado o Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados (PAF), pelo qual a União assegurou o refinanciamento de longo prazo da dívida estadual, mas condicionando o apoio à adoção, pelos entes, de um rígido ajustamento das contas públicas.
De modo geral, a estratégia principal do PAF foi a de forçar os estados a circunscrever seus gastos às condições dadas estritamente pela disponibilidade de recursos de natureza tributária. Para tanto, o programa federal estabeleceu controles severos do endividamento, cerceou o acesso dos governos estaduais às operações de crédito e determinou o cumprimento de metas compulsórias relacionadas, principalmente, aos gastos com pessoal, ao resultado primário e à dívida pública.
Posteriormente, o PAF foi estendido aos municípios (MP nº 2.185-35/2001) e, mais importante, seus parâmetros vieram a ser incorporados na Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), consolidando, assim, uma nova institucionalidade fiscal para o país, calcada, fundamentalmente, em normas disciplinadoras que impuseram aos entes subnacionais, em especial os estados, um quadro de restrição orçamentária forte (hard budget constraint).
O PAF logrou modificar a dinâmica fiscal dos governos estaduais. Basta verificar que, após firmados os acordos de refinanciamento (1997/1999) e promulgada a LRF (2000), os estados conseguiram reverter a posição deficitária crônica de seus orçamentos, registrando superávits primários praticamente continuados. Entre 1995 e 1999, os governos estaduais contabilizaram, em termos consolidados, déficits primários seguidos, perfazendo média anual de 1,02% do PIB. Situação distinta foi observada entre 2000 e 2013, com superávits primários sucessivos, alcançando média anual de 0,46% do PIB. O período de 2014 e 2020 foi mais instável, mas mesmo assim foi possível atingir superávit primário médio de 0,08% do PIB ao ano. Por fim, vale notar que, nos 21 exercícios entre 2000 e 2020, apenas em três deles foram contabilizados déficits primários – 2014, 2016 e 2017.
Essa melhoria do resultado fiscal, contudo, não expressou nem possibilitou a recuperação financeira e o fortalecimento federativo dos estados. Ao contrário, na nova institucionalidade montada no país a partir do acordo de refinanciamento condicionado das dívidas, os governos estaduais perderam ainda mais poder decisório e raio de ação, na medida em que foram obrigados a manejar seus orçamentos a partir de metas compulsórias previamente estabelecidas e com base em uma estrutura de financiamento comprimida, uma vez que calcada, sobretudo, na disponibilidade de recursos de origem tributária (próprias e de transferências), tendo em vista que o acesso ao crédito veio a ser fortemente controlado e restringido.
As dificuldades persistentes de financiamento e a maior fragilidade econômica e institucional dos governos estaduais podem ser sinteticamente constatadas a partir do comportamento da Margem de Autofinanciamento Real do Investimento (MGA-RI), indicador que permite verificar a capacidade que os governos têm de efetuar investimentos, após arcar com os serviços da dívida (juros, encargos e amortização).
Entre 1995-1999, a MGA-RI consolidada foi persistentemente negativa, alcançando média anual de -1,25% do PIB. Em valores reais a preços de 2020, deflacionados pelo IGP-DI, a MGA-RI média anual dos estados foi negativa em cerca de R$ 75 bilhões entre 1995-1999. Com a implementação do PAF, essa deficiência financeira chegou a ser revertida, mas em níveis bastante comprimidos e, além disso, em bases precárias e insustentáveis. Entre 2000-2011, a MGA-RI passou a ser positiva, atingindo, contudo, valor médio anual de apenas 0,6% do PIB, sendo que o seu maior nível, registrado em 2005, ficou em 1,02% do PIB. A preços deflacionados, a MGA-RI foi, em média, equivalente a cerca de R$ 38 bilhões ao ano. Essa fase, contudo, foi breve, com a MGA-RI voltando a ser continuadamente negativa a partir de 2012: a margem média anual foi de -0,87% do PIB entre 2012-2020. Nesses mesmos anos, o valor real da MGA-RI foi negativo em R$ 78 bilhão ao ano, alcançando, portanto, patamar praticamente igual ao do período anterior ao PAF (1995-1999).
Esses dados são inequívocos em demonstrar que o PAF não conseguiu recuperar as condições de financiamento do gasto público estadual. Ademais, a trajetória insustentável da MGA-RI revela que o PAF introduziu e reforçou um viés fortemente pró-cíclico nas finanças estaduais. De modo geral, a MGA-RI foi positiva em um quadro de condições macroeconômicas mais favoráveis, vindo a ser revertida no momento de maior instabilidade e desaceleração da economia brasileira a partir da grande crise financeira internacional de 2008, situação que foi agravada posteriormente com o golpe de 2016 e a eclosão da pandemia.
Esse viés pró-cíclico das finanças estaduais é problemático por pelo menos dois motivos. Em primeiro lugar, em situações de crise, as potencialidades dinâmicas do gasto público estadual, que poderiam ser mobilizadas coordenadamente no enfrentamento das dificuldades macroeconômicas, são neutralizadas, sobrecarregando demasiadamente a política fiscal do governo central. Em segundo lugar, o viés pró-cíclico acaba fazendo com que as finanças estaduais passem a gerar forças tendencialmente depressivas, o que estabelece um fator adicional de agravamento da crise.
Correção de rumos
Diante dos problemas crônicos de financiamento dos estados, o governo federal decidiu alterar os parâmetros da dívida renegociada com os entes subnacionais, incluindo os municípios e envolvendo os contratos firmados ao amparo da Lei 9.496/1997 e das MPs 2.185-35/2001 e 2.192-70/2001. Por meio da LC 148/2014, a taxa de juros incidente nesses passivos foi reduzida para 4% ao ano (contra as taxas vigentes de 6 e 7,5% ao ano); o IGP-DI foi substituído pelo IPCA como indexador dos contratos e, por fim, os encargos foram limitados ao custo equivalente à taxa SELIC. Ademais, e essa medida foi de suma importância para estados e municípios, o limite dos encargos ao custo da SELIC foi aplicado retroativamente à data de assinatura dos contratos, proporcionando um efetivo rebaixamento do estoque da dívida refinanciada pela União. Posteriormente, a dívida subnacional renegociada ao amparo da Lei nº 8.727/1993 foi também abrangida por essas mudanças contratuais.
As alterações encaminhadas pela LC 148/2014 tiveram impacto positivo importante e extensivo para os entes subnacionais, que foi muito além da simples redução do estoque da dívida. Por um lado, a diminuição dos passivos rebaixou o custo financeiro suportado pelos tesouros municipais e estaduais, o que atenuou as restrições orçamentárias e abriu espaço fiscal para a absorção de gastos públicos adicionais. Por outro, a melhoria do nível de endividamento habilitou os entes subnacionais a contratar novas operações de crédito, implicando em mais uma força redutora das restrições orçamentárias, o que criou condições para a expansão ainda maior das despesas.
Algumas informações sintéticas permitem observar os desdobramentos da LC 148/2014 para o endividamento de estados e municípios, em seus principais aspectos. A dívida líquida subnacional baixou de 12,9% para 10,1% do PIB entre 2015 e 2021, significando queda expressiva da ordem de 21%. A redução da dívida renegociada foi mais acentuada, sendo que o estoque bruto caiu mais de 26%, passando de 9,3% para 6,8% do PIB entre 2015 e 2021. Na comparação com 2000, refletindo, em parte, os efeitos retroativos da LC 148/2014, a retração do estoque total foi superior a 34%, enquanto que a da dívida renegociada foi ainda mais expressiva, alcançando recuo acima de 55% em proporção ao PIB. Mas cabe chamar a atenção que o grau de endividamento subnacional, quando observado em relação ao PB, vinha apresentando melhora antes mesmo da promulgação da LC 148/2014, em razão de diversos fatores, entre os quais cabe mencionar o longo ciclo de valorização cambial experimentado pelo país entre 2004 e 2014. Nesses anos, o câmbio acumulou valorização superior a 23%, arrefecendo a variação do IGP-DI, que era o principal indexador das dívidas renegociadas dos entes subnacionais. Um elemento de preocupação, contudo, consiste na trajetória ascendente da dívida externa de estados e municípios: esse passivo denominado em moeda estrangeira mais do que dobrou de tamanho entre 2000 e 2021, perfazendo crescimento 115% em relação ao PIB.
Reformas ultraliberais
Esse movimento que se esboçou em 2014 no sentido de buscar atenuar em alguma medida as restrições orçamentárias dos governos subnacionais e, em especial, dos estados, proporcionando espaço fiscal para certa ampliação dos gastos públicos, veio a ser interrompido com o golpe de 2016. Uma outra agenda de reformas de cunho ultraliberal foi imposta ao país e, no campo das finanças públicas, a orientação que passou a prevalecer foi a de reverter o padrão de maior ativismo fiscal que havia caracterizado a atuação do governo federal, especificamente entre 2007-2014 (governos Lula-2 e Dilma-1)
A promulgação da EC 95/2016, criando o chamado Novo Regime Fiscal no âmbito da União, pode ser considerada o corolário dessa inflexão da política econômica. Ao estabelecer limites à evolução dos gastos primários da União, a EC 95/2016 revigorou, em bases mais ampliadas, o princípio da restrição orçamentária forte (hard budget constraint) que havia fundamentado a institucionalidade fiscal organizada no país no período pós-Plano Real, a partir do programa de ajustamento das finanças públicas estaduais, conforme discutido anteriormente.
Dois aspectos importantes a respeito da EC 95/2016 devem ser ressaltados. O primeiro é que essa norma incorporada à Constituição brasileira atendeu as recomendações das instituições da governança global, que passaram a preconizar a países subdesenvolvidos medidas direcionadas a intensificar o quadro nacional de restrição orçamentária forte, com o objetivo de inibir a ação discricionária dos responsáveis pela política fiscal (“strengthening hard budget constraints” passou a ser a palavra de ordem do Banco Mundial, por exemplo).
O segundo aspecto, e que consiste em uma nova diretriz fiscal no Brasil, é que o governo federal foi inserido em um quadro regulatório de restrição orçamentária forte, com implicações, portanto, de grande extensão para o país, tendo em vista que, no federalismo brasileiro, o governo central é o principal ator federativo e aquele que opera os grandes sistemas de financiamento e de regulação das políticas públicas nacionais, como as de saúde, educação e assistência social, por exemplo.
Regulação ultraliberal
Após a implementação do Novo Regime Fiscal no âmbito da União, diversas regulações foram aprovadas, com a finalidade de estender, para a esfera subnacional, dispositivos de controle dos gastos primários similares ao que foi estabelecido no plano federal por meio da EC 95/2016. Vale dizer: as reformas regulatórias envolvendo as finanças subnacionais, atingindo sobretudo os governos estaduais, visam ampliar o alcance institucional do Novo Regime Fiscal da União, dando a ele uma escala nacional e homogênea de disciplinamento da gestão orçamentária do setor público consolidado.
Entre essas novas regulações, cabem destacar as seguintes:
(1) LC 156/2016 – aditou os contratos de refinanciamento das dívidas estaduais, alongando o prazo de pagamento desses passivos por prazo adicional de até 20 anos, e concedeu descontos extraordinários decrescentes no pagamento das parcelas devidas da dívida entre julho de 2016 e junho de 2018. Também estabeleceu um programa de estímulo ao equilíbrio fiscal, que tem sido denominado de “Novo PAF”. Os novos termos contratuais foram condicionados ao compromisso dos governadores de limitar a expansão das despesas correntes primárias à variação do IPCA nos dois anos subsequentes à assinatura dos aditamentos.
(2) LC 159/2019 – instituiu o chamado Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal. Determina duras medidas de ajuste fiscal e patrimonial, dentre as quais, cabe citar as seguintes: (i) limitação do crescimento anual das despesas correntes à variação do IPCA; (ii) privatização e concessão de serviços e ativos públicos, bem como a liquidação e extinção de empresas; (iii) vedação dos seguinte atos, dentre outros, durante a vigência do regime de recuperação fiscal: concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração dos servidores; criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; realização de concurso público e admissão ou a contratação de pessoal; contratação de operações de crédito e recebimento ou concessão de garantias; (iv) equiparação dos regimes jurídico e previdenciário próprios com os do governo federal; (v) instituição do Regime de Previdência Complementar; (vi) redução em pelo menos 20% dos incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais.
(3) LC 178/2021 – instituiu o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), direcionado aos Estados, Distrito Federal, capitais e municípios com mais de um milhão de habitantes, especificamente os entes com problemas fiscais e financeiros. Oferece a concessão de garantias da União a operações de crédito anuais equivalentes até 3% da Receita Corrente Líquida, mas condicionada à adoção de medidas de ajuste fiscal e patrimonial previstas no Regime de Recuperação Fiscal.
(4) EC 109/2021 – Cria mecanismo facultativo de ajuste fiscal para Estados, Distrito Federal e municípios, a ser acionado quando a relação entre despesa corrente e receita corrente ultrapassar a marca de 95%, prevendo a vedação dos seguintes atos, dentre outros, durante o período de persistência do excesso de gasto: (a) concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração; (b) criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; (c) realização de concurso público, admissão ou contratação de pessoal; (d) criação de despesa obrigatória; (e) concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária.
Esse novo aparato regulatório das finanças subnacionais, que ainda se encontra em constituição, aprofunda o controle sobre as finanças públicas dos entes federativos, principalmente dos governos estaduais. As reformas até agora implementadas enfatizam mecanismos de represamento das despesas primárias correntes, mas sem relaxar os limites impostos ao endividamento e à contratação de operações de crédito. Nesse sentido, evidencia-se que esse aparato regulatório emergente reitera e acentua o quadro anterior de restrição orçamentária forte, debilitando ainda mais os governos estaduais do ponto de vista econômico e institucional e, consequentemente, intensificando as distorções do federalismo fiscal brasileiro.
Programa Federativo
A reconfiguração do federalismo fiscal, um desafio nacional dos mais urgentes e importantes a ser equacionado com vistas a sedimentar um ciclo de desenvolvimento mais duradouro para o país, envolve necessariamente a reabilitação econômica e institucional dos governos estaduais. É por meio da recuperação e do revigoramento das capacidades governativas dos estados que as distorções do federalismo fiscal brasileiro poderão começar a ser corrigidas, criando condições mais promissoras para induzir uma coerência estruturada federativa capaz de articular de forma sinérgica e hierárquica os três entes governamentais, em conformidade com suas respectivas competências jurisdicionais.
Um ponto de partida para esse redesenho do federalismo fiscal brasileiro consiste no estabelecimento de novas bases de financiamento do gasto público estadual, o que exige alterar completamente a lógica puramente “fiscalista” e “financeirizada” que tem orientado a regulação das finanças públicas subnacionais no país desde pelo menos meados dos anos 1990. Trata-se, portanto, de implementar um “Programa Federativo de Recuperação e Sustentação do Gasto Público Subnacional”, que terá como ênfase os governos estaduais, mas que também favorecerá os municípios, em especial os de capitais e os de porte médio e grande.
O cerne deste programa federativo consiste, basicamente, na utilização dos haveres financeiros da União junto a estados e municípios para a constituição de um fundo que proporcionaria recursos para esses entes subnacionais aplicarem em investimentos e compras públicas diversas (OCC – Outras Despesas de Custeio e de Capital) e/ou para a formação de reservas de seus regimes próprios de previdência.
Os dados mais recentes disponíveis mostram que esses haveres financeiros somavam, em fevereiro de 2021, R$ 664 bilhões. Desse total, cerca de 89% correspondiam às dívidas renegociadas de estados e municípios, sendo que 83% referiam-se ao passivo estadual vinculado à Lei 9.496/1997. O fundo financeiro a ser constituído com esses haveres teria a função de recepcionar os serviços da dívida correspondentes pagos pelos entes subnacionais, retornando, posteriormente a cada um deles, os mesmos recursos que foram dispendidos individualmente.
Na prática, portanto, o programa federativo pressupõe o cancelamento das dívidas de estados e municípios pela União. Com base em informações contábeis de 2020, é possível estimar, de forma exploratória, os impactos que tal operação de waiver das dívidas subnacionais poderia implicar. Do ponto de vista patrimonial, os impactos poderiam ser mais relevantes, tendo em vista que os haveres junto a estados e municípios correspondiam, em 2020, a mais de 47% dos financiamentos e empréstimos concedidos pela União, considerando os de curto e longo prazo. Contudo, levando em conta os ajustes para perdas e as provisões efetuadas para a assunção de garantias por parte da União, o valor ajustado desses haveres baixaria de R$ 650 bilhões para R$ 223 bilhões.
Assim, em termos patrimoniais, o impacto pode ser estimado em 3% do PIB. Mas como os haveres junto a estados e municípios seriam utilizados para a constituição de um fundo de investimento da União, o impacto patrimonial seria nulo. Restariam, então, os efeitos orçamentários, gerados pela não apropriação das receitas advindas desses haveres pela União, que passariam a ser retornadas a estados e municípios na forma de repasses a fundo perdido para a sustentação de gastos primários.
Em 2021, as receitas de capital da União derivadas da amortização de empréstimos somaram R$ 87 bilhões, sendo que grande parte desse montante foi apurada junto a estados e municípios – basta observar que os dispêndios com os serviços da dívida total (interna e externa) dos entes subnacionais foi de R$ 81 bilhões no mesmo ano. Com base nesses valores, pode-se afirmar que o impacto orçamentário da operação de waiver da dívida subnacional pela União seria menor do que 1% do PIB. Ou, ainda, representaria menos de 15% das despesas liquidadas de serviços da dívida da União em 2021, excluindo os custos relacionados ao refinanciamento da dívida pública federal e aos valores dos serviços inscritos em restos a pagar.
Encontro de contas
As estimativas apresentadas acima são bastante exploratórias, mas suficientes para indicar que o impacto fiscal desse programa federativo seria em magnitude, no mínimo, compatível com os ganhos esperados em termos de fortalecimento das finanças subnacionais, em particular dos governos estaduais.
Cabe ressaltar também que o programa não pode ser interpretado como uma operação fiscal-financeira que irá “premiar” indevidamente governos perdulários e estimular a irresponsabilidade orçamentária, podendo comprometer sistemicamente os fundamentos do arranjo fiscal constituído no país.
Na verdade, a operação deve ser considerada como um encontro de contas entre a União e os entes subnacionais. Isso porque normas fixadas pelo governo federal têm implicado em perda de recursos de estados, sem as devidas compensações. A desoneração do ICMS sobre as exportações de bens primários e semielaborados é um exemplo histórico e que gerou um grande passivo da União junto aos estados, que segue em aberto, a despeito das transferências compensatórias criadas por meio da LC 176/2020.
Estudo do Tribunal de Contas do estado do Pará (TCE-PA), baseado em informações sistematizadas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), concluiu que os governos estaduais acumularam perda líquida de arrecadação de ICMS de R$ 647 bilhões entre 1996 e 2018, em razão das desonerações fixadas pela Lei Kandir, contra uma dívida consolidada líquida (DCL) que, de acordo com dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), somava R$ 798 bilhões em 2018. Atualizando o montante das perdas até 2020, ano de promulgação da LC 176/2020, com base no mesmo indexador utilizado pelo TCE-PA, a perda líquida dos estados chegou a R$ 858 bilhões, enquanto a DCL, segundo a STN, alcançou os R$ 847 bilhões, tornando, então, esses entes credores líquidos da União, com saldo positivo a receber de R$ 11 bilhões.
Cabe lembrar, ainda, que a solução dada a essas perdas estimadas é flagrantemente insatisfatória. A LC 176/2020 criou um fluxo de transferência incondicional a favor de estados (75%) e municípios (25%) de R$ 58 bilhões, a ser liquidado até 2037. Esse valor corresponde apenas a cerca de 9% das perdas líquidas estimadas para 2018 – considerando o valor atualizado até 2020, esse percentual baixa para 6%.
Além dessas perdas advindas da apropriação de receitas de ICMS, deve ser considerado o volumoso desembolso efetuado pelos governos estaduais para pagar juros, encargos e amortizações de suas dívidas, que tem se mostrado incapaz de reduzir efetiva e estruturalmente os passivos, a despeito dos valores substanciais alocados nesse gasto financeiro. Entre 2000 e 2021, o gasto empenhado pelos estados no serviço da dívida somou, em termos nominais, R$ 757,4 bilhões, enquanto a dívida líquida total subiu, no mesmo período, de R$ 161,2 bilhões para R$ 809,9 bilhões – acréscimo de R$ 648,8 bilhões.
Outras medidas programáticas
As seguintes medidas adicionais integrariam também este programa federativo, visando estabelecer bases sustentáveis de financiamento ao gasto público subnacional, de um lado, e induzir a disciplina fiscal, de outro:
(1) Fortalecimento da arrecadação de ICMS – acabar com o vantajoso regime tributário das exportações de bens primários e semielaborados, por meio de emenda constitucional que retorne com a incidência do ICMS sobre as vendas externas do país desses produtos. Pelo menos duas proposições nesse sentido estão em tramitação atualmente no Congresso: a PEC nº 42 (Senado) e a PEC nº 201 (Câmara dos Deputados), ambas de 2019.
(2) Mercado de dívida subnacional – Constituição de um mercado de dívida pública subnacional, com regulação compartilhada pelo Banco Central e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com o objetivo de prover recursos de baixo custo e longo prazo para financiar as OCC de estados e municípios.
(3) Refinanciamento da dívida externa – implementação de uma operação de refinanciamento da dívida externa de estados e municípios, de modo a promover a troca desse passivo denominado em moeda estrangeira por títulos em moeda nacional, eliminando o risco cambial sobre as contas públicas subnacionais.
(4) Programa de indução ao equilíbrio fiscal – adoção de um programa com monitoramento pela STN que induza o equilíbrio fiscal e financeiro dos governos subnacionais, visando, primordialmente, a sustentação intertemporal da capacidade de gasto primário desses entes, com o atendimento de metas compulsórias consistentes com projeções de crescimento econômico e relacionadas à poupança corrente primária, líquida de transferências intergovernamentais e de outras de despesas de custeio; investimentos; endividamento; restos a pagar; disponibilidade de caixa não vinculada, dentre outros indicadores.
Um programa federativo de recuperação da capacidade de financiamento de gastos dos entes subnacionais tal como proposto acima seria bastante promissor no sentido de criar condições para induzir o redesenho do federalismo fiscal brasileiro. Mas outras medidas estruturantes seriam necessárias ainda para reverter o processo histórico de fragilização do papel desempenhado pelos estados na federação brasileira. O primeiro passo na direção desta transformação estrutural, contudo, precisa ser dado o mais breve possível.
*Danilo Jorge Vieira é doutor em economia aplicada pela Unicamp.