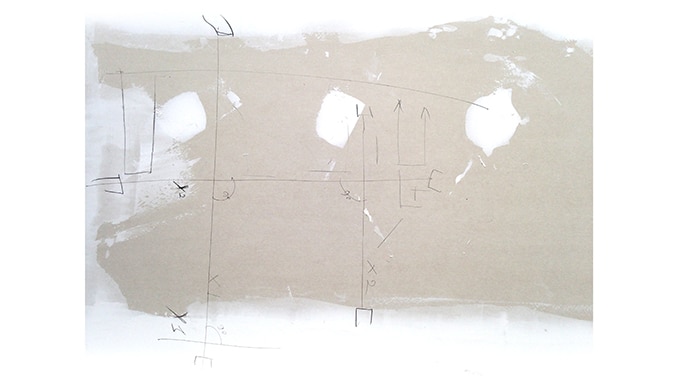Por RENATO LESSA*
Trata-se de um desastre marcado por um duplo paroxismo – pandemia e pandemônio. Excedemo-nos nessas duas dimensões
“O nome do destruidor é Destruidor, é o nome do destruidor” (Arnaldo Antunes, A face do destruidor).
O que designamos como “bolsonarismo” é um fenômeno sem conceito. A obsessão de atribuir-lhe um – fascismo, populismo, autoritarismo, necropolítica, o que seja – decorre da perturbação que sentimos diante de objetos sem forma, dotados de concentração incomum de negatividade, expressões de um insuportável “absolutismo do real”. A propensão humana à fabricação conceitual é, na verdade, um recurso de auto-proteção propiciador de um sentimento de familiaridade diante do inaudito. Sensação que resulta da posse de um nome para cada coisa, por mais assustadora que seja.
Questão arcaica, já inscrita no diálogo platônico Fédon e retomada na contemporaneidade pelo filósofo alemão Hans Blumenberg (1920-1996), quando lidou com os temas da “não-conceitualidade”, dos regimes metafóricos e do próprio “absolutismo do real”.[i] No mais, a lógica da auto-proteção, por meio da atribuição conceitual, segue o modelo do preenchimento de uma expectativa: o conceito, aplicado à coisa, é indutor de previsibilidade. Somos preenchidos pelo sentimento de “saber do que se trata”: o valor psicológico do conceito por vezes excede seu suposto alcance cognitivo. Na relação entre preenchimento e expectativa, cabe à última a configuração do primeiro.
De todo modo, movido pela sensação da inutilidade do conceito, penso na possibilidade – e no imperativo – de uma fenomenologia da destruição, sustentada na seguinte intuição: o “bolsonarismo” não possui uma história intelectual e nem sequer uma história política que o elucide. Deve, a meu juízo, ser mostrado por meio de uma história natural, ou de uma história de seus efeitos de destruição. O objeto – ou o nome – em questão não é aqui declinado como “conceito”: tem mais a ver com a etiqueta posta na gaveta para indicar que ali abrigamos uma coleção de registros de coisas extremas e abjetas. Um tipo de coleção que, em condições normais, revelaria seu coletor como sujeito passível de cuidados especiais. Para isto servem os nomes: conceitos não precedidos e comandados por intuições não passam de delírios positivitas; intuições sem nomes para as coisas são como mapas genéricos de cidades, desprovidos de roteiros.
Nos tempos que correm, o negócio é não ligar muito para isso e seguir máxima da grande antropóloga britânica Mary Douglas (1921-2007): “por a imundície sob foco”.[ii] Algo que, como bem advertia, afetará nossos modos usuais de cognição, habitualmente concentrados na busca de uma elucidação das coisas, através da detecção de causas e de precisa determinação conceitual. No diálogo platônico Fédon, Sócrates “viu” no conceito de Sol o que não podia ver na própria coisa, sob pena de queimar as retinas. Temo que, para proceder ao ajuste do olho, tenhamos que queimar as nossas.
Fazer do país um exemplo
No estado atual das coisas, o interesse cognitivo pelo Brasil, por parte da comunidade científica internacional, parece ser diretamente proporcional ao sucesso da projeção do país como pária planetário. Um interesse, por certo, movido por difundida abjeção e espanto, diante do fator de risco sanitário global implicado: o termo “Brasil”, em desastrosa ressignificação, vale como convite à profilaxia. Cuius culpa? Mérito exclusivo de um consulado que, embora avesso à própria ideia de globalização, globalizou o Brasil como pária. Uma projeção decorrente do mais extremo processo de “desfiguração da democracia”[iii] em curso no planeta. Um processo cujos sinais são detectáveis em escala igualmente global, mas que nas plagas brasileiras incide com maior radicalidade. Nobre feito da colusão dirigida pelo amigo-da-morte”, expressão que vale como substrato real da marca fantasia “Chefe de Estado”.
Feitas as contas, trata-se de um desastre marcado por um duplo paroxismo – pandemia e pandemônio. Excedemo-nos nessas duas dimensões, algo digno de grandes hospedeiros de desgraças. Não é para qualquer um. O país, com mais de noventa variações virais, tornou-se laboratório privilegiado para a pesquisa a respeito da pandemia. Qualifica-se, ainda, como excelente oportunidade para estudos de caso a respeito de processos de desconstrução civilizatória. De todo o modo, trata-se de ocupar a vanguarda e ter muito a ensinar ao mundo: seguimos o mote do país notável, no declive dos infinitos negativos. A seguir assim, há que temer o futuro no qual supostamente seríamos, segundo Stefan Zweig, “o país”. Pelo mundo afora, contudo, persistem fragmentos de difusa simpatia.
Em chave menor e pessoal, é o que pude constatar no gesto do Monsieur Mayer, veterano farmacêutico parisiense da Avenue de Saxe, não distante do Institute Pasteur. Ao inocular-me com a primeira dose da vacina anti-covid 19, disse-me: “c’est pour l’amitié franco-brésilienne”. Inoculado, saí tocado pelo gesto discreto e desprovido de solenidade, e pensei: M. Mayer deve ser da cepa dos franceses que se comportaram bem durante a ocupação alemã (1940-1944). Sem heroísmo armado, mas de algum modo observantes de regra tão básica quanto obsoleta: alucinar em cada indivíduo a humanidade inteira; tratar cada um como fim, nunca como meio.
M. Mayer nada sabe sobre este inoculado, a não ser a distinção da declinação polida “M. Lessa”. Bastaram o minuto efêmero e o espaço exíguo do cubículo – além do líquido e da agulha – para que uma curiosa mescla de impessoalidade e ânimo solidário compusesse o instante. M. Mayer é parte da miríade de operadores de solidariedade em ação pelo mundo. Tal como os que no Brasil persistem no combate à doença e às emanações sulfurosas do amigo-da-morte, assim como no cuidado do imenso contingente de vitimados.
Dimensão tácita
A não solenidade de atos praticados por operadores de solidariedade traz consigo uma intrigante questão: a ausência da declinação impostada do que seria o fundamento do ato solidário faz com que este tome a forma de um gesto automático e irrefletido. O contrário seria um tanto absurdo e ridículo: supor que qualquer ato ou gesto ordinário deva ser precedido de extenso e ruidoso exórdio, como justificativa e condição de inteligibilidade. Em outros termos, a boutade do M. Mayer, há pouco referida, – “c’est pour l’amitié franco-brésilienne” – vale pelo que vale: tão somente uma fórmula polida, que envolve a implicação particular de algo não-declarado, dotado de caráter geral e de incidência menos específica: vacinar a todos, não importa a quem. Foi essa, creio, a pequena e silenciosa metafísica a sustentar o ato solidário do farmacêutico kantiano – sans le savoir – da Avenue de Saxe.
O que parece subjazer a gestos e ações simples e comuns de solidariedade e cuidado é algo aparentado ao que o filósofo-químico húngaro Michael Polanyi (1891-1976) denominou como “conhecimento tácito”.[iv] Polanyi, por certo, falava de algo inerente a cada um dos humanos, a respeito da prática de um “conhecimento pessoal”: cada um sabe mais do que é capaz de dizer e é detentor e praticante de conhecimentos que sustentam uma capacidade determinada para agir. Algo, portanto, que não transparece nas palavras, mas emerge na própria ação, uma faculdade não fundada no saber dizer, mas no saber fazer.
A intuição de Polanyi, embora incida de modo específico sobre o processo de conhecimento, pode ser estendida para outros aspectos da experiência humana. Assim como há “conhecimento tácito”, é possível imaginar a presença de dimensões tácitas nas quais sentimentos morais e crenças de reciprocidade estão fixadas. Claro está que não se trata de supô-las naturais e inatas, já que resultam acumulações culturais fixadas – sabe-se lá como – ao longo do tempo, tanto em escalas individuais quanto intersubjetivas e compartilhadas. Falo de um complexo invisível de expectativas de comportamento e de crenças de reciprocidade e pertencimento que, embora presentes, não exigem enunciação explícita quando produzem seus efeitos.
Claro está também que tal esfera subjacente e tácita não é abrigo exclusivo para crenças e sentimentos de empatia. A empatia não se mede segundo marcadores excludentes de ausência ou presença, mas pela observação de seu alcance e de sua incidência: quando e onde está, com quais implicações, para quem se dirige, a quem é negada. A esfera tácita à qual me refiro está presente de modo mais difuso, na variedade de nossos juízos e ações dotadas de implicações práticas e morais. Cumpre a função de marcador primário do que nos parece aceitável ou não. Sua consistência transparece na fixação de limites do razoável e expectável: é o que se dá a ver em sentenças tão simples quanto quotidianas tais como “isto passou dos limites” ou “não é possível que isto tenha acontecido”.
Parece razoável supor que tais sentenças decorram de um sentimento de que algo já posto e estabelecido de modo tácito foi agredido por algum tipo de ação ou ato declaratório. A generalização de uma linguagem política na qual tudo pode ser dito, associada a exortações escatológicas e eliminacionistas, supõe a rarefação – ou mesmo desfiguração – de uma dimensão tácita.
A declaração de uma lídima representante da nova turma de ocupação do Palácio da Alvorada, em janeiro de 2019, dá bem o tom: “nós não conhecemos limites”. Temos aqui a límpida vocalização do desejo de furar uma dimensão tácita, cuja consistência mínima decorre do próprio princípio da existência de limites. Talvez tenha sido este o ato declaratório mais radical proferido pelos elementos da nova ordem, já que enuncia o princípio transcendental – ou a metafísica – dos atos singulares de destruição que se sucederam na ordem do tempo. Não ter limite é tomar-se a si como limite; é estabelecê-lo em cada ação, para ultrapassá-lo na seguinte. Puro situacionismo: em tal paraíso libertário, cada ato fixa seu próprio limite, para logo a seguir ser superado. O efeito final possível é o da radical reconfiguração da dimensão tácita a partir da naturalização da anti-regra de que “não há limites”.
Palavra podre
“O velho abutre é sábio e alisa as suas penas. A podridão lhe agrada e seus discursos Têm o dom de tornar as almas mais pequenas”. (Sophia de Mello Andersen, Livro Sexto, 1962)
Nada de novo. A destruição dá-se por palavras e atos. O modo da destruição reside na possibilidade da passagem direta ao ato: nenhuma mediação entre a palavra-preâmbulo brutal e sua mais pura consequência. Ademais, o uso da linguagem da ameaça e da ofensa parece seguir o modelo da peste, segundo uma lógica de infestação análoga à descontrolada expansão viral em curso. A analogia ajuda a compreender os motivos, digamos, mais profundos da percepção da pandemia como fato da natureza –“nada a fazer”; “e daí?”.[v] Há, no mínimo, uma analogia formal entre os modos da peste linguística e os modos da contaminação viral. Sob tal ângulo, o horror do amigo-da-morte à vacina e a defesa da “liberdade” fazem todo o sentido.
O filósofo e psicólogo escocês Alexander Bain (1818-1903) definiu em seu mais importante livro – The Emotions and the Will, de 1859 – a crença como um “hábito de ação”. Dotadas de conteúdos próprios, as crenças alimentam-se de sua capacidade prática de fixar hábitos e modelos de ação. Fixação que de modo algum prescinde do uso da linguagem, que tanto descreve quanto prescreve modos de agir. No próprio ato da nomeação das coisas, a palavra vale como preâmbulo de passagens ao ato e de futuros possíveis. A linguagem, ao mesmo tempo em que se move no interior da alucinação compartilhada de viver dentro de limites – a dimensão tácita –, pode dar passagem e abrigo à palavra podre, a fórmula que quando proferida destrói o próprio ambiente sobre o qual incide.
A palavra podre destrói, antes de mais nada, limites tácitos. Como modelo de ação, faz-se protótipo do hábito de destruir hábitos. Em sentido inverso, o modelo da destruição segue a potência e o roteiro da palavra podre, e é pela palavra que a coisa vem. O sujeito da palavra podre, mais do que algoz da gramática, é inimigo da semântica e da forma de vida a ela associada. Há palavras que caem no vazio, dissolvidas pela inércia do que já está posto e estabelecido. O traço distintivo da palavra podre é que entre si mesma e sua consequência prática não há mediação. Mesmo que não faça sentido, produz estragos. Mesmo repudiada, já foi dita. Seu emissor, ademais, é sujeito dotado de uma consistência notável: é capaz de fazer tudo o que diz, sem qualquer reserva mental.
Mesmo que não consiga realizar a completa passagem ao ato, pela ação de impedimentos externos, o emissor da palavra podre crê que o pode fazer e que isso significa liberdade. É o que basta para que seja muito perigoso, como operador de uma imaginação eliminacionista. É um obcecado pelo desejo de matar a linguagem; fazê-la coisa; suprimir qualquer conteúdo metafórico ou figurativo para a palavra “morte”. O emissor da palavra podre é, sobretudo, um sujeito dotado de ares proféticos: antecipa a todo tempo o cenário distópico de uma forma de vida adornada por dejetos e corpos sem vida.
É possível supor que a relação entre a dimensão tácita, à qual aludi, e a emissão da palavra podre não seja de exterioridade. O que a distinguiria, neste caso, seria o caráter enfático e brutal da emissão, mas não o conteúdo, um núcleo de sentido já abrigado por padrões de subjetividade formas de expressão habituais. Cenário um tanto trágico, de dissolução da própria lógica de dimensão tácita, que traz consigo um marcador de limite e de sinalização, ainda que imprecisa, de padrões de previsibilidade, enquanto a palavra podre se sustenta na premissa do não-limite.
Ao mesmo tempo, não é escusado imaginar que tal dimensão tácita abriga uma extensa zona de indiferença. No lugar da percepção da infestação, a suposição da indiferença como princípio tácito funda-se na descrença na capacidade performativa da palavra podre, como algo que não se deve levar a sério. Em certo sentido, o indiferente crê na consistência da dimensão tácita, a um ponto tal que julga improvável a contaminação, ou supõe que em tempo hábil a inércia e a amnésia da vida-como-ela-é acabariam por neutralizar o efeito de podridão. Ambas as hipóteses fazem sentido e, na verdade, não chegam a ser excludentes. Não é vedado imaginar a dimensão tácita como espaço irregular e heterogêneo, dotado de conteúdos e atitudes distintas a respeito do que é tácito. Em outros termos, a palavra podre tanto pode ser acolhida como nome apropriado para o que já é familiar – e, portanto, podre –, quanto ser recepcionada com indiferença e diluída sob muitas formas de apaziguamento.
Na verdade, o entendimento das razões e das formas do encaixe e da indiferença, diante da palavra podre, exige uma pré-história e uma etnografia da dimensão tácita: como foi preenchida, qual a variedade de atitudes que pode abrigar? Em notação direta, tratar-se-ia de refletir a respeito de torturante questão: como chegamos até aqui?
A complexidade da dimensão tácita revela, no entanto, a possibilidade de uma atitude distinta. É o que dá a ver a percepção da disseminação da palavra podre como algo que, para além da indignação política, produz um sentimento de perplexidade, a um só tempo existencial e cognitivo. Nesse caso, no lugar de indagar “como chegamos até aqui?”, a pergunta decorrente é “o que é isto no qual chegamos?”. Em outros termos, faltar-nos-ia a inteligibilidade deste aqui ao qual chegamos: o que é isto, o que é este aqui?
Do sentimento de perplexidade
O sentimento de perplexidade não conduz necessariamente à paralisia política. Ao contrário, faz todo o sentido buscar na ação cívica e política e no compartilhamento do espanto recursos para lidar com eventos extremos e inauditos. O fato básico e originador da perplexidade é o da ocupação do governo, pela via eleitoral, por parte de um extremista, ao fim de extensa campanha na qual de modo invariável e explícito disseminou podridão pelo país afora: valores e expressões em completa dissintonia com relação à acumulação civilizatória que julgávamos ter feito, a partir da década de 1980. O desejo de eliminação do oponente e do diverso foi apresentado sem reservas, ao lado do renitente elogio a torcionários da ditadura militar de 1964. O paroxismo deu-se no que se pode designar como o Pronunciamento da Ponta da Praia, no qual a poucos dias das eleições o chefe da extrema direita brasileira prenunciou exílio, prisão e morte para os oponentes de esquerda, sem qualquer reação por parte das autoridades eleitorais.[vi]
Não é o caso de reconstituir história tristemente sabida e vivida. O que aqui mais importa é enfatizar e explorar a dimensão da perplexidade cognitiva: do que se trata; o que é isto; como dizer o que é isto? O filósofo francês Jean-François Lyotard, em seu livro Le Différend, de 1984, comparou a Shoah a um terremoto que não apenas destruiu vidas, construções ou objetos, mas os próprios instrumentos de detecção e mensuração de terremotos.[vii] Não se trata de sugerir qualquer comparação possível entre a escala de infortúnio imposta ao Brasil pelo atual ocupante do governo da República e a que esteve presente no contexto da Shoah. Indico tão somente a fisionomia provável de um sentimento de desamparo cognitivo, que não impede ou elimina a necessária certeza da repulsa política e civilizatória, diante de configurações inauditas.
Nosso terremoto tomou a forma de um acelerado processo de desfiguração da democracia. A excelente imagem é da lavra da filósofa política Nadia Urbinatti, em livro luminoso, sob mesmo título. Não sendo a democracia um “modelo” estático, mas uma figuração móvel, seus elementos internos principais – as formas da soberania popular, os mecanismos legais e institucionais de controle do poder político e o universo da opinião – possuem movimentos e tempos próprios, afetados ao mesmo tempo por dinâmicas sociais mais amplas. A ideia de desfiguração indica a possibilidade de deterioração progressiva desses elementos: a redução do aspecto da soberania popular a uma dimensão puramente majoritária, o impulso à neutralização dos fatores de controle do exercício do poder e a infestação orquestrada da esfera da opinião, facilitada pela ocupação exercida pelos “meios sociais” no campo da (des)informação e difusão de valores.
A direção da desfiguração – seja ela um estágio para algo que ainda virá ou uma forma política própria, nutrida por sua própria excepcionalidade – não apresenta contornos nítidos: tudo leva a crer que se alimente de seu próprio processo, o que faz com que o seu “espírito” – no sentido dado por Montesquieu ao termo – seja ocupado por uma vontade de destruição do já configurado. Em poucas palavras, o fato da destruição, além do desastre implícito que carrega, é perturbador como objeto de conhecimento. Como lidar com isso?
Os tempos que antecederam a aceleração da desconfiguração abrigaram, entre os especialistas no estudo da política, um modo de conhecimento um tanto otimista. O mantra da “democracia consolidada” e do “funcionamento das instituições”, com poucas ilhas de reserva e ceticismo, constituiu o pano de fundo e o senso comum das avaliações especializadas no assunto. No jargão adotado pela ciência política conservadora, o sistema político como um todo foi por muito tempo percebido como uma dinâmica de ajustes e desajustes entre “incentivos” e “preferências”, como em um grande parque temático behaviorista. O horizonte do melhor dos mundos possíveis fixou-se no bom “desenho das instituições”, na santificação da “accountability”, na qualidade técnica dos processos decisórios e das políticas públicas, na sabedoria dos avaliólogos e na sagração das “boas práticas”. Programas de pesquisa sérios terão que – force majeure – por sob foco a “desfiguração”, no lugar da “consolidação”. Com efeito, uma das vantagens do redirecionamento – e não a menor – é a de poder reavaliar o saber comum a respeito do que pode significar a “consolidação” de uma democracia.
O nome do destruidor
A despeito da perplexidade que sobre nós se abateu, há o impulso inevitável de dar um nome ao inaudito: a emergência da coisa exige a atribuição de um nome. O nome, assim posto, não deixa de ser um efeito sonoro ou gráfico de nosso próprio espanto. Feitos de linguagem e espanto, o sentimento de não-familiaridade do mundo soa-nos como preamar da distopia.
Dar um nome ou um conceito a algo, para o filósofo alemão Hans Blumenberg, supõe um ato de tomada de distância. Trata-se de substituir um presente imediato – estranho e, de certo modo, indisponível – pelo recurso a um “ausente disponível”. Nessa chave, tanto o ato de nomeação como a elaboração metafórica podem ser vistos como provocados por uma insuportabilidade do “absolutismo do real”. A “ousadia da conjectura” – como ato originário de desprendimento – faz-se elemento inerente ao esforço de compreensão, na verdade um modo de evitar o confronto direto com os “meios físicos”. O trajeto, ainda segundo Blumenberg, decorre de uma exigência de autoconservação do sujeito humano, presente na lógica da elaboração conceitual. Um efeito de familiaridade decorre desse ato imaginário de apaziguamento dos “meios físicos”: ao dizer o nome e o conceito, afirmo que sei o que a coisa é; reapresento-a sob a forma de um nome e, desse modo, faço-a familiar ao integrá-la a um complexo já estabelecido de significados.
Os termos de Blumenberg, além de formidáveis, são úteis para iluminar o que aqui procuro por sob foco: “absolutismo do real”, “meios físicos”, “ausente disponível”, “ousadia da conjectura”.
A aplicação do conceito de “autoritarismo” para enquadrar os fenômenos que compõem o quadro em curso de ocupação do governo brasileiro bem exemplifica a projeção de um termo familiar sobre algo inaudito. Os problemas de inadaptação, contudo, são evidentes. O termo “autoritarismo” é uma ideia confusa e indistinta; diluída e aplicável a um conjunto variado de fenômenos, como efeito de uma inércia epistemológica. Parece ter vantagens de sinalização pelo seu conteúdo negativo, embora nem sempre tenha sido assim. Basta lembrar a significativa produção ensaística, no Brasil e alhures, na qual os termos “autoritário” e “autoritarismo” indicavam alternativas positivas à democracia liberal.[viii]
No Brasil da década de 1970, “autoritarismo” foi um eufemismo prudente mobilizado para dar nome ao fato da ditadura, com destaque para o importante livro editado em 1977 pelo brasilianista Alfred Stepan, denominado Brasil autoritário[ix]. Na década seguinte o conceito ganharia sobrevida por meio de copiosa literatura a respeito das “transições do autoritarismo para a democracia”, abarcando inúmeros “estudos de caso”, sobre países naquela altura ocupados por ditaduras. Na verdade, o nome autoritarismo em medida não desprezível continha um dos atributos indicados por Blumenberg, presentes na lógica conceitual, o da doação do nome com base em uma expectativa.
Dito de outro modo, “autoritarismo”, a partir dos anos 1970, foi antes de tudo o nome da ausência de democracia. Sua simples declinação trazia consigo o imaginário da urgência da recuperação – ou construção – da democracia. Ademais, os fenômenos autoritário e democrático são tidos como excludentes: a incidência do primeiro sobre o segundo tem a forma de uma intervenção exógena, segundo a criminologia política e penal dos golpes de estado. Processos de desfiguração da democracia são, ao contrário, endógenos, já que promovidos pela emergência eleitoral da extrema direita, através dos próprios mecanismos regulares da democracia e do Estado de Direito.
Uma refutação possível consistiria em dizer que nada disso impede que uma das trajetórias possíveis do processo de desfiguração da democracia em curso no Brasil seja o da implantação de um “regime autoritário”. Isso dependerá, contudo, de um acordo semântico, dotado da seguinte premissa: qualquer configuração política não-democrática deverá ter na palavra “autoritarismo” seu selo de inteligibilidade. Ainda que em chave sombria, o conceito faz-nos supor que sabemos o que nos aguarda. O termo traz ainda como seu efeito a diluição da desfiguração corrente em algo assemelhado a uma tradição. O assim chamado “bolsonarismo” seria, na verdade, um capítulo – ainda que o mais escaleno de todos – de uma “tradição autoritária”, o que semanticamente lhe atribui o lugar de uma reiteração, e não de uma novidade.
O recurso ao termo “fascismo” como “ausente disponível” e tal como a noção de “autoritarismo”, possui dupla valência: exprimir abjeção e dizer, ao mesmo tempo, do que se trata. Na verdade, no âmago de todo conceito reside uma aversão, e no caso do “fascismo” isto é evidente. Aprendemos com Primo Levi que o fascismo é polimorfo e não se limita a sua experiência enquanto regime político. Vejamos o que diz: “Cada época tem seu fascismo; seus sinais premonitórios são notados onde quer que a concentração do poder negue ao cidadão a possibilidade e a capacidade de expressar e realizar sua vontade. A isso se chega de muitos modos, não necessariamente com o terror da intimidação policial, mas também negando ou distorcendo informações, corrompendo a justiça, paralisando a educação, divulgando de muitas maneiras sutis a saudade de um mundo no qual a ordem reinava soberana e a segurança de poucos privilegiados se baseava no trabalho forçado e no silêncio forçado da maioria”.[x]
A passagem de Levi é eloquente no que possui de advertência à sobrevida do fascismo por meio da desfiguração de aspectos inerentes a sociedades democráticas: justiça, educação e mundo da opinião. Mas, ou bem o fascismo é um regime ou é um conjunto polimorfo de práticas, inscritas em regime não-fascista. Neste último caso, embora o termo “fascista” possa ser empregado como sinalizador de práticas específicas – distorcer informações, paralisar a educação ou corromper a justiça – não caberá a ele designar o espaço mais amplo no qual práticas fascistas estão presentes. O que mais se poderá dizer é “há fascismo”.
Mas, a natureza do regime que sofre ou tolera suas práticas permanece indeterminada, à luz da definição polimorfa de fascismo.
Se optarmos pela ideia de fascismo como regime ou como, digamos, “projeto”, para nomear nossas agruras presentes, os problemas não são menores. O fascismo histórico foi marcado pela obsessão de incluir o conjunto da sociedade na órbita do Estado.[xi] Sua execução deu-se por meio de um modelo de organização corporativa da sociedade, cujo elemento central foi constituído pelo trabalho e pelas profissões, e não mais pelo cidadão liberal-democrático, sujeito de direitos universais. O fascismo a isso contrapôs a ideia de um direito concreto, calcado na divisão social do trabalho. O horizonte da arquitetura institucional corporativista visava incluir toda a dinâmica social nos espaços estatais e eliminar toda a energia cívica e política associada à indeterminação liberal e democrática.
O quadro que se apresenta hoje ao Brasil é bem diverso: não se trata de por a sociedade dentro do Estado, mas de devolver a sociedade ao estado de natureza; de retirar da sociedade os graus de “estatalidade” e normatividade que ela contém, para fazer com se aproxime cada vez mais de um ideal de estado de natureza espontâneo. Cenário no qual as interações humanas são governadas por vontades, instintos, pulsões e no que mais vier, e no qual a mediação artificial é mínima, ou mesmo inexistente. Tal é o pano de fundo da ideia de destruição, que indica algo mais amplo do que a natureza dos regimes políticos.
Há cerca de três anos, quando comecei a refletir – mais – e escrever – menos – sobre a destruição em curso no país, comecei por me recusar a dar um nome a seu principal operador. Dei-lhe, na verdade, um não-nome: “o inominável”.[xii] Um ato, por certo, ficcional de pô-lo fora da linguagem ou, ao menos, fixá-lo no lugar reservado pelos sistemas linguísticos para o que não pode ser dito e acolhido no horizonte semântico comum: o espaço pré-linguístico dos indiscerníveis. Mas, não é disso que se trata. Negar à coisa a perspectiva da dicionarização vale bem como sinal e náusea ética ou estética, mas os “meios físicos” subsistem ativos e indiferentes à recusa de abrigo conceitual.
Há, contudo, mais do que idiossincrasia e tolice nessa recusa. Na verdade, há espanto diante da enorme dificuldade de lidar com algo que se mostra exatamente como é. O assim chamado “bolsonarismo” não tem o que esconder, do ponto de vista de seus elementos constitutivos, embora o tenha, do ponto de vista penal. Mostra-se tal como é: diante da morte, não a escamoteia; transforma-a em evidência incontornável do curso natural da vida. Nossos padrões habituais de conhecimento, ao contrário, supõem sempre uma opacidade nas coisas, princípio segundo os qual o que parece ser nunca é o que é; sendo o elemento velado aquilo que lhe dá sentido. Trata-se, com efeito, de um atavismo gnóstico presente em uma atração pelo velamento. A lógica conceitual consiste, em direção contrária, em revelar aquilo que o fenômeno esconde e que não manifesta como descrição de si mesmo ou no seu modo de aparição.
Mostrar-se como se é consiste em algo extremamente perturbador. Algo valorizado na experiência dos afetos: espontaneidade, pregnância, corporeidade, lugar de abrigo fácil de ocorrências sem nome e portadoras de seu próprio sentido, instantâneas e situacionais. Em outro mote, e pela perspectiva aberta pela filósofa norte-americana Elaine Scarry[xiii] em obra memorável, aprendemos o quanto a não opacidade está presente na experiência com a dor; o quanto é irrecusável e abriga o mais fundo sentimento possível de certeza.
O modelo da dor constitui a dinâmica dos eventos destrutivos, cujo efeito de verdade reside de modo direto em seus impactos imediatos. O nome conferido, como ausente distante, não lida com a verdade inscrita no ato e nos efeitos. No mais, chega com atraso: não pode deixar de ser um acréscimo pós-factual. Quando chega, os efeitos já lá estão: topografia de ruínas, escombros e expectativas destruídas.
Fenomenologia da destruição
Quando Hans Erich Nossack (1901-1977), em junho de 1943, retornou a sua cidade – Hamburgo – varrida literalmente do mapa por 1800 bombardeios ingleses, durante oito dias sucessivos –, não carregou consigo o conceito do que viu. Andou atônito pelas ruínas, em meio a restos orgânicos sem forma, efeitos do que poderíamos nomear como o paroxismo dos “meios físicos”: a destruição de uma cidade inteira. Registrou imagens da untergang: destruição, afundamento, abismo; um fundo mineralizado, constituído por escombros e restos humanos derretidos ou carbonizados. Quando escreveu seu principal livro, Untergang de 1948, registrou coisas do seguinte tipo: “os ratos ousados e gordos, que brincavam nas ruas, mas ainda mais nojentos eram as moscas, enormes e verdes irridescentes, moscas como nunca se vira antes”.[xiv]
A descrição de Nossack foi considerada por W. G. Sebald como modelo de uma história natural da destruição.[xv] Em uma aproximação com os termos de Blumenberg, tal história pode ser tida como a narrativa mais direta possível do predomínio dos “meios físicos”. É preciso reconhecer a vantagem epistemológica da observação da destruição. A sensibilidade analítica que resulta da observação e de relatos sobre eventos extremos constitui ótimo treinamento para falar da destruição. Deveriam constar como leituras obrigatórias dos cursos de “Metodologia”. Atos de destruição valem pelo que são: atos de destruição. Seus operadores fazem o que dizem e dizem o que fazem: sintoma de um vínculo direto entre os “meios físicos” e a operação da palavra podre. Primo Levi nisto veria uma certa lógica da ofensa: produzir dor e castigo, por certo, mas também destruir pela palavra precisa. Outra imagem de Primo Levi permite a passagem para um exercício final de observação da destruição, a de “ir ao fundo”.[xvi]
O que pretendo fazer é indicar a abertura de abismos, por meio dos quais a destruição faz seu trabalho de afundamento. Não se trata de conferir à destruição qualquer dimensão metafísica ou sublime. O termo vale aqui como um sinal – uma seta – apontada para circunstâncias de desconfiguração da malha normativa que, desde a Constituição de 1988, prefigurou uma forma de vida. “Destruição” é o nome que se dá a tal destruição. Mais do que revelar um nome cifrado, capaz de revelar seus âmagos mais profundos ou “projetos”, cabe mostrar suas circunstâncias e áreas de incidência. Os fatos primários são legionários. O que farei a seguir não é tanto registrá-los, e sim proceder à apresentação não exaustiva de configurações mais gerais sobre as quais operadores de destruição exercem seus efeitos. Pela ordem, tais configurações podem assim ser apresentadas: (i) Língua, (ii) Vida, (iii) Território e Populações Originárias e (iv) Complexo Imaginário-Normativo.
Língua
Um dos mais notáveis textos a respeito da experiência do III Reich foi elaborado por Victor Klemperer, judeu convertido ao protestantismo e professor de literatura românica na Universidade de Dresden. Conversão de pouca valia, já que por ter permanecido na Alemanha depois de 1933, sofreu toda sorte de perseguições e interdições. Acabou por escapar ao extermínio graças ao devastador bombardeio de Dresden, ocorrido em fevereiro de 1945, que desorganizou o sistema de transporte para os campos da morte. Klemperer deixou como legados um valioso diário e uma obra prima, à qual conferiu um título em latim: Lingua Tertii Imperii, mais conhecida como LTI ou Língua do Terceiro Reich, segundo a edição brasileira.[xvii] Ali, seu autor recolheu diligentemente, durante os 12 anos de vida sob o nazismo, os impactos da fala podre nazista sobre a língua alemã, que inventou uma variante própria da língua, praticada por adeptos e pelos que a isso foram forçados.
Klemperer preocupou-se com novos termos, com eufemismos e com distorções de sentido. Julgo de grande relevância recolher registros da fala podre, segregados pelos operadores da destruição em curso hoje no Brasil. No entanto, trata-se neste caso menos de inovação vocabular do que de uma consagração da linguagem como portadora imediata de seus efeitos de violência. É o que aqui procurei designar pela expressão palavra podre: um ato de fala que quando proferido degrada o espaço semântico.
Confesso que tenho pudor em dar exemplos diretos, mas vá lá: basta lembrar o que disse um dos mais destacados operadores de destruição, um deputado federal e filho do atual ocupante da presidência da república, ao referir-se a colegas deputadas como “portadoras de vaginas”. Trata-se, na verdade, de metonímia podre, cuja emissão contém fortes elementos de infestação: desumanização, misoginia, sexismo, brutalidade inaudita. Basta-me este terrível exemplo para que fique claro o alcance da palavra podre. Como toda palavra ou expressão é sempre precedida por intuições genéricas, é de se imaginar o espectro de podridão por elas abrigado.
De modo mais abstrato, a palavra podre é uma modalidade de expressão que traz consigo seu efeito imediato, seja como preâmbulo de uma ação violenta, como aviso prévio de uma ação deletéria ou como potência de infestação do campo simbólico. Por certo, não inventou seus termos e muitas de suas fórmulas. Compulsório reconhecer que elas estão no meio de nós. A novidade na matéria é a ocupação efetuada por essa linguagem de espaços de emissão dotados de grande capacidade de disseminação. O chefe do consulado, por certo, não inventou o sujeito violento que usa as palavras como preâmbulo do golpe físico e doloroso. O que trouxe de perturbador foi a sistematização do uso da palavra podre e sua entronização nas falas da República. Valem como declarações sobre o “estado da nação”. Espero que todos esses atos de fala estejam a ser recolhidos por diligentes pesquisadores. Vai ser um arraso o dia em que publicarmos, em edição crítica, anotada e comentada, as obras completas do Destruidor.
Não há que confundir a palavra podre com a mentira. Esta, mais do que humana, é inerente à política. No limite, é vulnerável à refutação fática. Tal não se dá com a palavra podre que, neste sentido, é invulnerável ao desmascaramento. Isso se dá pelo fato de que os operadores capazes de julgar e aferir a palavra podre são, eles mesmos e de modo crescente, delimitados pela semântica da podridão. Há, pois, um halo de podridão transcendental que acolhe e justifica proposições podres específica. Assim se forma um repertório explícito e implícito, segundo o qual a palavra podre infecta tanto a língua ordinária quando desenha os contornos da faculdade do juízo.
Vida
A centralidade do tema da vida, no horizonte da filosofia política moderna, foi posta de modo definitivo por Thomas Hobbes, no século XVII. A ele devemos o achado de que o Estado é um animal artificial, instituído pelo engenho humano, dotado da justificativa básica de proporcionar proteção à vida. Longe de ser algo vago e genérico, tal proteção decorre do horror à possibilidade da morte precoce e violenta, prêmio a ser conquistado pelos praticantes e adeptos de uma vida absolutamente livre e desprovida de fatores de contenção, tanto externos como internos aos sujeitos humanos. Tido como absolutista – coisa que foi por razões de circunstância –, para Hobbes, absoluta deve ser a adesão a um pacto comum de proteção da vida.
O que cabe reter desse rápido resumo é a ideia de que o tema da vida excede a dimensão biológica e inscreve-se no fundamento da própria legitimidade do poder político. Em outros termos, a vida passa a ser uma figura do direito público, e não apenas algo restrito à natureza, à providência e a cada corpo biológico. O argumento hobbesiano, fixado na prosódia da filosofia política, pode ser tomado como a metafísica política de um duplo processo, errática e não intencionalmente configurado no experimento do mundo moderno: o longo processo civilizador, tal como descrito por Norbert Elias – com seus múltiplos mecanismos de mediação e redução da letalidade violenta nas relações sociais – e o experimento do Estado de Bem-Estar, cujo caráter imperioso foi finamente posto por Karl Polanyi.[xviii] Em uma fórmula mais precisa: o tema da vida está associado ao controle da violência – ou o predomínio dos “meios físicos”, na letra de Blumenberg – e à minimização do sofrimento, do desamparo e do insolidarismo.
Julgo não ser difícil vislumbrar o quanto a perspectiva da redução da letalidade violenta é afetada pelo elogio aberto do armamentismo e de medidas administrativas para passagem ao ato. A destruição induzida pela palavra podre conta cada vez mais com sua retaguarda armada, com expansivo poder de fogo, associada ainda à consolidação e ampliação de um poder miliciano, uma das retaguardas de apoio do processo mais geral de desfiguração da democracia. Da mesma forma, a dimensão do Estado de Bem Estar Social torna-se mais vulnerável do que nunca. Seu peso inercial, por certo, dificulta desabamentos abruptos, mas o processo de desfiguração consta da agenda.
O âmbito de ataque à perspectiva da vida como valor e marcador básico de legitimidade do Estado tem seu cenário nobre na “gestão” da pandemia. Eis aqui um campo privilegiado para a observação da destruição do comum. A pandemia fornece-nos a imagem e a realidade da presença de um espaço comum. Um domínio, por certo, marcado pela negatividade, tal como nas “comunidades de aflição”, segundo a expressão sagaz do antropólogo britânico Victor Turner[xix]. Albert Camus, em seu clássico livro A peste, de 1947, escreveu sobre a praga que assolou a cidade de Oran, na então Argélia francesa.[xx] Pela ação de seu principal personagem, o Dr. Rieux, o infortúnio comum negativo propicia sua tradução enquanto oportunidade de solidariedade. O comum negativo da doença e o comum positivo dos cuidados mantém entre si relações de complementaridade.
O negacionismo representa, mais do que uma atitude sanitariamente letal, uma negação do comum. Negar a doença é um modo direto de negar a relevância de uma esfera marcada pela interdependência dos sujeitos e pela possibilidade de estabelecer laços extensos de solidariedade e reciprocidade. A liberdade do “homo bolsonarus” representa a negação do comum.[xxi] A circunstância da morte, devolvida à natureza perecível dos corpos individuais, faz com que a vida deixe de ser uma questão afeita também ao Direito Público.
A extensão da letalidade é tristemente mensurável, assim como a escala dos sequelados e traumatizados. Já a dissolução do comum e a disseminação oficial do insolidarismo são de difícil medição. Subsistem como fatores silenciosos e constantes, essenciais para a boa obra da desfiguração.
Território e populações originárias
Há um sentido inequívoco no tratamento do território e da questão ambiental que implica uma redefinição normativa do espaço brasileiro. Trata-se de um deslocamento da ideia de país– como experimento cultural denso e duradouro – em direção à imagem de lugar– uma categoria espacial que traz consigo a possibilidade da apropriação física. A ideia de país é uma abstração, a de lugar um ponto geográfico realmente existente. A extensão da diferença entre país e lugar pode ser aferida pelo grau de inclusão da natureza em uma malha normativa, que abrange tanto dimensões do direito formal quanto dos modos tradicionais de conhecimento e manejo dos recursos naturais. A ideia asséptica de lugar dispensa a longa e lenta precipitação de sentidos sobre o espaço ao longo do tempo, que define a ideia sempre confusa e impura de país.
O genial artista plástico sul-africano William Kentridge, em sua obra fortemente marcada pela observação da territorialidade de seu país durante o apartheid desenvolveu uma fina teoria da paisagem, por ele representada como experiência espacial e sensória na qual formas de vida estão ocultas. Diz-nos Kentridge: há muitas coisas na paisagem: corpos decompostos, incorporados à terra; uma terra que é lugar de combate, disputa, segregação racial. Em suma, a paisagem como lugar no qual memórias permanecem como depósitos coagulados; conjunto de experiências entranhadas, como que misturadas à terra.[xxii]
A devastação ambiental vai na direção inversa dessa teoria da paisagem. O predomínio do lugar, sem o encantamento que impunha aos primeiros estrangeiros, a partir do século XVI, exige a possibilidade de território aberto à maior utilização possível, segundo lógicas ditadas pelos próprios utilizadores, em ato de pura liberdade. Expulsar o território do Direito, para não falar do apagamento dos modos tradicionais de ocupação; devolver a terra à natureza, entendendo pelo termo sua absoluta disponibilidade para fins de exploração econômica. O desmatamento desenfreado é, nesse sentido, imparável, pois conta com uma miríade de operadores de destruição, encorajados pela promoção de seus valores e interesses ao âmbito das razões de Estado.
Os povos originários estão entre os principais inimigos dos ocupantes do governo da República, sintoma, antes de tudo, da recusa em admitir uma pluralidade de formas de vida no território comum do país e do abrigo da crença etnocida no imperativo de sua “aculturação”. Entre invasores de reservas – como sujeitos de uma liberdade natural – e povos indígenas – sujeitos de Direito como ocupantes legítimos de reservas, reconhecidos em sua especificidade cultural e, por tal razão, receptores de proteção estatal -, a opção assumida não deixa margem a dúvida. Assim como o território, os povos indígenas devem ser expelidos da malha normativa que, em alguma medida, contém mecanismos e normas de proteção e regulação.
O trato do território e das populações originárias por parte dos atuais ocupantes da República é marcado por uma inclinação distópica e atávica: fazer da defesa da liberdade a reposição das condições originárias da colonização: exploração do território e preação de índios. A nostalgia do que teria sido uma liberdade irrestrita para lidar com a terra, a natureza e com seres humanos compõe o núcleo arcaico do programa da desfiguração. 4. Complexo Imaginário e Normativo:
Reúno neste último item vasto conjunto de dimensões dotadas de uma propriedade comum: representam o peso da abstração na configuração do país. Em outros termos, nossa “abstratostera” e reserva de negação do predomínio dos “meios físicos”. Aqui inscrevo tanto a dimensão dos direitos constitucionais, que definem um piso normativo para a figuração do social, quanto novos direitos expansivos no âmbito dos direitos civis. As características da Carta de 1988, concebida como imagem do que o país deve ser e não restrita ao estabelecimento de regras de um jogo definido a montante, repuseram a preeminência do Direito Público para o desenho geral do país[xxiii]. Em termos mais específicos, a Carta representou a constitucionalização plena de direitos sociais, políticos e individuais, em torno da ideia de “estado democrático de direito”. Apesar do grande número de emendas sofridas, a Carta contém barreiras importantes de contenção do ímpeto da desfiguração, ainda que esteja longe da invencibilidade. A ocupação por parte da extrema direita de posições importantes do âmbito do sistema de justiça e no campo dos direitos humanos indica o quanto o arranjo abstrato dos direitos fundamentais constitui um adversário a ser abatido.
A esfera abstrata inclui, ainda, os âmbitos da Cultura e da Educação. Além das evidências declaratórias, o primeiro deles foi neutralizado por inédita imobilização institucional. Na segunda, um dos principais projetos da pasta diz respeito ao “homeschooling”, também fundado no princípio da “liberdade”, o que significa neste caso o pleno controle familiar sobre a educação dos filhos. As famílias, assim como as igrejas, são definidas como lugares privilegiados de socialização, compondo assim um quadro geral de desfiguração do comum.
O âmbito do Trabalho, embora duro como a pedra, não é inteiramente isento da presença de fatores aqui apresentados como abstratos. Assim como há diferença entre país e lugar, é possível imaginar a mesma lógica de oposição para as ideias de trabalho e emprego. A primeira, mais do que limitada ao domínio ocupacional, é uma categoria cultural e cívica; a segunda pertence ao espaço semântico da economia e do mercado.
O “trabalho” foi uma categoria central na experiência do país a partir da década de 1930. Daí em diante, o tema jamais esteve ausente no quadro constitucional brasileiro: todas as Constituições o recepcionaram e alargaram o âmbito dos direitos sociais instituídos durante aquela década. Da mesma forma, o tema teve abrigo permanente no âmbito do Poder Executivo, a partir da criação do Ministério do Trabalho. A extinção do mesmo, no atual consulado, foi precedida por laborioso trabalho de preparação, efetuado pelo governo Temer, que alterou aspectos importantes da Justiça do Trabalho e inviabilizou a sustentabilidade da maior parte da malha sindical brasileira, com o fim do imposto sindical. Em nome da liberdade, o direito de organização sindical foi gravemente mitigado. A perspectiva da desfiguração do Direito do Trabalho, embora de iniciativa de consulado anterior, foi plenamente assumida pelo corrente. A liberdade natural celebrada pelos atuais ocupantes recepciona, no âmbito da questão trabalhista, os ditames da liberdade ultraneoliberal, tradicional cláusula pétrea dos que vieram ao mundo a negócios.
A desfiguração possível da democracia pode ser detectada em diversos espaços aqui não considerados. Há, com efeito, um trabalho árduo a fazer, qual seja o da sistematização de todas as ações que, em seus âmbitos específicos, executam a obra da destruição do que houve de melhor no país, recepcionando tudo o que houve e há de pior. É o que deve ser feito, para que procedamos à imperiosa desconstrução da destruição.
As desfigurações são móveis. Muito difícil antever sua fixação em alguma forma permanente. Tal como está, alimenta-se de sua capacidade diária de produzir efeitos de destruição, tanto por atos como por palavras. Não é preciso um conceito mágico e elucidador da coisa. O que importa é seguir os sinais da destruição e mostrá-los de modo tão incansável quanto sistemático. Se calhar, o conceito da coisa é a face do Destruidor, o “lugar de fala” por excelência da palavra podre.
*Renato Lessa é professor de filosofia política da PUC-Rio. Autor, entre outros livros, de Presidencialismo de animação e outros ensaios sobre a política brasileira (Vieira & Lent).
Texto baseado em roteiro de conferência feita na École des Hautes Études em Sciences Sociales (Paris, 29/03/2021). Versão condensada do mesmo foi publicada na revista piauí (edição 178, julho de 2021).
Notas
[i] Ver Hans Blumenberg, Paradigmes pour une métaphorologie, Paris: Vrin, 2006 e Idem, Descripción del Ser Humano, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2010 e Idem, Teoria da não conceitualidade, Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2013.
[ii] Ver Mary Douglas, Pureza e Perigo, São Paulo: Perspectiva, 2010 (1ª edição 1966).
[iii] A expressão –“desfiguração da democracia” – é da lavra da filósofa política Nadia Urbinatti, em seu livro tão brilhante quanto incontornável Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the People, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014.
[iv] O tema foi desenvolvido por Michael Polanyi em obras exemplares, tais como Personal Knowledge, Londres: Routledge, 1958 e The Tacit Dimension, Nova Iorque: Doubleday, 1966.
[v] Expressões do ocupante do Poder Executivo brasileiro, diante de interpelações a respeito da escalada de vitimados da pandemia.
[vi] A expressão “ponta da praia” foi usada pelos agentes da repressão política, durante a ditadura militar (1964-1985), para se referir a um estabelecimento militar, na restinga da Marambaia, próxima à cidade do Rio de Janeiro , base logística para o desaparecimento de presos políticos.
[vii] Ver Jean-François Lyotard, Le Différend, Paris: Les Editions du Minuit, 1984.
[viii] Vale citar, entre outro, para o Brasil o livro de Azevedo Amaral, Estado Autoritário e Realidade Nacional, Rio de Janeiro: José Olympio, 1938, um dos mais importantes para compreendera virada autoritária dos anos 1930. Para ótima análise, ver Angela de Castro Gomes, “Azevedo Amaral e o Século do Corporativismo de Michail Manoilesco no Brasil de Vargas”, in:
Sociologia&Antropologia, Vol. 2, # 4, pp. 185-209, 2012.
[ix] Alfred Stepan (Ed.), Authoritarian Brazil: Origins, Policies, and Future, New Haven: Yale University Press, 1977.
[x] Cf. Primo Levi, “Um passado que acreditávamos não mais voltar”, In: Primo Levi, A Assimetria e a Vida: artigos e ensaios, (Org. Marco Belpoliti), Tradução de Ivone Benedetti, São Paulo: Editora da Unesp, p. 56
[xi] Para tratamento mais extenso dessa questão, ver Renato Lessa, “Presidencialismo de Assombração: autocracia, estado de natureza, dissolução do social (notas sobre o experimento político-social-cultural brasileiro em curso)”, In: Adauto Novaes (Org.), Ainda sob a tempestade, São Paulo: Edições SESC, 2020, pp. 187-209.
[xii] Cf. Renato Lessa, “O inominável e o abjeto”, Carta Capital, 3/8/2018.
[xiii] Ver Elaine Scarry, The Body in Pain: the making and the unmaking of the world, Oxford: Oxford University Press, 1985 e, também, J.-D. Nasio, A dor física: uma teoria psicanalítica da dor corporal, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
[xiv] Ver Hans Erich Nossack, The End: Hamburg, 1943, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2006.
[xv] Ver W. G. Sebald, Guerra aérea e literatura, São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
[xvi] Sobre a ideia de “ofensa”, ver Primo Levi, Os afogados e os sobreviventes, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004, em especial o capítulo “A memória da ofensa”. Sobre a expressão “ir ao fundo”, a referência é Primo Levi, É isto um homem?, São Paulo: Rocco, 1988, em particular o capítulo “No fundo”.
[xvii] Ver Victor Klemperer, LTI: A Linguagem do Terceiro Reich, Rio de Janeiro: Contraponto, 2009. Para os diários, há edição brasileira abreviada: Victor Klemperer, Os Diários de Victor Klemperer, São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
[xviii] Ver respectivamente Norbert Elias, O Processo Civilizador, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990 (1ª ed. 1939) e Karl Polanyi, A Grande Transformação, Rio de Janeiro: Campus, 2011 (1ª ed. 1944).
[xix] Ver Victor Turner, The Drums of Afliction, London: Routledge, 1968.
[xx] Ver Albert Camus, La Peste, Paris: Gallimard, 1947.
[xxi] Sobre o “homo bolsonarus”, ver Renato Lessa, “Homo Bolsonarus”, serrote 37, 2020.
[xxii] William Kentridge, “Felix in Exile: Geography of Memory”, In: William Kentridge, William Kentridge, London: Phaidon Press Limited, 2003, p. 122.
[xxiii] . Para uma ótima análise do aspecto programático da Carta de 1988, ver Gisele Citadito, Pluralismo, Direito e Justiça Distributiva, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999.