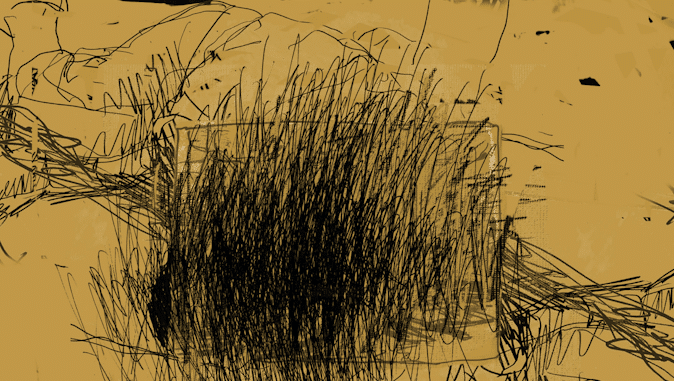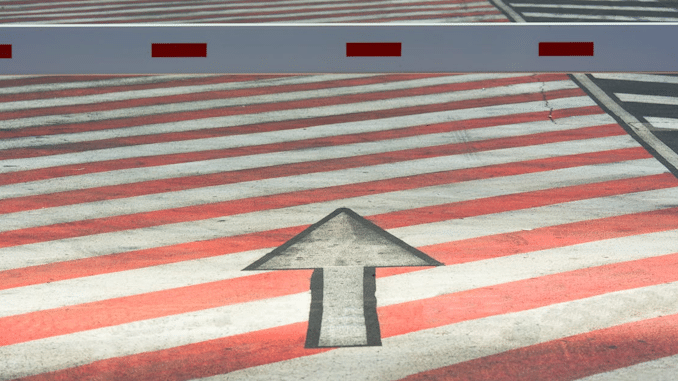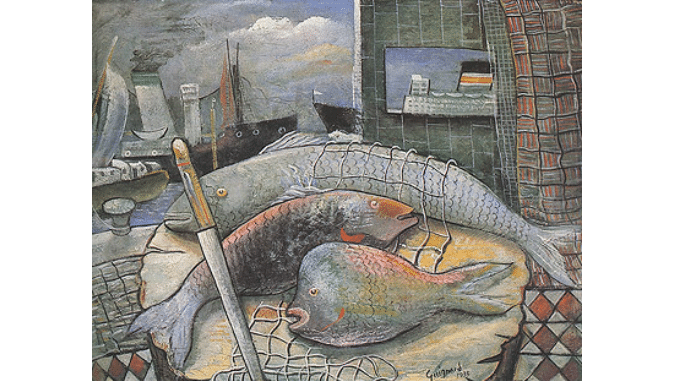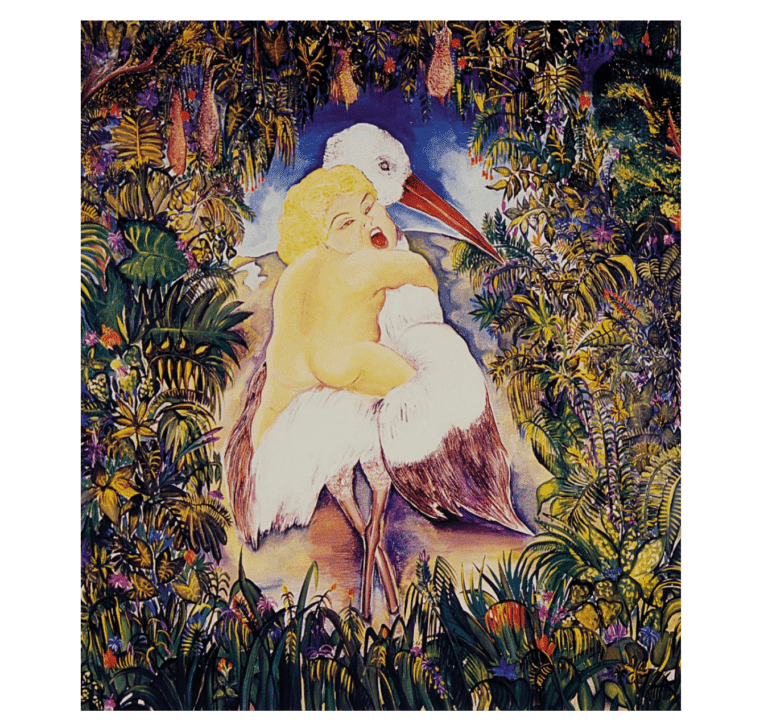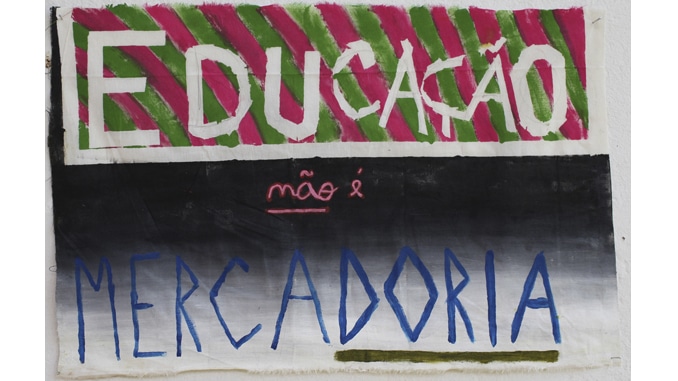Por LUCIANO GATTI*
Prefácio do autor ao livro recém-lançado.
A caminho
1.
Este livro se dedica a examinar uma questão tão antiga quanto presente. A arte, nas suas mais variadas formas e expressões, ao refletir sobre nossa experiência, toma parte no processo de constituí-la. Mesmo com todas as crises – crises do sujeito, do sentido, da história, da experiência mesma – nosso senso comum ainda identifica a experiência à sabedoria acumulada ao longo de uma vida. Somos levados a acreditar que experientes são aquelas pessoas que viveram, aprenderam e têm algo de especial a contar.
O arcaísmo dessa convicção é evidente, mas não lhe rouba toda a sua verdade. Há muito essa não é uma equação simples. Quase cem anos atrás, Walter Benjamin, observando que os soldados da Primeira Guerra voltavam para casa pobres em experiências a comunicar, diagnosticou a crise dessa noção tradicional de experiência, pautada pela transmissão, de geração a geração, de um saber elaborado à medida que era recordado, verbalizado, atualizado.[i]
A cadeia da tradição é interrompida quando uma destruição sem precedentes torna o mundo de uma geração irreconhecível para a geração seguinte e, no lugar da experiência compartilhada, instaura o silêncio caraterístico do choque, do trauma, da desorientação. Com a força de um concentrador temporal inédito, a Primeira Guerra consumava transformações que vinham de longe e se confundiam com o advento mesmo das sociedades modernas.
A arte moderna, ao menos desde Charles Baudelaire, constitui-se como consequência e autoreflexão desse processo. Ao mesmo tempo que elege o novo – a cidade grande, a multidão, o indivíduo isolado – como seu objeto por excelência, ela demonstra uma profunda consciência a respeito da ruptura com o passado, seja nas condições de vida, seja nos modelos e gêneros consolidados para o trabalho artístico. A suspeita em relação às formas herdadas da tradição – parodiadas, negadas, reviradas pelo avesso – lhe é inerente.
Mas é também nesse terreno acidentado que a questão original da experiência, nunca perdida de vista, ganha novo sentido. A respeito de Charles Baudelaire, Walter Benjamin se perguntava como ele conseguiu sustentar a lírica em uma experiência para a qual a vivência do choque se tornou a norma.[ii] O mundo que atinge o indivíduo na forma de estímulos intensos, dos quais pouco se conserva, revela-se um adversário ao acúmulo duradouro de dados na memória, fator imprescindível à integração das circunstâncias exteriores à experiência pessoal. Sem derrotismo e avesso às tentativas restauradoras, Charles Baudelaire fez dos obstáculos à experiência a razão de ser da arte moderna, deixando-os como legado a seus sucessores.
2.
Ao colocar essas questões em foco, este estudo busca desenvolver a hipótese de que a obra de Samuel Beckett, vasta e diversificada, herda tal desafio à experiência, dando a ele contornos próprios. Uma vez que sua obra se esquiva da reflexão direta sobre a matéria história, o encaminhamento é dos menos óbvios, mas dos mais coerentes e significativos. Os primeiros trabalhos – os contos de Mais Pontas Que Pés e o romance de estreia, Murphy – ainda se moviam no cenário moderno por excelência, a cidade, mas logo seu trabalho se transfere para a paisagem não nomeada, o quarto sem endereço, a subjetividade esvaziada, o mundo sem traços reconhecíveis.
Suas peças, desde Esperando Godot, se passam em um local sem coordenadas geográficas, um não-lugar sem data que, se dificulta a localização necessária a qualquer realismo, favorece a alegorização universalizadora que tomou conta da primeira recepção. O enigma se convertia em ilustração, seja de circunstâncias ou temores históricos imediatos, da destruição pela guerra à hecatombe nuclear, seja da condição humana na vertente metafísica do absurdo.
Na contramão de simbologias, alegorizações ou atualizações forçadas que pouco contribuíram para a compreensão da obra beckettiana, ainda que tenham facilitado o primeiro acesso a ela, este estudo não a aborda pela via da exemplificação de situações históricas, mas pela investigação da historicidade dos meios empregados por Samuel Beckett para construí-la. Desde a paródia afiada de procedimentos realistas em seus anos de formação, Beckett contestou os recursos de uma tradição literária para configurar um mundo verossímil e habitá-lo com personagens complexos, problemáticos, situados no espaço e no tempo.
Mas somente após a Segunda Guerra, quando inicia seu período mais produtivo e de fato se torna o escritor que almejava ser, ele extrai todas as consequências de seu diagnóstico acerca do “colapso do objeto”, uma contestação própria e incisiva do projeto moderno de inventar formas para capturar o mundo exterior e reafirmar a soberania do sujeito. No caminho que o leva de Molloy a O Inominável, início e fim de sua trilogia romanesca do imediato pós-guerra, Samuel Beckett demole, uma a uma, todas as convenções remanescentes do realismo literário, desde a forma biográfica que moldou o romance moderno até o encobrimento ilusionista da origem e posição da voz narrativa que tudo vê e compreende.
A questão da experiência como relação conflituosa de sujeito e mundo, contudo, permanece, agora com um grau inédito de problematização, examinada em seu avesso, nos vestígios deixados pelo mundo em um sujeito apartado, cindido em vozes interiores que não se afinam em uma narrativa coerente da vida transcorrida. A experiência expõe-se cifrada apenas, nas fronteiras difusas entre a interioridade esvaziada desses personagens de memória enfraquecida ou traiçoeira, constantemente levados à invenção como recurso derradeiro para reapropriar-se de seu passado, e a exterioridade estranha, reificada, resultado de uma subjetividade incapaz de imprimir sentido ao mundo.
O título deste trabalho – Rastros do mundo – busca circunscrever tal problema. Rastros aludem aos restos deixados por um processo histórico que abalou a tradição e aquilo que a modernidade buscou instaurar em seu lugar, do indivíduo livre à construção de um mundo racional e coerente. Mas também é na esteira dos mesmos rastros deixados pela história que Samuel Beckett, lendo vestígios como indícios, busca equações possíveis entre sujeito e mundo nessa terra arrasada.
Ler os rastros nos dois sentidos permite não apenas encontrar em Samuel Beckett mais uma formulação do diagnóstico das crises do sujeito e da experiência, mas também investigar o que ele de fato foi capaz de realizar com os meios à disposição. Sua obra, afeita ao fracasso e à escassez de recursos, é das mais ricas nesse aspecto. Com coerência ímpar, ele investigou a fundo especificidades e potencialidades de cada uma das artes que atraíram sua atenção, o que lhe deu condições inegáveis de promover o desenvolvimento técnico avançado de todos os gêneros com os quais trabalhou, desde os mais incrustados na tradição, como o romance e o drama, até os mais recentes, no rádio e na televisão.
Que o problema da experiência perpassa todos evidencia-se pelo emprego de procedimentos repetitivos que atestam, com seu reiterado recomeçar, um sabotador de avanços e conclusões, a dificuldade de estabelecer continuidades e estruturar o tempo a partir de relações de acúmulo e de aprendizado. A dupla leitura dos rastros aplica-se também à repetição. Ao fazer dela o princípio formal de tantas obras, situando-a no ponto mais avançado da técnica artística, Samuel Beckett transforma os empecilhos à experiência em dispositivos para a sua configuração. É o que permite discernir em sua obra impedimentos e condições para a configuração da experiência diante dos obstáculos mais extremos.
3.
Essas questões visam a abrir uma trilha própria em meio à recepção rica e diversificada de uma obra minuciosamente investigada, a respeito da qual parece que resta pouco ou nada a dizer. Samuel Beckett, que enfrentou dificuldades para publicar os primeiros textos e só arduamente encontrou uma voz própria, tendo reconhecimento relativamente tardio, ainda que amplo e consolidado, não teria do que reclamar diante da atenção que seu trabalho tem recebido.[iii]
Os anos posteriores à sua morte testemunharam uma guinada empírica da pesquisa especializada, estimulada pela publicação, em 1996, da biografia de James Knowlson, Damned to fame – que contou com a colaboração do próprio Beckett – e pela maior disponibilidade, nos arquivos das universidades de Reading, Dublin e Austin, de manuscritos e cadernos de anotações, tais como as “Notas de filosofia”, as “Notas de psicologia” e os “Cadernos de Whoroscope”.
As fontes deram um forte impulso a estudos genéticos e filológicos, bem representados pelos estudos de Mark Nixon, Matthew Feldman e Chris Ackerley e, não menos importante, pela edição recente dos quatro volumes de cartas selecionadas. Esses materiais propiciaram a valorização adequada dos escritos de juventude e evidenciaram o quanto Beckett, em seus anos de aprendizado, se embebia da tradição literária e filosófica europeia, o que permite detalhar com maior precisão as leituras de autores tão diversos quanto Descartes e Schopenhauer, Geulincx e Mauthner, entre muitos outros, e assim calibrar eventuais conexões intertextuais de sua obra com a tradição na qual ela se forma.
A investigação genética, como qualquer outra aliás, não está livre de distorções, como bem ressaltou Anthony Uhlmann em polêmica com Feldman, o autor de Beckett’s Books,que esquadrinhou a biblioteca de Beckett e, bom e comportado filólogo, buscou restringir a referência intertextual aos casos de evidência disponíveis em material de arquivo.[iv] A estratégia, rebateu Uhlmann, limitaria arbitrariamente o campo de leituras de Beckett ao averiguável pelas fontes que sobreviveram. Além disso, obrigaria os críticos a necessariamente partirem de um material lacunar para filtrar leituras nos textos publicados, o que implicaria uma relação problemática de causa e efeito entre as leituras do autor e a sua produção literária. No limite, a busca pela evidência textual resultaria apenas na comprovação de que Samuel Beckett teria lido determinados textos, sem nada acrescentar à compreensão daqueles que ele mesmo escreveu.
Antes de tudo, a polêmica evidencia que Samuel Beckett reiteradamente inseriu em seus textos referências tiradas de suas leituras, e das mais variadas formas: da menção a nomes próprios, como o de Geulincx em Molloy, a citações sem aspas de fórmulas e imagens bíblicas, pictóricas, literárias ou filosóficas; do “ser é ser percebido” de Berkeley, evocado em Film, única incursão de Beckett pelo cinema, à tela de Caspar David Friedrich, Dois homens contemplando a lua, inspiração possível para Esperando Godot.
Além disso, o debate também nos previne contra qualquer relação ingênua com essas fontes. Basta mencionar quão problemático seria isolar uma referência do conjunto da obra e interpretá-la segundo seu contexto original, desconsiderando a alteração de seu sentido primeiro por aquele criado no interior do texto de chegada. Em nome de uma interpretação fidedigna das fontes, corre-se aí o risco de perder de vista uma prática de citação que não apenas alude a outros sentidos, anteriores à obra, mas também rompe contextos e descaracteriza materiais, submetendo-os às coordenadas formais de cada obra.
Muito explícitas nas primeiras obras, Murphy em particular, que as convocam para uma paródia da tradição cultural europeia, essas fontes tendem a se cifrar nas obras da maturidade, de acentuada redução formal. É assim que, dependendo do arranjo proposto, uma mesma referência possa ganhar acentos distintos, assumindo sentidos diversos se mencionadas pelo narrador irônico de Murphy, pelo fluxo verbal de O Inominável ou ainda por um canastrão como o Hamm de Fim de Partida. Se Samuel Beckett contava ou não com o reconhecimento das fontes por leitores e espectadores, mais provável nas primeiras obras, essa ainda é outra história.
4.
Como avaliar as fontes não é um problema restrito à crítica genética, mas perpassa a relação mesma de Samuel Beckett com a tradição, que se armava de recursos para confrontar seus fundamentos. Nesse contexto, a questão da experiência está intimamente associada à crise do sujeito moderno, de matriz cartesiana, diagnóstico elaborado por Beckett ao recorrer à imagem do filósofo ocasionalista belga Geulincx, um crítico de primeira hora do cartesianismo, explicitamente citado em Molloy: “Eu mesmo tinha adorado a imagem daquele velho Geulincx, morto jovem, que me concedia a liberdade, na nave negra de Ulisses, de me esgueirar para o oriente, no convés. É uma grande liberdade para quem não tem alma de desbravador”[v].
O uso da imagem foi explicitado por Samuel Beckett em a carta ao tradutor do romance para o francês: “Essa passagem é sugerida (a) por uma passagem na Ética de Geulincx, na qual ele compara a liberdade humana à de um homem a bordo de um barco que o leva irresistivelmente para o oeste, livre para se mover para o leste dentro dos limites do próprio barco, até a popa; e (b) pela relação de Ulisses em Dante (Inf. 26) de sua segunda viagem (uma tradição medieval) para e para além dos Pilares de Hércules, seu naufrágio e morte. . . Imagino um membro da tripulação que não compartilhe o espírito aventureiro de Ulisses e tenha pelo menos a liberdade de rastejar para casa. . . ao longo do breve deck”.[vi]
O significado da imagem de Geulincx não se esclarece necessariamente pelo seu sentido original, que desacredita a afirmação irrestrita da liberdade, mas pela confluência entre esse sentido e o projeto literário que Samuel Beckett desenvolvia à época, o qual cabe explicitar. Seria ingenuidade empregar a imagem externa para um esclarecimento filosófico do texto literário. Necessário é entender como ela assume função literária no contexto da transformação de procedimentos artísticos, no caso, no reposicionamento do narrador.
Essa metamorfose, de uma imagem em particular à estruturação mesma de um projeto estético, foi bem lembrada por Uhlmann por meio de outra imagem, também extraída de Geulincx, a imagem da autologia, a inspeção de si mesmo formulada na contramão do cartesianismo e operada pela exclusão de quaisquer dados externos comunicados pela percepção. Daí não resulta a certeza de si cartesiana, mas um sujeito que nada sabe de si mesmo. Na formulação de O Inominável: “Eu, de quem não sei nada”[vii].
Isso ocorre no uso de Geulincx por Beckett: a imagem da “autologia”, um termo inventado por Geulincx, relaciona-se à imagem do “cogito” desenvolvida por Descartes, mas enquanto Descartes imagina um eu separado de todas as outras sensações e reduzido àquilo do qual ele tem certeza, um eu que pensa, Geulincx imagina um eu que é, de modo parecido, separado do mundo mas que é reduzido à única certeza de um eu que não sabe, que é ignorante de tudo. Tal imagem de um eu que não conhece domina O Inominável, mas também aparece por todas as obras do pós-guerra de Samuel Beckett. Em vez de “penso, logo existo”, temos “eu penso, eu não sei”.[viii]
A imagem da autologia é privilegiada por coincidentemente tocar no cerne do projeto beckettiano, o qual, pela mediação das referências a Descartes e a Geulincx, conta a história do declínio do sujeito moderno, um cartesianismo às avessas que reduz o mundo à consciência para remover o sujeito de sua posição soberana. Destacar a função literária desempenhada pelas fontes mobilizadas pelo autor, a tradução em forma interna das referências externas, permite ir além da mera caracterização de um projeto literário a partir das leituras do autor e dos temas trabalhados nas obras.
Menos evidente nessa versão reflexiva do empirismo recente defendida por Uhlmann é o motivo da inclinação de Beckett por contar essa história do sujeito e não por outra, por mobilizar Geulincx contra Descartes, e não o contrário. Ela permite identificar as fontes e, de certa maneira, entender sua função na obra, mas não explicita o que está na base dessa crítica ao sujeito e, consequentemente, o que motiva o encaminhamento de Beckett para um projeto estético em particular. O corte de relações com o mundo e a drástica redução formal empreendida por Beckett, cabe lembrar, não se explicam por si mesmos, na identificação de suas fontes, temas ou procedimentos. Respondem, pelo contrário, a um estado de coisas que merece ser exposto.
Discutir a obra de Samuel Beckett pelo viés da experiência busca ultrapassar o limite colocado pela discussão intertextual, sem naturalmente desconsiderar a contribuição inestimável da investigação filológica das fontes para a compreensão das obras. Nesse sentido, este estudo pretende atualizar no caso concreto de Samuel Beckett uma perspectiva desenvolvida pela Teoria Crítica de Walter Benjamin e Theodor Adorno ao considerar questões estéticas como história sedimentada. Crítica imanente, dizia Theodor Adorno, é imanente e transcendente, exigindo um olhar tanto para o interior da obra quanto para o processo histórico no qual ela emerge.[ix]
Como ele apontou a respeito de Fim de Partida, o tratamento paródico do gênero dramático é indissociável de um diagnóstico a respeito da crise de pressupostos que não são exclusivamente dramáticos, da liberdade individual ao progresso histórico. Tomando como objeto o trabalho mesmo de Samuel Beckett, que se detém sobre os vestígios de história na interioridade de sujeitos apartados do mundo, a discussão a ser feita sobre experiência pretende aludir a essa dupla dimensão das obras.
5.
Os dois primeiros capítulos acompanham as transformações do narrador beckettiano e suas consequências para o gênero do romance, desde sua configuração paródica, alusiva e colorida em Murphy, próxima de Joyce e dos narradores setecentistas, passando pelo serialismo de Watt, até a extrema redução temática e formal promovida por O Inominável, romance que fecha sua trilogia do pós-guerra com a erosão de todas as convenções da literatura realista, dissolvendo o narrador em múltiplas vozes e exacerbando a distância entre ele e o mundo.
Os capítulos seguintes expõem a versão teatral desse processo, com o enfrentamento da crise do drama em Fim de Partida e o desenvolvimento de uma prática de encenação que lhe permite responder de maneira original às questões levantadas pelo debate teatral do século XX, de Adorno e Peter Szondi a Christoph Menke e Hans-Thies Lehmann. Peças tardias, por sua vez, como Não Eu, Aquela Vez, Passos e Balanço, de dimensão mais reduzida e concentrada, restritas à apresentação uma única personagem em cena, cindida em múltiplas vozes, expõem os recursos técnicos desenvolvidos por Samuel Beckett para sondar rastros de memória e identidade de sujeitos que não se dizem mais na primeira pessoa.
A tendência de Samuel Beckett para a concepção integral da cena, fruto de uma busca por controle máximo e redução extrema dos dispositivos de encenação, é explorada a seguir em dois capítulos sobre as peças televisivas, de Eh Joe e Trio-fantasma a … só as nuvens e Noite e Sonhos. Sua atenção à especifidade do meio, para além das convenções que predominavam na televisão da época, resulta não apenas em novos dispositivos para apresentar e desdobrar suas antigas questões, mas também no desenvolvimento de um novo modo de produção artístico.
O emprego de procedimentos repetitivos e seriais em Quadrat I+II e O que onde enseja, por sua vez, um exercício de aproximação entre a obra de Beckett e trabalhos de artistas visuais associados ao minimalismo estadunidense e à sua imediata posteridade, tais como Robert Morris, Sol Lewitt e Bruce Nauman, que também se valeram de serialismos para reformular o meio com que trabalhavam. Fechando o ciclo, o estudo retorna à prosa, destacando dois momentos da escrita tardia de Samuel Beckett, Ping e Companhia, para mostrar como o encaminhando final dado por ele aos impasses narrativos de O Inominável valeram-se de seu trabalho com a cena, teatral e televisiva.
Apesar de abrangente, o recorte proposto não é de modo algum exaustivo. As novelas que figurariam como um prelúdio à trilogia romanesca ficaram de fora, assim como a poesia, as peças radiofônicas, mencionadas apenas de relance, e exemplares significativos da obra teatral e da última prosa. Concentrada nos temas e nas formas, a obra beckettiana é altamente diversificada, uma coleção de impasses, sem dúvida, cada um deles, porém, com feitio e nome próprio.
Nos termos do problema em foco, cada texto, cada peça configura um modelo de experiência. A seleção de obras comentadas, arbitrária como qualquer recorte, se fez à medida que eu avançava pelos textos e era detido pelos obstáculos que levantavam, pelas questões que provocavam. O que apresento aqui, afinal, não é mais que o relato de um percurso pela obra de Beckett. Cada um poderá fazer o seu, mas espero que, caso decidam avançar pelas páginas à frente, os percalços da experiência sirvam como fio condutor.
*Luciano Gatti é professor do Departamento de Filosofia da Unifesp. Autor, entre outros livros, de Constelações: crítica e verdade em Benjamin e Adorno (Loyola).[https://amzn.to/4l8dfN2]
Referência
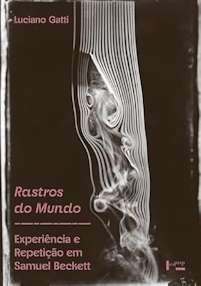
Luciano Gatti. Rastros do mundo: experiência e repetição em Samuel Beckett. São Paulo, Edusp, 2024, 408 págs.[https://amzn.to/43nEMDH]
Notas
[i] Walter Benjamin. “Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows”, em Gesammelte Schriften: Aufsätze, Essays, Vorträge, 1991, II, vol. 2, p. 439.
[ii] Walter Benjamin. “Über einige Motive bei Baudelaire”, em Gesammelte Schriften: Abhandlungen, 1991, I, vol. 2, p. 614.
[iii] Para uma exposição abrangente das diversas estações da fortuna crítica de Beckett, cf. Fábio de S. Andrade, Samuel Beckett: O Silêncio Possível, 2001, pp. 22-35; e (S)obras (In)completas. Uma Beckettiana Brasileira, 2020, pp. 64-71.
[iv] Anthony Uhlmann, “Beckett’s intertexts”, in Dirk van Hulle, The New Cambridge Companion to Samuel Beckett, 2015, p. 104.
[v] Beckett. Molloy, 2007, p. 78.
[vi] Anthony Uhlmann, Samuel Beckett and the Philosophical Image, 2006, p. 78.
[vii] Beckett. O Inominável, 2009, p. 45.
[viii] Anthony Uhlmann, op. cit., 2006 p. 112.
[ix] Theodor W. Adorno, “Crítica Cultural e Sociedade”, in Prismas. Crítica Cultural e Sociedade, 1998, pp. 23-25.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA