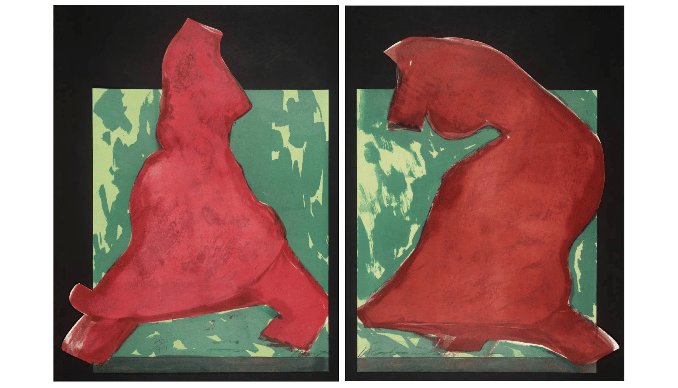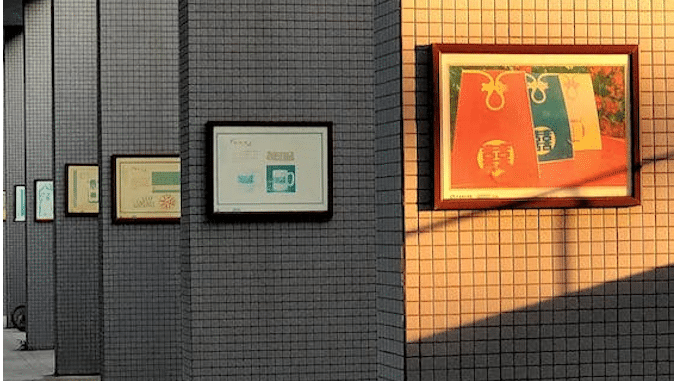Por ELEUTÉRIO F. S. PRADO*
Considerações sobre o livro de Anselm Jappe
O nome dado a este artigo provém de mera tradução do título do último livro de Anselm Jappe, Sous le soleil noir du capital, recentemente publicado na França. Já de início – recomenda-se fortemente – deve-se notar o seu caráter hiperbólico: se o sol amarelo que faz o dia e se esconde na noite garante a vida na face do planeta, um sol negro só pode representar a morte.
O sol negro é, como se sabe, um símbolo fascista. A negação da vida que ele representa se afigura, pois, enfática, terrível, absoluta. Eis que ela provém de um ressentimento e mesmo ódio profundo engendrado pelas frustrações que o capitalismo proporciona para muitos, especialmente para os integrantes das classes médias. Mas essa visão soturna não é uma novidade na obra desse autor. Vale lembrar que o seu penúltimo livro, A sociedade autofágica – capitalismo, desmesura e autodestruição, também apontava para um fim trágico.
O livro reúne vinte e cinco artigos escritos nos últimos dez anos por um dos principais líderes atuais da corrente de pensamento crítico que se dá a conhecer como “crítica do valor” ou “crítica do valor/dissociação”. Fundada por Robert Kurz no começo dos anos 1990, tem atualmente seguidores na Alemanha, França, Brasil e em outros países, mas sempre na forma de pequenos grupos. O livro começa com uma breve história da crítica do valor com base nos escritos de Robert Kurz, discute o fetichismo em György Lukács e em Theodor Adorno assim como outros temas, para se perguntar, ao final, o que falta às crianças.
De onde vem Anselm Jappe?
Vale lembrar, nesse sentido, os primórdios dessa corrente de pensamento que reivindica Marx, mas apenas até certo ponto. Ela veio à luz no mesmo ano em que ocorreu a queda do muro de Berlim. A União Soviética com o seu modelo de acumulação centralizada já havia entrado em dissolução, os liberais festejavam o fim do comunismo, mas Robert Kurz anuncia em seu livro, quase obscuramente, a derrocada do capitalismo. Eis que publica na Alemanha, em 1991, o seu O colapso da modernização.
Como se sabe, a tradução dessa mesma obra foi publicada no Brasil,[i] em 1992, sob a recomendação de que se tratava de “um livro audacioso”. Roberto Schwarz, graças à sua lucidez e perspicácia, considerara que a sua publicação era um contra-ataque ao avanço do liberalismo e do neoliberalismo. Eis que punha em dúvida a tese do fim do comunismo na queda do comunismo histórico.
A tese de Robert Kurz caminhava a contracorrente já que vigorava então um senso comum quase unânime: para ele, o que se via no momento e no horizonte era a vitória inconteste do capitalismo. Segundo o crítico inusitado, entretanto, o que a ruína do socialismo real mostrava não era o triunfo da “economia de mercado”, mas o início espetaculoso do colapso gradual do sistema econômico baseado na mercadoria, no trabalho abstrato, no dinheiro burguês e na acumulação insaciável de capital. Para Robert Kurz, menciona Anselm Jappe, “o modo de produção capitalista havia atingido, após dois séculos, os seus limites históricos: a racionalização da produção, que substitui a força de trabalho por tecnologias, minara já a base da produção de valor e de mais-valor”. E sem mais, mais e mais, “mais-valor”, como se sabe, o sistema do capital não pode deixar de entrar numa crise estrutural definitiva.
No capítulo de abertura, Anselm Jappe fornece as balizas da corrente de pensamento “crítica do valor”. Em primeiro lugar, ela se apresenta como uma crítica radical e incorruptível, que não faz concessões: “defende a tradição salutar do filosofar com um martelo, contra todos os ecletismos, irenismos, elaborações consensuais e homenagens entre “caros amigos”. Trata-se de criticar o capitalismo e não apenas o neoliberalismo, a financeirização ou a má repartição da renda e da riqueza. Em particular, não pretende e não acha possível reviver o keynesianismo que vigorou por cerca de trinta anos no pós-Segunda Guerra Mundial.
Mostrando logo no início a sua característica mais notável, indicando que está em desalinho com o que chama de marxismo tradicional, afirma peremptoriamente que “uma crítica verdadeira do capitalismo é necessariamente uma crítica do capital e do trabalho”. Como se sabe, o marxismo clássico, ao contrário, vê o trabalho não alienado positivamente; eis que o afirma como condição eterna de existência da humanidade, mesmo se desqualifica a atividade laboral no capitalismo como estranha ao ser humano. Ora, isso já mostra que essa corrente de pensamento é, ao mesmo tempo, marxista e, de certo modo, não marxista.
O livro aqui referido tem muita coisa interessante em seus diversos capítulos e, também por isso, é impossível resenhá-lo como um todo. Mesmo se não vai ser tratado em sequência nem com verruma, nem com um alicate e nem com martelo, não vai ser também apenas aclamado. Na verdade, procura-se examinar o seu ponto mais sensível que vem a ser justamente a sua divergência central com o marxismo tradicional.
A crítica do valor acusa essa tradição de enxergar a oposição entre o capital e o trabalho como a contradição fundamental do modo de produção capitalista e, ao mesmo tempo, como a alavanca que permite a sua transformação. Transforma, assim, a crítica do capital num sociologismo que passa a orientar e desorientar toda a ação política da esquerda. “Então” – diz Anselm Jappe – “com base numa leitura que personifica a estrutura social, o capital e o trabalho são identificados sem rodeios com os “capitalistas” e com os “trabalhadores”. E isso “abre as portas para um anticapitalismo ‘truncado’, ou mesmo, para um populismo, antissemitismo e conspiracionismo”.
Quer seja de conhecimento amplo ou restrito, essa crítica – ponto fulcral dessa corrente de pensamento – foi apresentado por Robert Kurz e Ernst Lohoff, já em 1989, no escrito O fetichismo da luta de classe. Pois, segundo eles, a luta de classe é o fetichismo do marxismo tradicional. Se essa crítica sintetiza o que foi apontado no parágrafo anterior, ela põe para além disso uma analogia que requer uma análise mais profunda.
Como se sabe, o fetichismo da mercadoria foi definido por Marx na seção quatro do primeiro capítulo de O capital. Ele se refere à confusão espontânea entre a forma valor e o suporte dessa forma, uma ilusão engendrada pelo próprio modo de ser da sociabilidade capitalista. Uma sua expressão bem contundente aparece quando se diz que o “ouro é dinheiro”, pois, assim, se atribui ao ouro como tal a propriedade de ter valor, quando o valor é forma de uma relação social, que expressa uma quantidade determinada de trabalho abstrato.
Ora, como se pode analisar de modo semelhante a expressão “fetiche da luta de classe”? De acordo com o que já foi dito, por suporte da forma parece que se deve entender os trabalhadores e capitalistas como coletivos de pessoas-funções empiricamente existentes na sociedade constituída pelo modo de produção capitalista. E por forma parece que se deve compreender as classes não como meros coletivos, mas como supostas totalidades, ou seja, como universais metafísicos. A confusão assim engendrada, entretanto, não poderia ser pensada como espontânea, mas como um produto do discurso equivocado praticado pelo marxismo tradicional.
Contudo, nesse ponto, põe-se forçosamente uma questão crucial: teria o próprio Marx caído nesse equívoco conceitual. Ele criara genialmente a noção crítica de fetichismo para se referir à reificação das relações sociais nesse modo de produção, mas de modo vulgar, tontamente, acabara criando uma religião política que associa os trabalhadores e capitalistas às noções abstratas de classes sociais antagônicas, separando assim, de modo bem forte, proletários e burgueses?
A resposta que se encontra nos textos dos autores que se encaixam na corrente da “crítica do valor” é um rotundo “sim”; Marx, ao fim e ao cabo, caíra sim, desastradamente, nessa esparrela, como um pássaro indefeso. Eis que não apontam somente para um sociologismo existente no marxismo tradicional, em certas vertentes que nele se abrigaram historicamente, mas também porque julgam encontrá-lo nos textos do autor de O capital.
De modo mais revelador, esses autores críticos sustentam existir um duplo Marx. Eis que desdobram esse autor em dois, os quais não podem ser reconhecidos um no outro, ou seja, um Marx exotérico da luta de classe e um Marx esotérico da crítica da relação de capital e de seu devir construtivo/destrutivo. O primeiro, seria um sociólogo vulgar, mas o segundo seria um filósofo fundamental que apresentara o capital como sujeito automático e que criara, com base nisso, a incontornável crítica da economia política.
Mas onde estaria o erro cometido? Os autores dessa corrente, tomando as classes como oposição empírica de coletivos de trabalhadores e capitalistas, sustentam que os seus interesses não seriam irreconciliáveis no processo da acumulação; eis que, de fato, consistiriam elas apenas e em última análise em irmandades em disputa pela apropriação da renda. No fundo, ambas manteriam um interesse comum pela manutenção da forma mercadoria como forma de produção social. Sustentam, em consequência, ademais, que essa análise sociológica estaria de acordo com os fatos históricos observados na evolução do capitalismo realmente existente.
Mas, afinal, o que são as classes para Marx? E aqui se encontra uma real dificuldade já que se pode falar de uma lacuna nos desenvolvimentos teóricos desse autor. Como se sabe, a sua obra pode ser dividida em duas: uma primeira, mais importante, em que se tem a exposição dialética rigorosa do sistema do capital como totalidade concreta e uma segunda, constituída por textos esparsos, em que se tem exposições históricas e/ou peças de intervenção política. A primeira foi deixada incompleta e, assim, sem conexão explícita com a segunda.
Ora, uma resposta rigorosa para a questão posta na primeira frase do parágrafo anterior apenas poderia ser dada no interior da aludida apresentação dialética. Como diz Ruy Fausto sobre essa questão chave: “na realidade, a teoria das classes, em Marx, não está presente nem ausente. Ela está pressuposta [na exposição de O capital], mas não posta. Se há posição, ela só ocorre em textos que permaneceram fragmentários”.[ii] Como se sabe, em O capital, a luta de classes está presente na forma da luta econômica, não expressamente política, ou seja, na perspectiva da classe em si, mas não para si. E, mesmo nesse caso, como bem se sabe, essa exposição reconstruída por Engels não pode ser considerada completa.
Em O capital – diz Fausto – “se encontra só o início, infelizmente, de uma teoria das classes inserida numa apresentação dialética. Como para outros problemas, o Estado por exemplo, a insuficiência da tradição marxista está no fato de se afastar da apresentação dialética”. Ao fazê-lo, quer obter um resultado apenas deduzindo imediatamente a luta de classes das categorias socioeconômicas. “O resultado desse mal-entendido é um marxismo do entendimento que se revela estéril e pouco rigoroso. Para analisar as classes, como para analisar o Estado, é preciso encontrar o lugar em que eles se inserem numa apresentação dialética”, ou seja, na apresentação encontrada na obra magna.
Ora, a crítica do valor não resolveu esse problema, ao contrário, permaneceu no nível do marxismo tradicional ainda que não afirmativamente, mas de modo crítico. Por isso, caiu em acusações vulgares como aquela que faz referência a um duplo Marx. Para resolvê-lo seria necessário, primeiro, como mostra Fausto em seus comentários sobre a obra desse autor, reconstruir a apresentação das classes em si para mostrar depois como se pode passar dialeticamente das classes si mesmas para as classes para e por si mesmas. Nesse movimento, aquilo que está pressuposto na exposição de O capital seria posto, ou melhor, exposto de algum modo. Só então seria possível fazer uma boa crítica da experiência histórica – sem dúvida, necessária.
Mas esse comentário sobre certa franqueza constitutiva da crítica do valor não pretende ser destrutiva. Não afirma que nos textos desses autores se encontram ideias de desenvolvimentos interessantes. Aliás, um estudo mais completo dessa corrente exigiria muito mais espaço. Também é preciso acrescentar aqui que o problema da exposição dialética rigorosa das classes e da passagem do “em-si” para o “para-si” não pode ser feita de um modo ligeiro. Nos textos de Ruy Fausto há encaminhamentos nessa direção.[iii]
Aqui, para não terminar de forma abrupta, mencionam-se apenas os grandes passos necessários para chegar às classes em sentido político. As classes estão pressupostas em O capital, mas vão aparecer ao longo da obra por meio de momentos que as põem, mas não de modo completo. O que primeiro surge são os suportes, as personificações da força de trabalho e do capital. Enquanto tais, são apenas posições, ainda que ativas, na estrutura de relações de produção, ou seja, meros sujeitos negados. Porém, já no Livro I, podem aparecer in nuce por meio das lutas ocasionais entre agentes econômicos coletivos em torno do salário, tamanho da jornada de trabalho etc.
No final do Livro III, as classes aparecem em inércia já que são aí definidas por meio das formas de seus respectivos rendimentos, os quais derivam das modalidades típicas de propriedade dos fatores de produção: a força de trabalho recebe salário, o capital ganha lucros e a propriedade da terra obtém renda da terra. Denotam assim apenas a aparência do sistema e o fazem de uma forma mistificada já que essas fontes se afiguram como independentes entre si. Aqui não há nem luta econômica nem luta política e nem mesmo funções. Em suma, como explica Fausto, grosso modo, “em O capital Marx estuda somente a tendência objetiva do sistema e não os efeitos da luta de classe”.
É só a partir daí que se pode começar a pensar as classes em termos de práticas políticas transformadoras, sejam reformistas sejam radicalmente democráticas (ou seja, que fazem existir uma sociedade baseada “em trabalhadores livremente associados”). Para além de O capital como obra realizada, mas ainda na perspectiva da apresentação dialética, seria necessário passar da classe pressuposta para a classe que pode ser posta como tal, ou seja, na condição de uma possibilidade objetiva que se efetiva – ou não – no curso da história.
No caso positivo, a classe deixaria de aparecer como mero gênero para se tornar uma existência política substantiva, um plexo integrado de relações de solidariedade. Eis que a classe trabalhadora que estava implícita, que era apenas possível, tornar-se-ia explícita por meio de um processo de emergência; os sujeitos negados que atuam normalmente apenas como suportes se transformariam e se constituiriam no processo da luta como uma totalidade posta de sujeitos políticos. Se este fosse o caso, ter-se-ia a constituição de um universal concreto na práxis social – e não uma hipóstase metafísica.
Como esse curso não se efetivou historicamente, talvez os autores da crítica do valor queiram argumentar que ele seria em última análise uma utopia. Em princípio, entretanto, parece duvidoso que uma boa prova nesse sentido possa ser encontrada. Mas, se ela for viável, não poderia se basear nos fatos históricos passados; eis que uma prova rigorosa apenas poderia ser fornecida no curso da exposição dialética. É claro que muitas complicações envolvidas na questão não foram aqui mencionadas, tal como, por exemplo, o problema de saber se essa transformação seria espontânea ou se requereria também o catalizador de movimentos políticos organizados. Talvez o maior empecilho sejam as condições em que essa unificação na prática da classe trabalhadora pode ocorrer.
Entretanto, parece necessário complementar que se esse processo, por qualquer razão, está bloqueado, não haveria talvez, então, qualquer alternativa que possa permitir aos seres humanos irem além do capitalismo. Pois a única e inelutável perspectiva histórica restante seria a de que o “sol negro”, ao fim e ao cabo, prevalecerá. E com ele a morte.
*Eleutério F. S. Prado é professor titular e sênior do Departamento de Economia da USP. Autor, entre outros livros, de Da lógica da crítica da economia política (Ed. Lutas Anticapital).
Referência
Anselm Jappe. Sous le soleil noir du capital – Chroniques d’une ère de ténèbres. Paris, Crise & Critique, 2021.
Notas
[i] Kurz, Robert – O colapso da modernização – Da derrocada do socialismo de caserna à crise da economia mundial. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
[ii] Fausto, Ruy – Marx: Lógica e Política. Tomo II. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, p. 202-203.
[iii] Ver Marx: Lógica e Política. Tomo III. São Paulo: Editora 34, 2002, p. 229-271.
O site A Terra é redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia. Clique aqui e veja como.