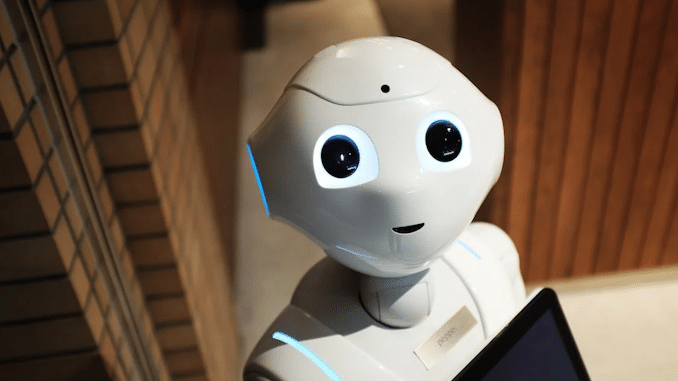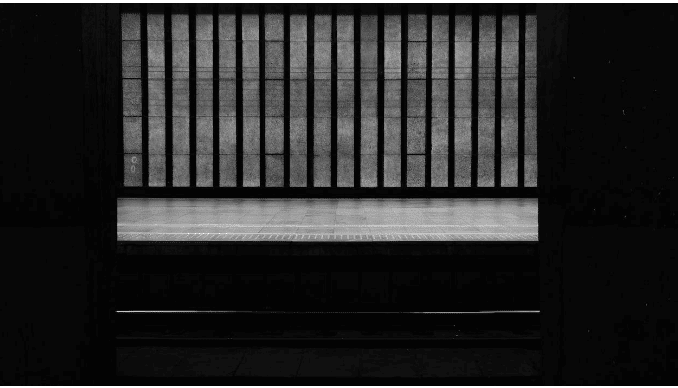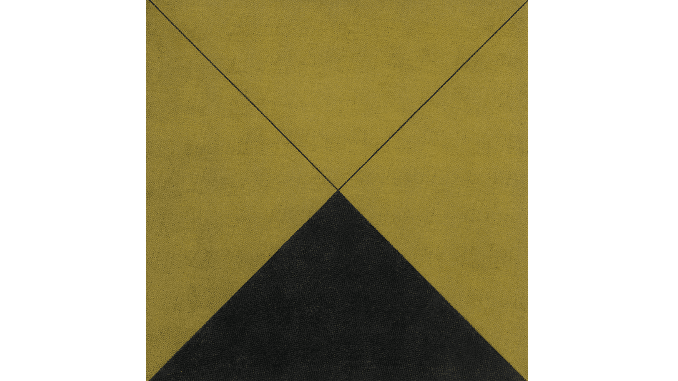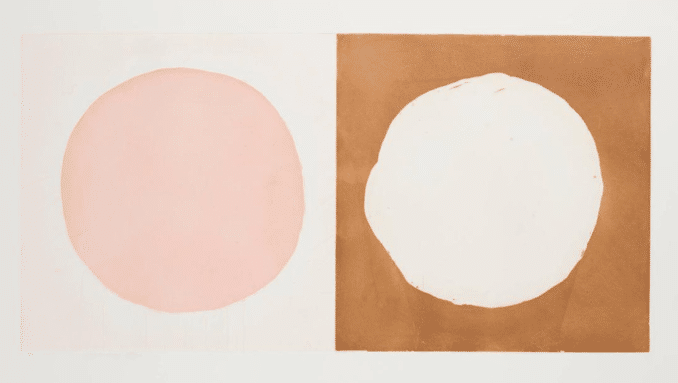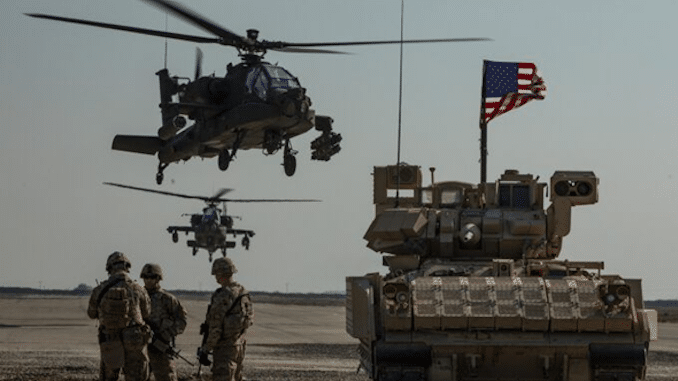Por MÁRIO MAESTRI*
As classes dominantes jamais deixam de disparar sobre tudo que se move
“O feio não é roubar, mas ser filmado”, seria a versão high-tech do ditado lusitano desenvergonhado. Os atos antissociais, dos mais leves aos mais pesados, são hoje comumente captados por testemunhas anônimas que portam sempre seu celular na bolsa ou no bolso, mesmo quando neles escasseia a bijuja.
O marmanjo abusado que bolina a guria no ônibus, o valentão que realiza agressão gratuita, o cidadão ou cidadã que profere injúrias sexistas, homofóbicas ou racistas no calor de uma discussão ou por preconceitos consolidados terminam protagonizando filmezinho não raro reprisado diante do delegado e mesmo do juiz.
Uma pequena revolução
A câmera dos celulares, logada à internet, hoje universalizada, permitiu pequena revolução quanto ao apoio da defesa dos direitos civis. Mas não em todos os lugares e situações. Como ocorre comumente no Brasil, onde a polícia mata, agride, achaca, esculacha, com a conivência-apoio das ditas autoridades, como instrumento histórico de submissão das classes populares.
Se os cinegrafistas são poucos e as tomadas de cena se dão quando a luz foge no horizonte, o registrar flagrante delito policial ou militar pode não sair barato. Ainda que seja um direito líquido e certo, protegido pela legislação, filmar a prepotência de servidores públicos.
Por isso e por muito mais, o uso permanente, sem um liga-e-desliga, das câmaras de uso corporal [body cam] jamais fará parte do equipamento das forças repressivas, acariciadas por todos os governos, desde que os lusitanos colocaram o pé nas então alvas praias do já chamado país dos papagaios.
Disparando sobre tudo que se move
As classes dominantes jamais deixam de disparar sobre tudo que se move. O fazem, portanto, quanto à difusão e ao conteúdo da denúncia filmada pelo simples pedestre. O Face, o WhatsApp, o Instagram, etc. censuram e limitam a de difusão individual das postagens. O mesmo ocorre com as lives cuidadosamente vigiadas ao alcançarem uma maior difusão. E por aí vai.
A repercussão da captura individual de um ato antissocial fica dependente da sua difusão pelos grandes meios corporativos de comunicação, prá lá de conservadores. E, no processo de veiculação de um registro, eles determinam, ao bel-prazer, o conteúdo do midiatizado, através do texto verbal ou escrito que o acompanha, do enquadramento das imagens, etc.
Uma tarde em Porto Alegre
Sábado, dia 17 de fevereiro, Porto Alegre. Uma tarde bela e quente em bairro central da capital. Uma simples ocorrência de violência entre dois cidadãos, sem maiores sequelas físicas, além de escoriações. Algo normal na capital dos gaúchos, hoje, uma das cidades mais violentas do Brasil. Entretanto, os fatos ocuparam a grande mídia nacional, antes de desaparecer triturados por sua vocação de entretenimento.
Registro devido aos transeuntes que, de celular na mão, filmaram os acontecimentos e interferiram ativamente neles, com um sentido político e ideológico muito claro, silenciado cuidadosamente pelos veículos de divulgação de massa. Mas vamos ao que conhecemos do episódio.
O trabalhador e o morador
Um trabalhador de aplicativo, Everton Henrique Goandete da Silva, 41, foi ferido, no pescoço, com um canivete, quando se encontrava sentado na calçada, por Sérgio Camargo Kupstaitis, 72, sem razão aparente. Mais tarde, o velhote declarou na Polícia que desceu de seu apartamento, com um canivete engatilhado, indignado com os motoboys que fariam ponto perto de seu edifício. Ou seja, uma agressão premeditada.
Everton Silva, agredido por uma arma branca, em um ato intencional, sem justificativa e desculpa, que podia ter lhe ferido gravemente, julgando-se um cidadão em plenitude de seus direitos, acionou a Brigada, a tropa policial-militar sul-rio-grandense que, na República Velha, chegou a ser força militar orgulhosa capaz de enfrentar-se com o exército brasileiro, com destacado papel na derrota da oligarquia pastoril em 1893. [MAESTRI, 2021.] Hoje, ela se encontra reduzida à situação de polícia militar empregada com destaque na repressão da população sulina.
Negro, baixinho, mal vestido
Everton da Silva esqueceu-se que era negro, baixinho, com cabelo étnico, vestido para o trabalho, e seu agressor, branco translúcido e orgulhoso morador de um prédio vizinho. Devia ter seguido o conselho do Chico e chamado os bandidos! Apenas desembarcados das viaturas policial-militares, o destacamento, sob o comando de um brigadiano XGG, encostou Everton contra a parede com truculência e o algemaram, à força.
Em continuação, Everton da Silva, que tentava explicar ter sido o agredido, foi metido, no muque, no camburão de uma das duas viaturas policiais-militares, tratamento dado tradicionalmente aos meliantes, ao qual tentou resistir, como pode, já que trabalhador e cidadão reclamante de seus direitos, desrespeitado sem qualquer razão. Se não fosse os cinegrafistas presentes, teria sido certamente amaciado, como habitual.
O agressor foi tratado com luvas de pelica, como é devido a um morador de prédio próximo, branco alvíssimo, segundo parece empresário aposentado, com sobrenome estrangeiro impronunciável. Os brigadianos, atenciosos, deixaram, que ele subisse para seu apartamento, sob a desculpa de vestir camiseta, levando consigo a arma da agressão! Ela seria apresentada à polícia apenas no dia seguinte. Tratado pela mídia de “idoso”, o agressor foi acomodado gentilmente no banco traseiro de uma das duas viaturas que atenderam a ocorrência.
Indignação popular antirracista
Diversos vizinhos e transeuntes filmaram os fatos, que correram o Brasil, destacando a intervenção indiscutivelmente racista da Brigada Militar. O governador Eduardo Leite, conservador raiz, ensaiou desgosto e mandou abrir sindicância, que inocentou de racismo e de culpa os brigadianos brutamontes. O agressor e o agredido foram indiciados por lesões leves, encerramento tradicional em um país onde militares e policiais são intocáveis e os trabalhadores agredidos raça sem direitos.
A grande mídia conservadora apontou os fatos como exemplo do “racismo estrutural”, como tem feito ao noticiar diuturnamente casos semelhantes. E se lançou, assim, pá de cal sobre a humilhação do Everton, de sobrenome Silva, pela Brigada Militar, protagonista de sucessos semelhantes e correlatos bem mais graves, varridos sempre para debaixo do tapete pelas chamadas autoridades governamentais e judiciárias.
Brigadianos contra a parede
Como assaz comum, os vizinhos e transeuntes que filmaram os fatos não o fizerem por curiosidade ou por sentido mórbido. As múltiplas “tomadas” permitem acompanhar a ação ativa dos presentes em defesa do trabalhador negro ofendido. Em alguns casos, com comportamento quase agressivo em relação aos brigadianos, que agiram sob a permanente pressão popular. Se não acreditam em mim, revejam com cuidados as diversas filmagens dos fatos.
Os presentes apontaram incessantemente quem era o agressor e o agredido. Indignaram-se com o tratamento diferenciado dado a um morador do bairro, branco, e a um trabalhador negro. A acusação de racismo dos brigadianos foi verbalizada diversas vezes. E a grande maioria dos presentes era de brancos, possivelmente moradores da rua Miguel Tostes, no Bairro Rio Branco, “um dos mais tradicionais e conhecidos de Porto Alegre”, localizado “na região central da cidade”, “região valorizada” que “oferece uma infinidade de atrativos e facilidades”, possuindo “tudo o que a cidade de Porto Alegre pode oferecer”.
Através do Brasil, em cenas filmadas de racismo explícito, é bastante comum a expressão de repúdio de brancos, pardos e negros testemunhas dos atos. Entretanto, a leitura midiática do registrado sistematicamente empreende uma redução do zoom, cortando ou deixando na sombra a quase habitual indignação dos presentes a tais comportamentos. Iluminam, assim, o racismo e obscurecem o antirracismo popular.
Brancos contra negros
Sobretudo no dito Ocidente, o identitarismo – negro, elegebete, étnico etc. – tem sido exportado pelo grande capital imperialista, a partir dos EUA, como instrumento de dissolução da consciência da exploração, pelo capital, dos trabalhadores, assalariados, marginalizados etc., e de desorganização de sua resistência. A luta entre o mundo do trabalho e do capital seria algo pertencente ao passado, superado pela modernidade das reivindicações identitárias.
No Brasil, a retórica ianque identitária conhece tradução quase simultânea. Procura-se definir nosso país como nação majoritariamente afrobrasileira, definindo-se autoritariamente como negros todos os nacionais que não sejam limpidamente brancos. Uma adaptação que se propõe revolucionária da proposta racista e supremacista branca estadunidense de que uma gota de sangue não branco, mesmo de um ancestral distante, torna um indivíduo negro – “one drop rule”.
Procura-se criar, assim, uma contradição insuperável, em tudo inventada, entre um “povo branco” – que constitui, sem diferenciação econômica, social, etc., a “branquitude” –, formado todo ele de exploradores do “povo negro” – “negritude” –, também essencialmente homogêneo. Isso em um país onde, segundo os dados do IBGE, temos quantitativamente mais brancos explorados do que negros, ainda que os últimos, proporcionalmente, conheçam o maior peso da sociedade de classe.
Racismo estrutural
Procura-se criar uma leitura do Brasil como um país onde dominaria soberano o “racismo estrutural”, outra categoria importada dos Estates, sem pagar tributos na alfândega. Tese difundida por livro em tudo confuso, superficial e demagógico, mas badalado à exaustão pela mídias e instituições legitimadoras do capital, do nosso Sílvio Almeida, atual ministro “chapa-branca” dos Direitos Humanos e da Cidadania, que tem se comportado como os três macaquinhos que nada veem, nada escutam, nada falam, mesmo quando dos mais aberrantes crimes praticados sobretudo pelas forças policiais através do país.
No Brasil, definitivamente, não conhecemos racismo estrutural pois ele não constitui base constitutiva indispensável e essencial da reprodução do capital e da exploração no Brasil. Por essa e outras razões que já tratei longamente em artigo e, portanto, me permito aqui não repetir. [MAESTRI, 2021.] O que não impede que o racismo seja determinação cultural muito forte em nosso país, assim como o machismo, em suas formas soft e agressiva. Racismo e machismo superados apenas pela homofobia masculina.
Entretanto, subsiste entre nós, igualmente, uma forte e preciosa tendência antirracista popular, que rejeita a descriminação e a agressão racial explícita, um dos patrimônios mais valiosos de nossa triste cultura, que a maré liberal-identitária procura negar e sufocar. E seu fortalecimento e ampliação constitui um dos maiores recurso na luta antirracista. Nesse sentido, todo ato antirracista popular expontâneo tem que ser midiatizado e divulgado, e não silenciado, como exemplo de linha de comportamento a ser seguida e radicalizada. Portanto, seguindo a frouxidão categorial de Sílvio Almeida, permito-me propor a vigência tendencial no Brasil de um forte “antirracismo estrutural” popular.[1]
*Mário Maestri é historiador. Autor, entre outros livros, de Filhos de Cã, filhos do cão. O trabalhador escravizado na historiografia brasileira (FCM Editora).
Referências
ALMEIDA, Sílvio. O racismo estrutural. São Paulo, Pólen, 2019.
MAESTRI, Mário. O racismo não é estrutural. A Terra é Redonda, 07/04/2021.
MAESTRI, Mário. Breve história do Rio Grande do Sul: da Pré-História aos dias atuais. Porto Alegre, FCM; Passo Fundo, UPF Editora, 2021.
Nota
[1] Agradecemos a leitura da linguista italiana Florence Carboni.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA