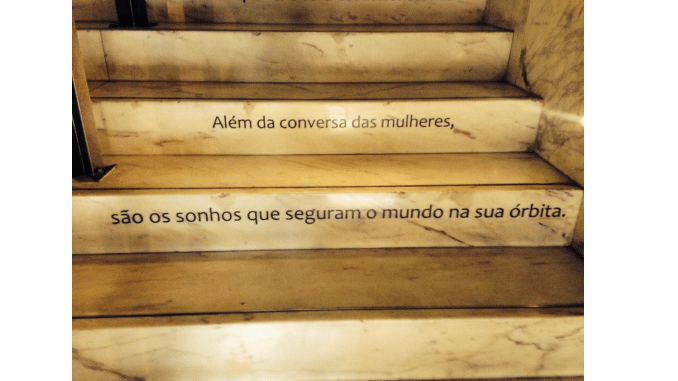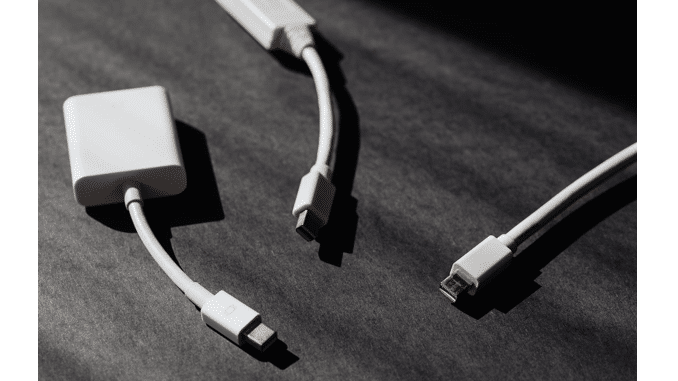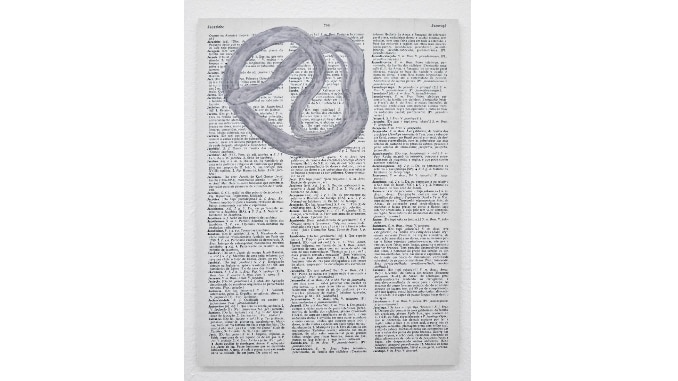Por BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS*
Começa a ser evidente que se as sociedades e as economias não adotarem outros modos de vida que não os assentes na exploração injusta e sem limites dos recursos naturais e dos recursos humanos, a vida humana no planeta corre risco de extinção
A consulta a qualquer dicionário de língua moderna escrita leva-nos a concluir que o vernáculo e o utópico são conceitos opostos. Enquanto o vernáculo (do latim, vernaculus,) significa o próprio de um país concreto, de um local ou de uma região, o utópico (de Utopia, título do famoso livro de Thomas More [1516]) significa o que caracterizaria um governo imaginário em nenhum lugar específico. Em sentido figurado, enquanto o vernáculo é o correto, puro, da terra, o utópico é o fantasioso, imaginário, quimérico. Neste texto, procuro mostrar que, ao contrário desta aparente contradição e do consenso dos dicionários a seu respeito, há mais cumplicidades entre os dois termos do que se pode imaginar, e que essas cumplicidades têm se tornado mais visíveis em tempos recentes.
O título deste texto foi inspirado pelo trabalho de um dos mais notáveis e mais esquecidos teóricos marxistas do século passado, Teodor Shanin, que realizou um trabalho pioneiro para resgatar a riqueza, a diversidade e o caráter dinâmico do pensamento de Karl Marx (contra todas as ortodoxias, marxistas e não marxistas). Shanin dedicou-se, em especial, a mostrar a importância do trabalho não publicado por Marx depois da publicação do primeiro volume de Das Kapital em 1867 (a última obra de vulto que publicou em vida) até à sua morte em 1883, o “Marx tardio”, nada mais nada menos que 30.000 páginas de apontamentos. Até à publicação de O Capital, e apesar de ter lido mais do que qualquer outro teórico europeu seu contemporâneo sobre a história das sociedades não europeias, nomeadamente asiáticas, Marx analisou-as de uma perspectiva eurocêntrica, evolucionista, centrada na ideia de que tais sociedades representavam estágios anteriores e irremediavelmente ultrapassados das sociedades capitalistas desenvolvidas da Europa. Mesmo no caso destas, a única que foi analisada por si com impressionante detalhe e lucidez foi a Inglaterra, a economia capitalista mais desenvolvida do seu tempo.
Atento aos movimentos revolucionários que emergiam em plena Europa e que não se compaginavam com o modelo de revolução proletária que tinha teorizado, Marx passou a dar-lhes uma atenção privilegiada, em vez de os ignorar ou de os quadrar à força na sua teoria. Se isto é verdade no caso da Comuna de Paris de 1871, ainda o é mais no caso do movimento populista revolucionário russo, de base camponesa, muito forte nas décadas de 1870 e de 1880. Para entender o que se passava na Rússia, Marx começou a estudar russo obsessivamente (como se fosse “uma questão de vida ou de morte”, como se queixou a sua mulher em carta a Engels, fiel companheiro e colaborador de Marx). A partir de então e até à sua morte, a heterogeneidade das histórias e das transformações sociais passou a ser um fato central nas reflexões de Marx. As consequências teóricas não se fizeram esperar: não há leis monolíticas de desenvolvimento social; não há uma, mas várias vias para chegar ao socialismo, e as análises de O Capital só são inteiramente válidas para o caso da Inglaterra; os camponeses, longe de serem um obstáculo ou um resíduo histórico, podem, em certas circunstâncias, ser um sujeito revolucionário. Tudo isto soava estranho, teoricamente impuro e “pouco marxista” aos olhos da maioria dos marxistas do final do século XIX. Esta evolução do pensamento de Marx chegou a ser considerada sinal de debilidade mental associada à velhice, e uma das quatro versões da carta de Marx dirigida a uma populista russa, Vera Zazulich, foi censurada pelos marxistas russos e só foi publicada em…1924. Curiosamente, as mesmas críticas de impureza teórica foram dirigidas a Lenine pelos seus camaradas depois de 1905-7.
Quais eram afinal os pecados de Marx? Eram dois. Por um lado, ter dado valor aos contextos e experiências locais, vernáculas, apesar de eles se desviarem dos padrões supostamente universais. Por outro lado, atribuir valor positivo e até utópico ao que era antigo, aparentemente residual (a comuna camponesa russa assente na propriedade comunitária e na democracia de base, ainda que sempre sob a vigilância do estado despótico czarista) e desafiava, pelo seu voluntarismo e moralismo, as leis objetivas (e a-morais) da evolução social que ele próprio tinha descoberto.
Tudo isto parece história de um passado longínquo e sem relevância para o nosso presente e futuro, mas na verdade não é assim. Este gênero de debate, sobre a necessidade de procurar nas tradições as energias e as pistas para futuros melhores e, mais em geral, sobre as dificuldades de a teoria pura, qualquer que ela seja, dar conta da realidade sempre rebelde e sempre em movimento, acompanhou todo o século passado, e penso que nos vai acompanhar no século atual. A título de exemplo, menciono dois contextos muito diferentes em que o debate esteve presente (se é que não continua a estar). Deixo de lado o fato de nenhum dos processos revolucionários que se estabilizou no século passado ter sido protagonizado pela classe operária nos termos precisos previstos pela teoria marxista, das revoluções russas de 1905 e 1917 à revolução mexicana de 1910, das revoluções chinesas de 1910, 1927-37 e 1949 à revolução vietnamita de 1945 e à revolução cubana de 1959. Em todas elas, o protagonista foi o povo trabalhador oprimido no campo e na cidade, e em algumas delas os camponeses tiveram um papel decisivo.
O primeiro contexto foi o da descolonização no subcontinente asiático (sobretudo na Índia) e em África. Em todos os processos de independência esteve presente o dilema entre ser dificuldade ou oportunidade o fato de as realidades locais se afastarem tanto das realidades europeias estudadas por Marx que só com muitas adaptações se poderiam imaginar revoluções nacionalistas de vocação socialista em versão marxista. No caso da Índia, o debate foi aceso no seio das forças nacionalistas: de um lado, a posição de Nehru, que associava o socialismo à modernização da Índia, em termos próximos dos da modernização europeia; do outro, Gandhi, para quem a riqueza da cultura e das experiências comunitárias da Índia oferecia a melhor garantia de libertação real. Em 1947, prevaleceu a posição de Nehru, mas a tradição gandhiana continuou viva e operativa até hoje. Na África, o arco temporal vai de 1957 (a independência do Gana) a 1975 (a independência das colônias portuguesas). Sob pena de cometer alguma omissão, penso que os quatros líderes mais notáveis da luta de libertação anti-colonial foram Kwame Nkrumah (Gana), Julius Nyerere (Tanzânia), Leopold Senghor (Senegal) e Amílcar Cabral (Guiné-Bissau). Todos eles viveram intensamente o debate sobre o valor do vernáculo africano e todos eles procuraram, ainda que de maneira distinta, neutralizar o eurocentrismo de Marx e imaginar futuros para os seus países que valorizassem a cultura, as tradições e modos de vida africanos. Cada um à sua maneira contribuiu para a ideia do socialismo africano que reivindicava a diversidade das vias para o desenvolvimento em que o humanismo africano assumia o lugar do progresso unilinear e a todo o custo, e em que as experiências ancestrais de vida comunitária tinham mais prioridade que a luta de classes. Estava presente em todos eles a possibilidade de o vernáculo local e ancestral se transformar na ideia mobilizadora de uma utopia de libertação. Obviamente, tal como no Marx tardio, que nenhum deles conhecia, o vernáculo teria de ser adaptado para libertar o seu potencial utópico.
Quando em 1975, as então colônias portuguesas ascenderam à independência, as condições do debate tinham-se alterado profundamente devido ao contexto externo e também ao conhecimento da evolução das experiências anteriores de independência no continente. Mesmo assim, a tensão entre o vernáculo e o utópico manifestou-se de múltiplas formas. Para dar apenas um exemplo, em Moçambique, o partido Frelimo começou por ter uma posição hostil em relação a tudo o que era tradicional porque via nele um passado irremediavelmente adulterado pela violência colonial. Foi assim hostil à continuidade das autoridades tradicionais que administravam justiça de modo informal, por membros da comunidade e com recurso aos sistemas de justiça africanos. No entanto, o desmantelamento deste sistema de autoridades comunitárias causou tamanha perturbação nos modos de convivência pacífica nas comunidades, onde de qualquer modo não chegava a justiça oficial, que o governo voltou atrás e legitimou, já em 2000, estas autoridades, que hoje funcionam em paralelo com tribunais comunitários. De modo semelhante, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde os tribunais de tabanca persistiram com o nome de tribunais de zona.
O segundo contexto, muito diferente e bem mais recente, teve lugar no México com o levante Zapatista em Chiapas, em 1994, e na Bolívia e no Equador, com os processos constituintes que se seguiram às vitórias nas eleições presidenciais de Evo Morales (2006) e de Rafael Correa (2007). A experiência zapatista representa uma das mais complexas combinações entre o vernáculo e o utópico, combinando até hoje os ideais de libertação social e política com a valorização da cultura e das experiências comunitárias dos povos indígenas do sul do México. Um entendimento contra-hegemônico dos ideais dos direitos humanos articula-se com uma reivindicação radical de auto-governo e de inovação constante a partir do próprio e do ancestral. Por sua vez, as duas experiências democráticas na Bolívia e no Equador ocorreram depois de décadas de mobilização dos povos indígenas, de tal modo que as cosmovisões ancestrais indígenas imprimiram de forma decisiva a sua marca nas Constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009). A ideia do desenvolvimento foi substituída pela ideia de bem viver, a concepção da natureza como recurso natural foi substituída pela concepção da natureza como pachamama, a mãe-terra que deve ser cuidada e cujos direitos estão especificamente consagrados no artigo 71 da Constituição equatoriana. A articulação entre o vernáculo e utópico, entre o passado e o futuro, colhia o entusiasmo dos movimentos ecologistas urbanos de muitos países que, sem nada saberem da filosofia indígena, se sentiam atraídos pelo respeito que dela emergia pelos valores do cuidado da natureza e da consciência ecológica que os mobilizava. Tal como acontecera antes com os zapatistas, a nova e inovadora ênfase no vernáculo e no local criava linguagens que transcendiam o local e se integravam em narrativas emancipatórias cosmopolitas com registo anti-capitalista, anti-colonialista e anti-patriarcal.
Esta tensão criadora entre o vernáculo e o utópico não acabou com as experiências históricas que acabei de referir. Ouso pensar que vai nos acompanhar neste século, certamente fortalecida pelas alternativas que se abrem no período pós-pandemia. Começa a ser evidente que se as sociedades e as economias não adotarem outros modos de vida que não os assentes na exploração injusta e sem limites dos recursos naturais e dos recursos humanos, a vida humana no planeta corre risco de extinção.
*Boaventura de Sousa Santos é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Autor, entre outros livros, de O fim do império cognitivo (Autêntica).