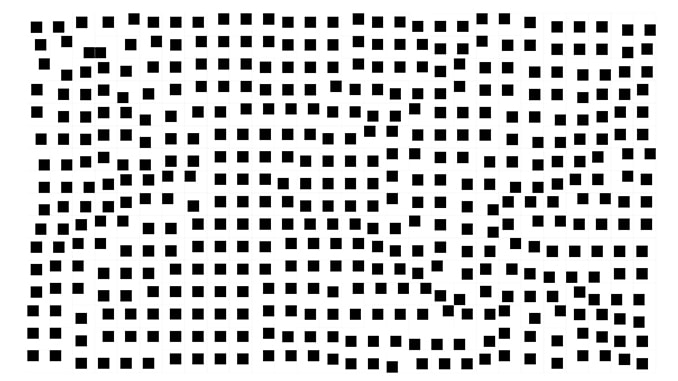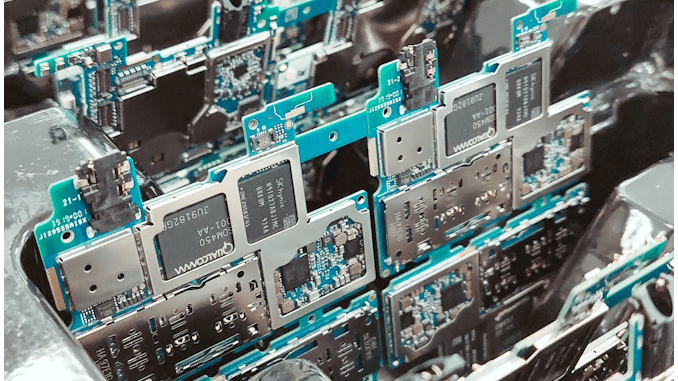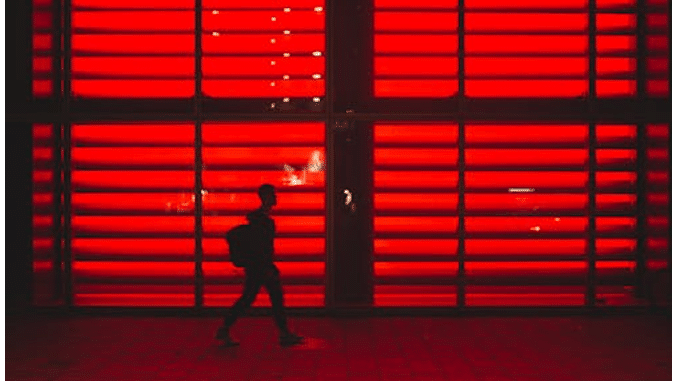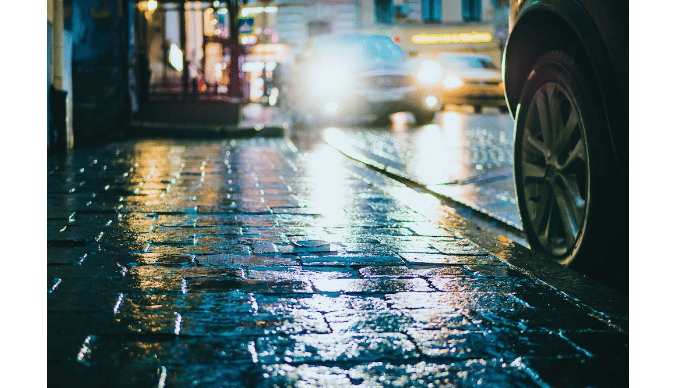Por JOÃO DOS REIS SILVA JÚNIOR*
O valor não reside na atenção, mas a atenção tornou-se o mecanismo pelo qual o capital captura o tempo de vida, prolongando o roubo da existência até o último suspiro de consciência
A reflexão que se segue parte do conceito que venho desenvolvendo nos últimos anos: o Dual da Dependência. Essa categoria nasce do encontro entre a Teoria Marxista da Dependência (Ruy Mauro Marini, Vânia Bambirra, Theotonio dos Santos) e a Crítica da Razão Dualista de Francisco de Oliveira. Se a primeira explicou o funcionamento do capitalismo nos países periféricos, mostrando que a superexploração do trabalho é a base da acumulação dependente; a segunda revelou que a razão dualista é a forma ideológica dessa dependência — a maneira pela qual o pensamento brasileiro justifica o atraso como “etapa” do progresso.
O Dual da Dependência é, portanto, uma categoria totalizante: ele designa a condição estrutural das instituições públicas e sociais nos países dependentes, capturadas por dentro pelo capital fictício e pela ideologia da modernização subordinada.
Não se trata apenas de economia, mas de forma social: o Estado, a universidade, a escola, o sistema de saúde, o próprio pensamento crítico — todos funcionam sob o mesmo princípio da dupla determinação. De um lado, dependem do fundo público, constantemente sequestrado pelo rentismo; de outro, reproduzem a lógica das metrópoles, internalizando o olhar do centro como medida de racionalidade.
Assim, o Dual da Dependência expressa a dupla alienação que define o capitalismo periférico: a alienação material do trabalho superexplorado e a alienação simbólica de um pensamento que se vê com os olhos do outro. É nessa chave que o texto a seguir dialoga com Eleutério Prado: não para contestar o rigor da teoria do valor, mas para pensar o fetichismo do real dependente, onde o trabalho, a atenção e o tempo se confundem sob o domínio do capital digital e financeiro.
As presenças tutelares
Há nomes que não nos abandonam. Francisco de Oliveira é um deles.
Há mais de duas décadas, quando Crítica à Razão Dualista reapareceu como profecia do que se tornaria o capitalismo brasileiro, muitos de nós voltamos a Marx pela mão do velho Chicão — não apenas para reler O Capital, mas para reentender o país. Ele não escrevia como quem explicava: escrevia como quem desvendava.
Hoje, ao ler O fim incontornável de uma teoria, de Jorge Nóvoa e Eleutério Prado, sinto novamente a presença do Chicão. Prado, que sempre foi e ainda é uma das suas influências mais vigorosas, vem há décadas empreendendo uma tarefa admirável: devolver a Marx a profundidade lógica que o marxismo vulgar perdeu. Seus livros — Da lógica da crítica da economia política (2022), Tempo e contradição no capital (2020), A lógica dialética em Marx (2014) — compõem uma obra que, no Brasil, mantém viva a centelha da dialética hegeliano-marxiana em tempos de algoritmos e servidão voluntária. Respeito, pois, é o mínimo. Mas respeito não é silêncio. A crítica, se é marxista, é sempre uma forma de reconhecimento.
O artigo de Nóvoa e Prado responde à proposta de Marcos Barbosa de Oliveira — a ideia de uma “teoria do valor-atenção” que buscaria compreender a economia das plataformas digitais. O argumento de Prado é preciso: a atenção, ainda que apropriada pelas “big techs”, não cria valor; apenas expressa o fetichismo das relações sociais. O valor, ensina Marx, não brota da percepção ou do consumo, mas do trabalho abstrato socialmente necessário.
E é aqui que o debate se acende. Porque o que parece estar em jogo não é apenas a definição de valor, mas o modo de pensar o capitalismo contemporâneo — e, com ele, o trabalho humano transformado em dado, código, algoritmo.
Prado tem razão ao afirmar que “o fetichismo da mercadoria não é invenção da cabeça criativa de Marx”. É a própria vida que se fetichiza. Mas a questão que emerge — e que Chico de Oliveira talvez chamasse de “a astúcia da razão dependente” — é que, sob o capitalismo digital, a mercadoria não é apenas o produto, mas a própria forma da subjetividade.
O trabalhador não fabrica apenas mercadorias: fabrica sua própria atenção como valor de uso das plataformas. E, se não cria valor no sentido estrito, cria as condições de extração de mais-valor absoluto e relativo, mediadas por um novo circuito de tempo e vigilância.
É nesse ponto que o debate poderia avançar: não para substituir o trabalho pela atenção, mas para compreender a atenção como forma derivada da subsunção real da subjetividade ao capital. Marx escreveu, nos Grundrisse, que “a mais-valia é o tempo de trabalho não pago que o capital se apropria”. Hoje, esse tempo inclui o que não parece trabalho — o “tempo de vida em vigília”, como dizia Chico.
A metafísica do real e o real da metafísica
Prado recupera, com rigor, a observação de Ruy Fausto de que o discurso “quase metafísico” de Marx é o verdadeiro discurso científico, pois reproduz a metafísica do real.
A beleza dessa formulação está no paradoxo: o capitalismo é uma ontologia delirante que se faz passar por ciência. Mas é aqui, também, que se abre uma fresta para a dialética que Chico de Oliveira introduziu na crítica brasileira: a de que a dependência é a forma concreta da metafísica do real nos países periféricos.
O fetichismo, aqui, tem sotaque, cor e subemprego. A “coisa encantada” que Marx descreve em 1867 (“cheia de sutileza metafísica e manhas teológicas”) é, entre nós, a universidade pública capturada, o fundo público sequestrado, a escola transformada em filial do Banco Mundial.
Se Marx observava, na Inglaterra, o “trabalhador livre” alienado de seus meios de produção, nós vemos o trabalhador dependente, alienado não só de seu produto, mas da própria capacidade de pensar sua dependência. Como escreveu Chico, “a dualidade não é uma falha do sistema; é o sistema funcionando como deve”.
Por isso, ao contrário do que supõe o medo da metafísica, o essencialismo de Marx não é uma recaída aristotélica — é o retorno do real social como categoria. O valor não é essência; é relação social que se apresenta como essência. E essa relação, ao se mundializar, toma formas múltiplas: o operário inglês, o camponês chinês, o entregador brasileiro — todos submetidos à mesma lógica, mas por mediações distintas.
A hipóstase e o fetiche: a dupla face do capital digital
Ao acusar Marcos Barbosa de Oliveira de ter caído numa “hipóstase”, Eleutério Prado retoma uma distinção refinada: a hipóstase é o erro da ciência moderna que transforma o fenômeno em substância; o fetichismo é o erro do próprio capitalismo que transforma a relação social em coisa. Prado tem razão. Mas talvez falte, nesse diagnóstico, o reconhecimento de que o capitalismo digital realiza o sonho da hipóstase.
O dado é o fetiche perfeito: não é só aparência, é materialidade codificada.
Marx já intuía algo disso quando escrevia que “o capital é trabalho morto que, como vampiro, só vive chupando o trabalho vivo”. No digital, o vampiro aprendeu a sugar sem morder: basta rastrear.
O “valor-atenção” de Marcos Oliveira talvez não passe de um equívoco terminológico; mas o fenômeno que ele tenta nomear é real: a conversão da atenção em força produtiva, não no sentido de criar valor novo, mas de potencializar a realização do valor. O capital, que antes extraía mais-valia do corpo, agora extrai mais-valia da mente — não como trabalho direto, mas como captura de disposições, preferências, emoções.
Em Marx, a distinção entre trabalho produtivo e improdutivo já continha essa tensão. No Capítulo VI Inédito, lê-se: “O capital não cria valor senão absorvendo trabalho vivo; mas tudo o que serve para essa absorção é funcionalmente produtivo para ele.”
A atenção, nesse sentido, é improdutiva para o valor, mas produtiva para o capital — e nisso reside a astúcia do neoliberalismo digital.
Chico de Oliveira, se lesse esse debate, talvez sorrisse e dissesse: “o valor é o tempo sequestrado do trabalhador”. E, de fato, Marx o escreveu — não com essas palavras, mas com a mesma dor: “O tempo é o espaço do desenvolvimento humano. O roubo desse tempo é o roubo da própria vida.” O que o capitalismo contemporâneo faz é prolongar esse roubo até o último segundo de consciência. As plataformas não nos exploram apenas enquanto produzimos; exploram-nos enquanto existimos. Aqui, a crítica de Prado à “teoria do valor-atenção” é necessária, mas talvez precise ser deslocada: não se trata de defender que a atenção cria valor, mas de compreender como o capital transformou a atenção em mecanismo de captura do tempo social.
É uma mudança de escala: o fetichismo não é mais apenas a forma de percepção das mercadorias, mas o próprio modo de produção da experiência. E, nesse sentido, Marx continua certo — com todas as vírgulas: “O misterioso da forma-mercadoria consiste, portanto, no fato de que ela reflete aos homens as características sociais do seu próprio trabalho como características objetivas dos próprios produtos do trabalho.” O que muda é o espelho.
Dependência e dualidade: o fetiche no trópico
Se o fetiche é universal, a dependência é sua tradução colonial.
Chico de Oliveira, em O Ornitorrinco, dizia que o Brasil “chegou à modernidade pelo caminho mais torto, o do arremedo”. A crítica de Eleutério Prado, no registro da lógica dialética, encontra aqui sua mediação sociológica: o capitalismo dependente é uma metafísica em segunda mão.
O fetichismo da mercadoria, na periferia, é duplamente fetichizado: porque as relações sociais aparecem como coisas, e porque essas coisas aparecem como importadas. A atenção capturada no Brasil não é apenas força improdutiva; é força subordinada — “atenção dependente”, diria Chico, se tivesse lido TikTok.
A teoria do valor-atenção falha, sim, em compreender a estrutura ontológica do valor; mas a crítica a ela só se completa quando reconhece que a atenção é o novo modo de obediência social. E é aqui que o diálogo com a Teoria Marxista da Dependência (Marini, Bambirra, Dos Santos) se impõe. Se o capital, no centro, absorve o trabalho por meio da automação, na periferia ele o faz pela superexploração. E a superexploração, hoje, inclui o tempo de vida digital, a precariedade cognitiva, a submissão simbólica.
O capital digital é a forma atual do dual da dependência: um Estado que subsidia o capital financeiro, uma sociedade que entrega seu tempo livre às plataformas, e uma universidade que ensina a produzir algoritmos para aprofundar o mesmo fetiche.
O que Eleutério Prado chama de “fetichismo” e o que Chico chamaria de “razão dualista” são, afinal, dois modos de nomear o mesmo abismo.
Chico o descreveu com ironia cruel: “O Brasil é um país em que o arcaico e o moderno dançam de rosto colado.” A economia da atenção é essa dança com nova coreografia. O arcaico é o trabalho sem direitos; o moderno, o algoritmo que o comanda. Ambos se encontram na tela do celular, onde o trabalhador se vê e se vigia.
Marx, no Prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política, dizia: “A humanidade só se propõe tarefas que pode resolver, porque a própria solução nasce no interior das condições materiais.”
Pois bem: as condições materiais do presente exigem que voltemos a Marx — e, com ele, a Chico — não para descobrir um novo valor, mas para reconhecer o novo modo de dominação do valor existente. A atenção é o nome contemporâneo da alienação; mas a alienação é velha como o capital.
Um diálogo necessário
Não há antagonismo entre Prado e Oliveira, como às vezes parece.
Há, antes, duas tradições do pensamento crítico brasileiro em diálogo: a da ontologia do valor, que Prado representa com elegância filosófica, e a da ontologia da dependência, que Chico encarnou com ferocidade sociológica.
O desafio é unificá-las. Porque o fetichismo da mercadoria não explica, por si só, o fetichismo da periferia; e a dependência não se compreende sem a crítica do valor. Quando Chico dizia que “o capital no Brasil é uma usina de negação da razão”, estava descrevendo, com outras palavras, a mesma lógica que Prado encontra no fetiche: a inversão da mediação social. Ambos falam do mesmo inferno — um pela filosofia, o outro pela sociologia.
O texto de Nóvoa e Prado pergunta, com ironia, quem se oferece para continuar a busca por uma teoria do valor-atenção. A resposta, talvez, não esteja na economia, mas na história: a teoria do valor não acabou; o que acabou foi o mundo em que o trabalho aparecia como trabalho.
A dialética ainda é necessária, mas precisa ouvir os ruídos do tempo: o som das notificações, o zumbido dos drones, o silêncio do desemprego. O fetiche se sofisticou; a miséria, não. Chico de Oliveira nos ensinou que a teoria crítica só sobrevive se for capaz de “escovar a história a contrapelo”. Por isso, ao ler Eleutério Prado, não vejo um fim, mas uma passagem — da crítica da economia política à crítica da economia algorítmica.
E talvez, se o velho Chicão pudesse escrever uma nota ao pé da página, diria apenas: “O valor é eterno enquanto dura o trabalho; e o trabalho, no capitalismo, dura demais”.[1]
*João dos Reis Silva Júnior é professor titular do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Autor, entre outros livros, de Educação, sociedade de classes e reformas universitárias (Autores Associados) [https://amzn.to/4fLXTKP]
Nota
[1] Escrevo estas linhas como quem continua um diálogo.
Eleutério Prado é, há muitos anos, uma das presenças tutelares do pensamento marxista brasileiro — um interlocutor que, como poucos, soube fazer da dialética hegeliana um instrumento de crítica e de rigor. Se insisto em dialogar com ele, é porque o tempo histórico exige que voltemos à teoria — não como refúgio, mas como campo de batalha.