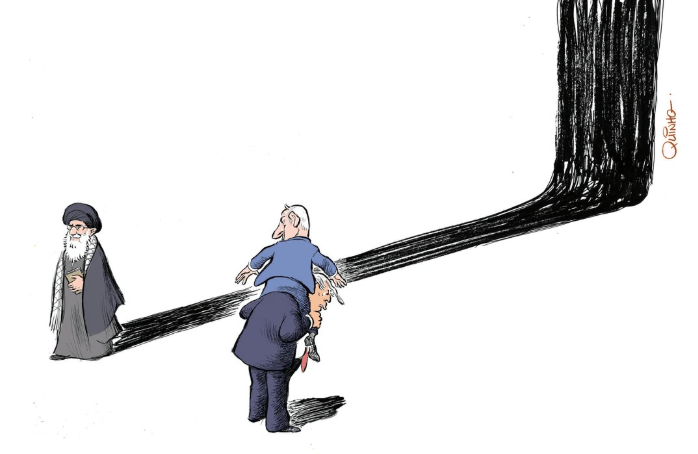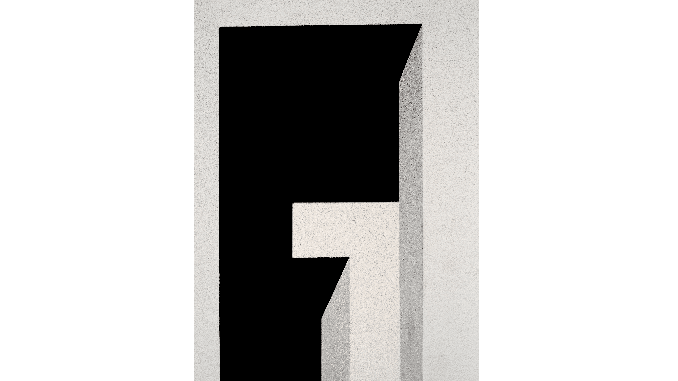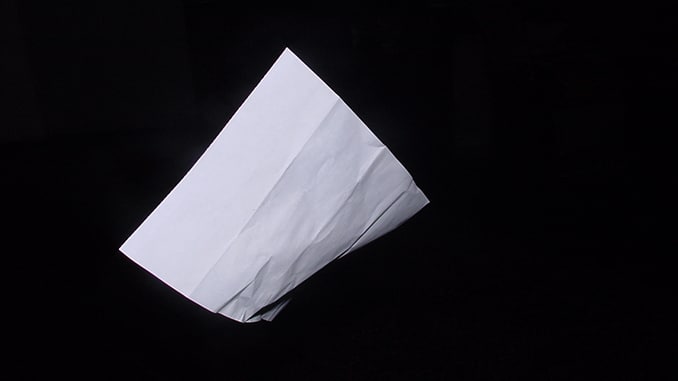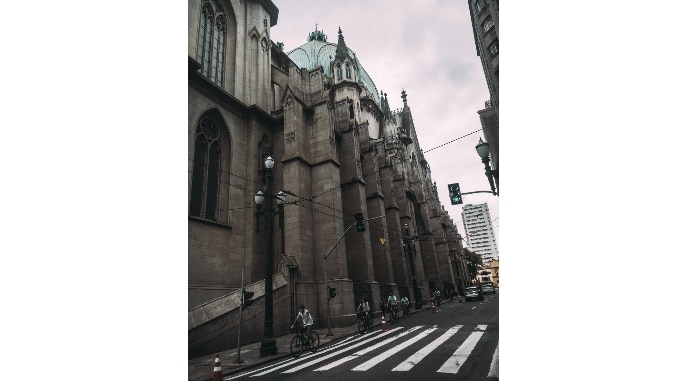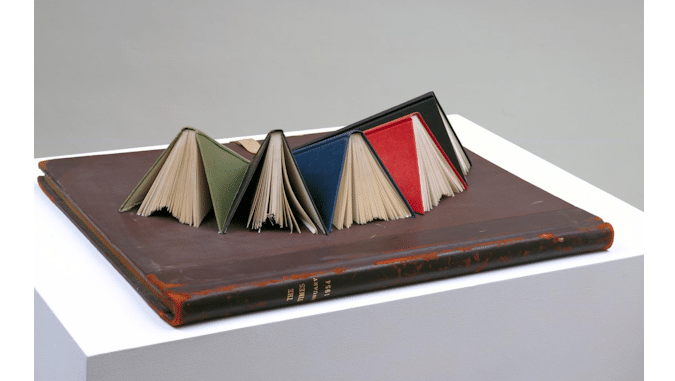Por AFRÂNIO CATANI*
O ato de escrever é indissociável da vida concreta, da disciplina, das limitações e das ferramentas utilizadas, transformando a experiência em forma, seja ela uma resistência política ou uma cura pessoal
Se não escrevo as coisas / elas não encontram seu termo. / são apenas vividas (Annie Ernaux, O jovem)
Em 31 de agosto último publiquei no site A Terra é Redonda o artigo “Atos e maneiras de escrever”, mostrando como e onde vária(o)s autora(e)s e/ou intelectuais escrevem seus textos. Continuei a pesquisa sobre o tema e, nas linhas seguintes, apresento alguns outros achados.
1.
A professora Aurora Fornoni Bernardini, 84 anos, docente aposentada da FFLCH da USP, e renomada tradutora do russo, italiano e inglês, verteu para o português, entre outros, obras de Umberto Eco, Dino Buzzati, Giuseppe Ungaretti. Em entrevista a Carolina Azevedo (2025), revelou que “ainda traduz livros inteiros à mão. Nos cadernos de espiral sem pauta, em letra cursiva clara, adapta verso e prosa do italiano, do inglês e do russo.
Sua empreitada mais recente foi da autobiografia da escritora russa Nina Berberova, mais de 900 páginas divididas com o tradutor Irineu Franco Perpétuo, que a Editora Kalinka lança em breve (…). Entre os vários projetos aos quais se dedica no momento, ela destaca (…) a versão em italiano da biografia do empresário Francisco Matarazzo, escrita por Ronaldo Costa Couto, [para a qual] já comprou quatro cadernos de espiral”.
O escritor, poeta e político português Manuel Alegre (1936) recebeu ao menos duas dezenas de prêmios literários, tendo ficado vários anos exilado durante a ditadura as mais de quatro décadas da ditadura de António de Oliveira Salazar e de Marcelo Caetano, encerrada em 25 de abril de 1974.
Um de seus poemas, “Velhos cadernos quadriculados”, contido no livro Bairro Ocidental (2015, p. 48), é bastante significativo no que se refere a uma escrita de resistência: “Os meus primeiros cadernos estão aqui/cheios de sangue e merda e lama/com poemas escritos à pressa no intervalo/de um combate ou de cócoras a cagar/no meio do mato. Poemas decorados/quando na cela não havia papel e eram lidos em voz alta/só para ter a quem ouvir./Poemas mais tarde escritos às escondidas/ou a passar fronteiras ou registrados/enquanto caminhava pelas ruas/sem país sem casa sem tertúlias/nem compadrios literários/apenas a incomparável marginalidade externa/em caderno quadriculado para apontar/o sangue a merda a lágrima o amor a perda/de que se faz cada poema”.
Jorge Luis Borges (1899-1986) teve vários amigos, colaboradores e mesmo desconhecidos, que sistematicamente o visitavam e liam para ele. Alberto Mangel (1949), jovem estudante que trabalhava na Pygmalion, uma livraria anglo-germânica de Buenos Aires da qual o velho bruxo era frequentador assíduo, foi um deles. Alberto Mangel conta que Dona Leonor, a mãe de Borges, já na casa dos noventa anos, se cansava facilmente e os jovens liam para ele em voz alta. A cegueira e a velhice o obrigavam a ficar solitário.
Ele “construía frases na cabeça até que estivessem prontas para serem ditadas a quem estivesse à disposição. Borges pedia para que se anotasse as palavras que acabara de compor e decorar. Em seguida pede que se leia o que foi anotado. Solicita quatro ou cinco leituras, escutando as palavras, visivelmente revirando-as na cabeça. Em seguida acrescenta outra frase e mais outra. O poema ou parágrafo (…) toma forma no papel, assim como aconteceu na sua imaginação. É estranho pensar que a composição recém-nascida aparece pela primeira vez numa letra que não é a do autor (…). Borges pega o pedaço de papel, dobra-o, guarda na carteira ou dentro de um livro” (MANGEL, p. 16-17).
Jorge Luis Borges se indispõe com Juan Domingo Perón (1885-1974), pois se recusa a aderir ao Partido Justicialista, exigido de todo funcionário público. Em represália, é transferido de seu emprego de bibliotecário-assistente da Biblioteca Nacional para a de inspetor de aves domésticas num mercado local. Humilhado, pediu demissão (p. 62).
Com a morte do pai em 1938, Jorge Luis Borges tornou-se arrimo de família dependendo, ele e a mãe, apenas dessa fonte de renda. “Com a demissão, foi obrigado a vencer a timidez e a dar palestras e conferências. Ele decorava o texto inteiro, frase após frase, parágrafo após parágrafo, repetindo-o até cada hesitação, cada busca aparente pela palavra correta, cada tirada estarem inteiramente enraizadas na sua mente”. Acrescentava com ironia: “Considero minhas palestras a vingança do tímido” (p. 62).
2.
Ágota Kristóf (1931-2011), escritora húngara radicada na Suíça a partir de 1956, chegou ao exílio sem saber uma palavra de francês. Em A analfabeta afirmou que “é preciso continuar escrevendo. Inclusive quando não interessa a ninguém”. Ela levantava às cinco e meia, amamentava sua filha, a trocava, pegava o ônibus das seis e meia que a levava à fábrica.
Deixava a menina na creche e começava a trabalhar, saindo às cinco horas, buscava a pequena, fazia compras, voltava para casa, acendia a lareira, arrumava o jantar, colocava a criança na cama, lavava a louça, escrevia um pouco e ia dormir (p. 39-40). Escrevia poesia na fábrica de relógios, pois considerava o trabalho monótono. “Tomava notas, esboçava algo e à noite, em casa, reescrevia e passava tudo a limpo num caderno” (p. 40).
O jornalista italiano nascido em Gênova e com uma carreira de sete décadas no Brasil, Mino Carta (1933-2025), criador de publicações e renovador da imprensa brasileira, homem de esquerda e fundador de Veja, IstoÉ e Carta Capital, era “inseparável de sua máquina de escrever Olivetti” (MEIRELES, 2025, p. A14).
Por sua vez, Rosa Freire D’Aguiar (1948), jornalista e tradutora, revela que chegou em Paris, no aeroporto de Orly, numa quinta-feira, 13 de setembro de 1973 às 15h30, para trabalhar como jornalista da revista Manchete. “Eram tempos em que malas não tinham rodinhas. Em que jornalista viajava com máquina de escrever com estojo pesado. A minha, então, nem se fale! Nova em folha, fabricada na Alemanha Oriental, o que, garantia o vendedor de uma lojinha no centro do Rio de Janeiro, era sinônimo de qualidade e robustez” (D’AGUIAR, 2023, p. 7).
Vinícius de Moraes (1913-1970), quando se dedicou integralmente a fazer letras para canções, escrevia algumas delas numa velha máquina Smith Corona (onde já batucava, no passado, suas crônicas e artigos), ou em outras disponíveis. Em um dos discos que gravou com Maria Creuza (1944) e Toquinho (1946), ele foi o autor da contracapa do LP. Disse que havia se instalado na cobertura de Maria Alice Rufino, então namorada de Toquinho, e foi, vagarosamente, cobrindo de palavras um grande caderno especialmente comprado para isso. Nos anos 1950 ou 1960 Vinícius, de ressaca brava após ingerir doses e doses de um genuíno produto escocês, escreveu a famosa crônica intitulada “Smith Corona versus Vat 69”.
A antropóloga Mirian Goldenberg (1957) declarou que escreve “com uma caneta em cadernos sem qualquer censura. Tenho centenas de cadernos guardados nos meus armários. Nunca li nada do que escrevi neles. Não foram feitos para serem lidos, mas para serem escritos” (2020). Mirian informa que “não conseguiria sobreviver sem escrever”, pois para ela “escrever é a minha vida (…), cura a minha ansiedade excessiva, meu pânico avassalador, minha tristeza interminável. É a forma que eu encontrei para ser eu mesma. posso ficar sem comer ou sem dormir, mas desde os meus 16 anos não vivi um só dia sem escrever”.
3.
Annie Ernaux (1940), Prêmio Nobel de Literatura em 2022, oriunda de pais operários que, com muitas dificuldades, se transformaram em pequenos proprietários de um café-mercearia em Yvetot, “situada no planalto do Pays de Caux, na França, e atravessada pela rodovia nacional que vai de Rouen ao Havre” (ERNAUX, 2023, p. 230), comenta que seu modo e ritmo de trabalho “variam muito”: “Me esforço para escrever todos os dias, mas não consigo, por motivos concretos, de compromissos, compras urgentes. Fora isso, é de manhã que eu me sinto mais disponível para a escrita, mas não além de uma, duas da tarde, por vezes escrevo muito pouco, mas na verdade, estou o tempo todo pensando. Penso o tempo todo no livro que estou escrevendo. É como se…como se eu vivesse em dois planos. Vivo na vida real – como aqui, agora – e também em outros planos, o da escrita do livro que está me acompanhando. Que é uma obsessão, na verdade” (Idem, p. 228).
Annie Ernaux ainda acredita que “de modo global, o fato de escrever dá forma à existência” (p. 128), e que seus escritos são como um “canteiro de obras” que “está lotado de coisas inacabadas, são esboços de obras futuras” (p. 109). Ernaux faz rascunhos, trabalhando em folhas de papel (“com canetas de ponta fina”), “cheia de rasuras – mas isso também depende dos textos, de acréscimos, palavras escritas em cima de outras, deslocamentos de frases e parágrafos” (p. 120). Há uns 35 anos mais ou menos, ela mantém uma espécie de “diário de escrita”, na verdade, “um diário entre escritas”, porque recorre a ele para expor seus problemas e hesitações “antes de escrever ou no início de um livro. A partir do momento em que estou realmente dentro de um texto, não anoto mais nada nesse diário” (p. 124).
Annie Ernaux revela que seus manuscritos lembram “cada vez mais um patchwork: cada folha tem parágrafos repletos de acréscimos por cima das palavras entre linhas e na margem, com canetas de cores diferentes, às vezes lápis preto. O lugar desses parágrafos não é fixo, por isso tem indicação de remissão de página. À folha 10, por exemplo, pode-se acrescentar 10B, 10C, 10D (ainda não fui além disso). E mais recentemente comecei a usar post-it, mas não confio no aspecto efêmero deles, porque quero guardar tudo: aquilo que não me agrada em um dia pode me satisfazer no dia seguinte (…) Tudo isso diz respeito à minha maneira de escrever quando estou mergulhada no projeto, na construção dele: por um lado, avançar muito lentamente e, por outro, fazer acréscimos sem parar, colocar de volta coisas que me ocorrem, seja no momento em que escrevo, seja em qualquer outro, no dia a dia. Poucos cortes. Eu corto muito, contudo, na última etapa, quando passo o texto para o computador (nos últimos sete anos; antes eu usava máquina de escrever, que necessariamente limitava o número de correções e revisões)” (p. 127).
Nesse livro de Annie Ernaux que venho citando, A escrita como faca e outros textos, que em grande parte é integrado por um longo diálogo com Frédéric-Yves Jeannet, é lembrado a situação vivenciada por Raymond Carver (1938-1988): “as brincadeiras de seus filhos em um apartamento pequeno o impedia de escrever e que a opção pelo conto era uma resposta à impossibilidade de se concentrar por muito tempo em um texto longo” (p. 105).
Ela acrescenta que sempre gostou do trabalho de Raymond Carver, pela “…maneira simples de falar da vida concreta, de apontar a importância decisiva dela em sua escrita, na opção pelo texto curto, o conto. Talvez não seja o único elemento determinante, mas ao menos ele não o esconde. Na França, muitas vezes preferimos evitar esse assunto. Por outro lado, ele fala – coisa extremamente rara para um escritor homem – dos choros e das brincadeiras dos filhos, dos quais ele também precisa cuidar, que o impedem de se concentrar” (p. 105).
A escritora e tradutora Laura Erber (1979), em necrológio de Alice Munro (1931-2024), Prêmio Nobel de Literatura em 2013, conta que um dos livros que a tornou célebre, Dance of the Happy Shades (1968), foi escrito ao longo de quase 15 anos, na passagem dos seus 20 aos 30 anos, quando se tornou uma mulher casada e mãe. “Escreveu boa parte dos contos enquanto seus bebês dormiam e, mais tarde, nas horas em que frequentavam a escola”.
Segundo Laura Erber, a escritora, que já estava afastada há mais de uma década da vida pública por um quadro de demência, teve 4 filhas e, já nesse livro de contos, “se revelava uma autora capaz de manejar com destreza a intrincada tapeçaria das emoções humanas e os impasses que se escondem por trás de vidas que parecem comuns” (ERBER, 2024).
4.
Chico Buarque (1944), em uma das edições do programa Ensaio (1994) na TV Cultura (São Paulo), declarou que quando escreve não ouve música, nem sequer instrumental, pois acaba se distraindo. Ou escreve ou ouve música. Escreve em completo silêncio. A música de fundo o perturba profundamente. Para ele, a música também atrapalha quem quer conversar – conta que Rubem Fonseca (1925-2020) escrevia ouvindo música o tempo todo.
Chico Buarque afirma que começa a escrever um livro sem ter ideia exata do que vai escrever, acerca da voz e da linguagem de um narrador. Declara-se mais leitor do que escritor. Não lê mais o que escreveu em voz alta para “sentir” o texto – fez isso com Estorvo (1991).
O seu trabalho de escrita inicia-se no começo da tarde e segue o dia todo, até a hora do sono. Escreve à mão, passa à limpo no computador, escreve outra vez, passa a limpo, imprime, faz outras correções, lê no computador, imprime novamente. Quando para de escrever imprime para ler antes de dormir. Na mesa de cabeceira tem sempre caneta e um caderninho, pois ao reler o que produziu encontra passagens que necessitam ser retrabalhadas.
Quando escreve, o faz absolutamente sóbrio; para criar, o álcool é proibido. Às vezes, uma taça de vinho antes de dormir, “para ler, para saborear”, para quando se faz alguma revisão. Um cigarrinho de vez em quando. Diz que “trabalha se divertindo” e, quando sai de casa, leva sempre caderninho, papel, para anotar algumas ideias que possam surgir.
Miguel Torga (1907-1995), médico otorrinolaringologista e autor de vasta obra literária, com cerca de 50 livros (poesias, romances, contos, diários, ensaios, discursos, peças teatrais), sempre assumiu a sorte do povo humilde de Portugal, chegando a confessar vergonha que sentia de escrever sobre gente que sabia não o poder ler. Sobre sua terra declarou: “as coisas de Trás-os-Montes tocam-me muito no cerne para eu poder esquecer a solidariedade que devo a quem sofre e a quem sua. E isto repete-se com maior ou menor força no resto de Portugal” (TORGA, 1966, p. 135).
O pai de Miguel Torga trabalhou com a enxada até pouco antes de morrer, vivendo modestamente no campo. Miguel, por sua vez, labutou durante anos em atividades modestas e sempre foi crítico e reflexivo com relação ao seu ofício de escritor. Clinicou por cerca de seis décadas. Mas há uma peculiaridade de Miguel Torga a ser destacada: até quase o fim da vida manteve controle total sobre a sua produção literária, editando seus próprios livros.
Escrevia, enviava os originais para uma tipografia de confiança, corrigia exaustivamente as provas, reescrevia grande parte do tomo e, também, cuidava da comercialização dos títulos ou, em outras palavras, o que escrevia ia de sua pena às mãos do leitor. Parcelas significativas dos meios intelectuais portugueses o considerava pessoa difícil no trato, o taxava de avarento, embora desse consultas médicas gratuitas a muita gente pobre.
Miguel Torga escreveu quase 1.800 páginas dos 16 volumes de seus Diários, abrangendo o período de 03 de janeiro de 1932 a 10 de dezembro de 1993. Ele escrevia incessantemente em todos os lugares em que se encontrava. O testemunho de seu amigo Manuel Alegre, que o visitou no hospital, quando Miguel Torga já estava bastante doente, é significativo nesse sentido.
Fala que viu Miguel internado “…segurando o caderno e a caneta como quem, no campo de batalha, ferido de morte, não larga suas armas. Eram já poucas as forças, mas a mão mantinha-se firme na caneta e no caderno. Não queria ser apanhado desprevenido (ou desarmado) se uma vez mais lhe aparecesse aquele primeiro verso, que sempre nos é dado, como costumava dizer. Estava preparado, porque nunca se sabe, como se diz na Bíblia, quando vem o sopro e de que lado sopra. A terra respira de muitas formas. Pela boca do vulcão Santiago, pela falta de Camilo Pessanha (1867-1926, poeta português), pela grafia do poeta que escrevia noite adentro, pela primeira e pelas últimas palavras de Sophia [de Mello Breyner Andresen (1919-2004), poeta portuguesa] e, sobretudo, pela sua entonação de um ritmo já só ritmo. E pelo pulso de Miguel Torga, por aquela mão antiga a segurar o caderno e a empunhar a caneta até o fim” (ALEGRE, 2010, p. 85-86).
Ainda sobre Miguel Torga, Manuel Alegre completa: “Temos em nossas mãos o terrível poder de recusar. Esse foi o seu [Torga] poder. O de recusar a tirania, a mentira, os compadrios e a facilidade 9…) Não o venceram em vida e não vencerão depois da morte. Ele é e será sempre uma referência em Portugal, da literatura, da liberdade” (ALEGRE, 2026, p. 38).
Pierre Bourdieu (1930-2002), no filme A Sociologia é um esporte de combate (Pierre Carles, 2001), comenta que durante as férias nadava, lia e escrevia. Quando estava escrevendo, procurava não aceitar conferências, cursos ou palestras, em especial no exterior; uma vez que o trabalho é interrompido, acaba-se entrando numa maratona que envolve vôos, hotéis, entrevistas, manter conversações em outras línguas…Ao retornar, você já perdeu toda a concentração, é muito difícil conseguir retomar o texto.
Nas férias ele tinha mais tempo para dar melhor acabamento ao manuscrito, deslocando parágrafos, criando títulos intermediários, reelaborando o plano da obra etc. Chega a dizer que se você escrever uma introdução muito longa, estará perdido, pois qual será o tamanho dos outros capítulos?
5.
Clarice Lispector (1920-1977), ao ser confrontada com a pergunta “Como é que se escreve?”, tem dificuldade para equacionar resposta que pudesse contentar as pessoas que acompanhavam sua carreira literária: “Quando não estou escrevendo, eu simplesmente não sei como se escreve. E se não soasse infantil e falsa a pergunta das mais sinceras, eu escolheria um amigo escritor e lhe perguntaria: como é que se escreve ? (…) Porque fora das horas em que escrevo, não sei absolutamente escrever” (LISPECTOR, 1999, p. 156-157).
Há muitos anos assisti a um depoimento na televisão de Ricardo Ramos (1929-1992), filho de Graciliano Ramos (1892-1953), em que comentou a rotina de seu pai enquanto escrevia. Se a memória me é fiel, Ricardo contou que o pai iniciava cedo o seu labor: tomava café preto, cortava 3 ou 4 cigarros ao meio e começava o trabalho. Escrevia, cortava, emendava, refazia exaustivamente e, ao final da manhã-início da tarde, se o dia tivesse sido rentável, salvava entre 12 e 15 linhas, no máximo.
Ray Bradbury (1920-2012) é um caso especial. Seus primeiros escritos são aos 11 anos, em 1931, durante a Grande Depressão, escrevendo no único papel disponível que tinha em casa, que era o papel manteiga. Aos 24 anos tornou-se escritor em tempo integral. Quando jovem, na crise depressiva estadunidense, Ray Bradbury não tinha dinheiro para cursar uma faculdade. Impôs-se a disciplina de frequentar bibliotecas ao menos três vezes por semana, durante 10 anos.
Na Biblioteca Powell, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, os universitários pagavam para utilizar as máquinas de escrever. Foi lá que ele escreveu seu famoso conto The Fireman, então com 25 mil palavras. O conto foi publicado com o dobro disso, com o nome Fahrenheit 451, depois de Ray gastar US$ 9,80 pelo uso das máquinas de escrever (informações extraídas da Wikipédia, em 20.09.2025). Publicou em 1950 Crônicas Marcianas e em 1953 o já mencionado Fahrenheit 451 – transformado em filme por François Truffaut (1932-1984) em 1966.
Foi autor, igualmente, do roteiro da adaptação cinematográfica de Moby Dick, dirigido em 1956 por John Huston (1907-1987). Mais de 20 obras suas foram transpostas para o universo dos quadrinhos quando ele se encontrava vivo. Ray Bradbury casou-se em 1947 com Marguerite McClure, permanecendo juntos até a morte dela, em 2003. Tiveram quatro filhas, Susan, Ramona, Bettina (que foi roteirista de televisão) e Alexandra. Nunca dirigiu, sempre se locomoveu usando bicicleta ou o transporte público e se valeu de vários pseudônimos para escrever. Sua biblioteca foi doada para a Biblioteca Pública de Waukegan.
Fernanda Ezabella, na Folha de S. Paulo (19.09.2010), fez simpática matéria sobre Ray Bradbury, chamando-o de “o paladino das bibliotecas agonizantes”. Homenageado na sede do Sindicato dos Roteiristas, em Los Angeles em 2010, com a “Semana Ray Bradbury”, em uma programação de eventos, peças de teatro e tardes de autógrafos, ele estava em uma cadeira de rodas, desde que sofreu um infarto havia mais de dez anos.
Declarou aos presentes que segue escrevendo vigorosamente: “vomito de manhã e limpo pela tarde”. Explica que de sua casa em Los Angeles costuma ditar histórias pelo telefone para uma de suas filhas, que mora no Arizona (EZABELLA, 2010). Durante o evento, o escritor reafirmou sua paixão pelas bibliotecas. Nos últimos anos ele visitou cerca de 200 bibliotecas californianas em campanhas de arrecadação para evitar o fechamento de muitas delas, ameaçadas pelos cortes orçamentários do Estado, “Bibliotecas são mais importantes do que universidades. Bibliotecas são livres. E o conhecimento deve ser livre” (EZABELLA, 2010).
6.
O professor e crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes (1916-1977) atendia a muitas pessoas aos sábados pela manhã, na calçada da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP. Quando eu tinha 23 anos, mandei para ele meu projeto de pesquisa de mestrado, que havia sido encaminhado à FAPESP. Indiscretamente, em tom cúmplice, Paulo Emílio me revelou que já conhecia o projeto, pois era ele o assessor que o estava acompanhando. O parecer foi positivo e eu começara a receber a bolsa. Mas ele me “chantageou”, no bom sentido, me obrigando a estudar a história do cinema brasileiro desde os primórdios.
Meu primeiro relatório tinha umas 130 páginas e Paulo Emílio, esperto, dizia a todos os alunos que esse deveria ser o padrão dos produtos apresentados à agência de pesquisa, que os bolsistas deveriam se esforçar etc. Ao chegar à ECA, demorei para entender porque alguns de meus colegas de disciplinas não eram simpáticos comigo.
Pois bem, Paulo Emílio me devolveu o projeto com mais alguns comentários e, no verso da última página, havia ficado uma espécie de “agenda”, com anotações do tipo: “Luiz Carlos Barreto, 3a.-feira, 14hs”; “Cacá – pedir cópia do roteiro”, y otras cositas más, anotadas em sua caligrafia quase ininteligível. Ele escrevia à mão, tudo.
Mas me desviei: Paulo Emílio ia às sessões de cinema com prancheta, papel e pequena lanterna para fazer anotações, além de assistir várias vezes os filmes que lhe interessavam. Meu amigo, o professor José Gatti, conta que chegou a ir ao cinema com Jean-Claude Bernardet (1936-2025), que seguia o mesmo procedimento do mestre Paulo Emílio.
Paris é uma festa, de Ernest Hemingway (1899-1961), cobre o período de 1921 a 1926, quando ele viveu na capital francesa. O livro começou a ser escrito em 1957 e acabou se constituindo em publicação póstuma (1964), pois o escritor suicidou-se três anos antes. Ernest Hemingway escrevia em cafés, consumindo quase nada, devido ao pouco dinheiro que dispunha. Logo no início do texto, conta que em um café da Place Saint-Michel se instala para trabalhar: tirou do bolso do paletó a caderneta de notas, um lápis e começou a labuta (p. 19).
Quando terminava um conto que considerava bom, se gratificava: “fechei o caderno, coloquei-o no bolso de dentro, pedi ao garçom uma dúzia de portugaises e meia garrafa de vinho branco. Depois de escrever um conto sentia-me sempre vazio e, simultaneamente, triste e feliz, como se tivesse acabado de me entregar ao amor físico” (p. 21). Muitos anos depois, vamos ver fotos e cenas famosas de Hemingway escrevendo à máquina em pé, durante várias horas.
Vale a pena transcrever algumas passagens de Paris é uma festa envolvendo o ato e maneiras de escrever, assim como algumas de suas dicas, derivadas de outras fontes.
“Quando dispunha a encerrar o expediente, guardava, na gaveta da mesa [do quarto do hotel em que morava], o caderno de notas ou o papel” (p. 26). Quando o dia rendia e a escrita se completava “era uma sensação maravilhosa e só então me julgava livre para andar a esmo em Paris” (p. 27). “Nas manhãs de primavera eu começava a escrever bem cedo, enquanto minha mulher ainda dormia (…) Quem se dedica a seu trabalho e nele encontra satisfação não é afetado pela pobreza” (p.63 e 65).
“Os cadernos de capa azul, os dois lápis, o apontador de lápis (com o canivete desperdiçaria muito dos lápis), as mesas com seus tampos de mármore, o perfume das primeiras horas da manhã, apagar aqui, corrigir ali, mais um bocado de sorte – eis tudo o que era necessário. Para ter sorte, levava no bolso direito uma castanha-da-índia e um pé de coelho” (p. 107). Para Hemingway “estar em forma (…) significava não beber depois do jantar, nem antes de escrever. Enquanto escrevia, então, nem falar!” (p. 207).
Gabriel García Márquez (1927-2014), em 1957, reconheceu Ernest Hemingway passeando com sua mulher, Mary Welsh, pelo boulevard Saint-Michel, em Paris. A única maneira como se relacionaram resumiu-se ao seguinte: “pus a mão em forma de buzina, como Tarzan na selva, e gritei de uma calçada para outra: – Maeeeestro! Ernest Hemingway compreendeu que não podia haver outro mestre entre a multidão de estudantes, voltou-se com a mão para cima, e gritou em castelhano com uma voz um tanto pueril: – Adióóóós, amigo!” García Márquez nunca mais o viu.
O escritor colombiano fala que seus dois mestres maiores foram romancistas estadunidenses que pareciam ter menos coisas em comum: William Faulkner (1897-1962) e Ernest Hemingway. Sobre Ernest Hemingway, diz que ele foi quem mais tem a ver com a sua profissão de escritor. Numa entrevista histórica a George Plimpton (1927-2003) para a Paris Review “ensinou para sempre – contra o conceito romântico da criação – que a segurança econômica e boa saúde são convenientes para escrever, que uma das dificuldades maiores de organizar bem as palavras, que é bom reler os próprios livros quando se torna difícil escrever para recordar que sempre foi difícil, que se pode escrever em qualquer lugar sempre que não haja visitas nem telefone [hoje seria bem mais complexo…], e que não é certo que o jornalismo acabe com o escritor, como tanto se disse, e sim o contrário, desde que se o abandone a tempo”. Acrescenta: “uma vez que escrever se converteu no vício principal e no maior prazer, só a morte pode acabar com ele”.
Contudo, sua lição foi a descoberta de que “o trabalho de cada dia só deve ser interrompido quando já se sabe como se vai começar no dia seguinte. Não creio que se tenha dado jamais um conselho mais útil para escrever. É, sem mais nem menos o remédio absoluto contra o fantasma mais temido dos escritores: a agonia afinal diante da página em branco”.
O próprio Ernest Hemingway escreveu em algum lugar que conseguia detectar nos escritos de William Faulkner “quando ele deu o primeiro gole”. Marguerite Duras (1914-1996), ao contrário, sempre tinha uísque na mala “para os casos de insônia ou desesperos repentinos”, mas não escrevia em quartos de hotel, Entretanto, sua casa em Neauphle “é o lugar da solidão”, e “a solidão não se encontra, se faz”. A solidão se faz sozinha, Eu a fiz. Porque decidi que era ali que deveria estar sozinha, que ficaria sozinha para escrever livros. Foi assim que aconteceu (…) Esta casa se tornou a casa da escrita” (DURAS, 2021, p. 47).
Patrick Modiano (1945), Prêmio Nobel de literatura em 2014, mescla em seus romances, a exemplo de inúmeros autores, ficção e autobiografia. Um de seus personagens registra que escreveu “umas vinte páginas de Place Blanche em um quarto de um antigo hotel na rua Coustou, 11” (MODIANO, 2015, p. 125).
O próprio Patrick Modiano, com certeza contrariando ou surpreendendo grande parte da(o)s leitora(e)s, expressou em Para você não se perder no bairro – e em algumas outras entrevistas – o seguinte: “O que eu amo na escrita é, sobretudo, o devaneio que a precede. A escrita em si mesma, não, pois não chega a ser tão agradável. É preciso materializar o sonho na página, e, portanto, sair do mundo dos sonhos” (p. 143). Talvez por essa razão ele se vale como epígrafe neste livro de uma frase de Vie de Henry Bruland, de Stendhal (1783-1842): “Não posso oferecer a realidade dos fatos, mas apenas a sua sombra”.
*Afrânio Catani é professor titular sênior na Faculdade de Educação da USP. Autor, entre outros, de Origem e destino: pensando a sociologia reflexiva de Pierre Bourdieu (Mercado de Letras).
Para ler o primeiro artigo da série clique em https://aterraeredonda.com.br/atos-e-maneiras-de-escrever/
Referências
ALEGRE, Manuel. O miúdo que pregava pregos numa tábua. Lisboa: Dom Quixote, 3a. ed, 2010.
ALEGRE, Manuel. Bairro ocidental. Lisboa: Dom Quixote, 2015.
ALEGRE, Manuel. Uma janela sobre o Mondego. In :_______. Uma outra memória. A escrita, Portugal e os camaradas dos sonhos. Alfragide; Dom Quixote, 2016.
AZEVEDO, Carolina. As ideias e as formas. Entrevista com Aurora Fornoni Bernardini. Folha de S. Paulo, “Ilustríssima Ilustrada”, 07.Setembro.2025, p. B10.
CATANI, Afrânio. Atos e maneiras de escrever. A Terra É Redonda <https;//aterraeredonda.com.br/atos-e-maneiras-de-escrever>, em 31.08.2025.
D’AGUIAR, Rosa Freire. Sempre Paris: crônica de uma cidade, seus escritores e artistas. São Paulo: Companhia das Letras, 2023.
DURAS, Marguerite. Escrever (trad. Luciene Guimães de Oliveira). Belo Horizonte: Relicário, 2021.
ERBER, Laura. Morre Alice Munro, mestra dos contos, aos 92. Folha de S. Paulo, “Ilustrada”, 15.Maio.2024.
ERNAUX, Annie. A escrita como faca e outros textos (trad. Mariana Delfim). São Paulo: Fósforo, 2023.
EZABELLA, Fernanda. Bradbury faz 90 anos. Folha de S. Paulo, “Ilustrada”, 19. Setembro. 2010.
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Meu Hemingway pessoal. El País, 29.Julho.1981.
GOLDENBERG, Mirian. Por que preciso escrever para sobreviver? Folha de S. Paulo, “ilustrada”, 03.Setembro.2020, p. B14.
HEMINGWAY, Ernest. Paris é uma festa (trad. Ênio Silveira). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 32a, ed., 2023.
LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
KRISTOF, Âgota. A analfabeta (tra. Prisca Agostini). São Paulo: Editora Nós, 2024.
MANGEL, Alberto. Com Borges (trad. Priscila Catão). Belo Horizonte: Âyiné, 2022.
MEIRELES, Maurício. Morre aos 91 Mino Carta, criador de revistas e marco do jornalismo brasileiro. Folha de S. Paulo, “Mundo”, 03.Setembro.2025, p. A14.
MODIANO, Patrick. Para você não se perder no bairro (trad. Bernardo Ajzenberg). Rio de Janeiro: Rocco, 2015.
TORGA, Miguel. Portugal. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996 [1950].
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A