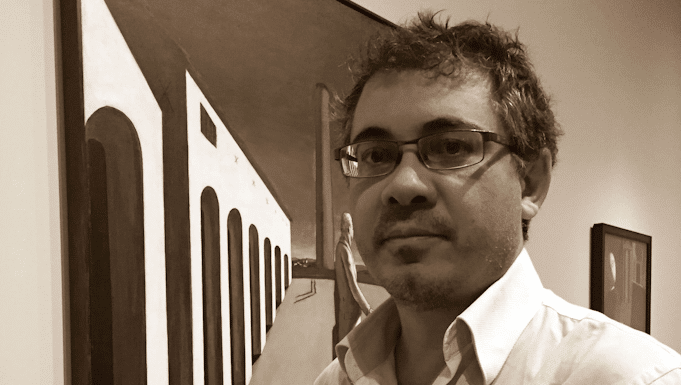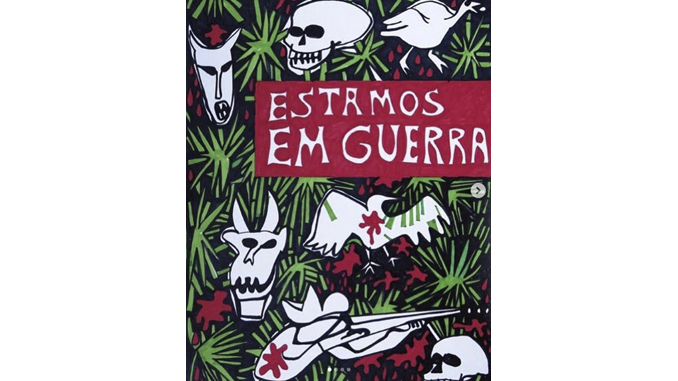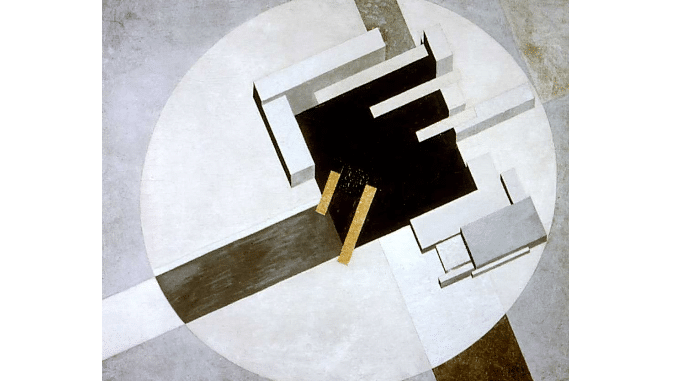Por HOMERO SANTIAGO*
Comentário sobre o livro de Mariana Joffily & Maud Chirio: Torturadores: Perfis e trajetórias de agentes da repressão na ditadura militar brasileira
Há temas que não são nem podem ser amenos, pois que a sua compreensão agride a nossa inteligência. Não tenho em mente assuntos que, embora espinhosos, vencemos pelo estudo dedicado, quais são o cálculo algébrico, o aoristo grego, o funcionamento do sistema partidário brasileiro. Estou pensando em objetos cuja dificuldade provém do desafio que lançam à própria ideia razão, como se lhe cutilasse as bases de um modo particularmente incômodo, muitas vezes insuperável. É o caso da tortura. De um ponto de vista geral, é coisa tão antiga quanto a própria humanidade, e nem haveria muito sobre o que falar. Porém, a idade contemporânea (por paradoxal que isso possa parecer) outorgou-lhe um lugar de destaque, tornando-a um objeto que, para lá da prática desorientada e amadora que percorreu os séculos, ganhou maioridade e passou a seguir regras científicas rigorosas.
Haveria uma bibliografia a ser mencionada, mas francamente peço licença para desconsiderá-la, por dois bons motivos: não sou dela familiar nem ela remete, senão indiretamente, ao assunto que gostaria de tratar aqui. O ponto de partida que a mim interessa é um sentimento, uma sensação, sei lá como designar exatamente: o dado de que, para mim e penso que o mesmo se aplique a muitos, não é fácil acolher, digerir e compreender o fenômeno da tortura sob a égide do que normalmente, com acerto ou erro, concebemos por humanidade. Como acatar que o ato de infringir dor a um ser humano, de maneira mais ou menos metódica e com um objetivo determinado, seja uma ação tão humana quanto outras manifestações admiráveis de nossa humanidade, obras de arte e do intelecto, afetos os mais altivos, tantas coisas nas quais nos apressamos em reconhecer-nos?
Faz pouco tempo terminei de ler Torturadores, um original e interessantíssimo livro de Mariana Joffly e Maud Chirio, e questões desse tipo me têm assaltado a mente com certa regularidade, sem que eu sequer tenha chegado a dar conta de arranjá-las na cabeça e assim poder fazer um balanço arrazoado da obra. Seja como for, tanto a leitura me despertou que não quis deixar de deitar algo no papel, nem que seja só para não deslembrar algumas impressões ora vívidas. A singularidade do livro está naquilo que é com precisão descrito por seu subtítulo: “perfis e trajetórias de agentes da repressão na ditadura militar brasileira”. Muito se fala dos torturados; e os torturadores? Eis o ponto.
A figura do torturador desafia o intelecto, até mesmo a imaginação. Sempre tive dificuldade em representá-lo, por razões que mencionei ao início, e arrisco supor que a experiência não é incomum – se um torturador fosse um quadrado, diria que ele nos defronta com a impossibilidade de descobrir a quadratura do círculo humano. De que modo enxergar a humanidade nesse agente da máxima desumanidade? Não espanta que se prefira simplesmente execrá-lo, de um só golpe, sob a designação de “monstro”. Tem sentido, mas falta verdade. E a leitura de Torturadores ajude a desfazer esse equacionamento fácil. Os torturadores são muito humanos, humaníssimos; para nossa infelicidade. O referido livro contribui muito em, por assim dizer, dar a compreender a humanidade da figura do torturador e torná-lo, se não mais palatável, ao menos não tão quimérico, no sentido clássico deste adjetivo: um ser contraditório. Ora, eles existiram aos magotes e, apesar dos propalados desejos e parâmetros de razoabilidade, existem ainda; logo, não podem ser quimericamente contraditórios.
No rastro dessa reflexão, reavivou-se-me a lembrança de uma observação que, se não me engano, era de Pierre Vidal-Naquet. O torturador, definia o ilustre historiador francês que tanto se empenhou na denúncia e no esclarecimento dos crimes contra a humanidade perpetrados pela República Francesa na guerra da Argélia, é uma pessoa igualzinha a nós; costuma ter um emprego regular, possui família, filhos, conversa com os vizinhos; ele come, almoça e janta. O que sempre mais me impressionou nesse argumento que nem é tão original (e talvez tenha sido a causa de eu o reter na memória) é o pormenor da refeição. Já nem falo em compreender, mas para mim é desafiador imaginar alguém que sai de uma sessão de tortura e vai almoçar ou, inversamente, acabou de jantar e segue para o calabouço fazer ruindades. Há pessoas que reclamam de pratos considerados mais “pesados” ao meio do dia porque provocariam desconforto no retorno ao trabalho. Seja; mas qual o prato seria ideal para, após o repasto, um cafezinho e quem sabe uma soneca, socar, amarrar mãos e pés e meter no pau de arara, dar choques elétricos, enfiar agulhas sob unhas ou diretamente arrancá-las? Ou então, depois de tudo isso, findo o expediente, sair para comer uma pizza, tomar uma cerveja, bater papo. Que sabor o paladar dará a tudo isso? Como reagirá o aparelho digestivo? Qual o tema da conversação? Eis os limites de minha capacidade imaginativa, que vacila e topa um obstáculo intransponível: um torturador que almoça ou bebe cerveja. Diversamente, tendo a idealizá-lo como um ser que jamais come nem bebe, não beija o filho nem torce para time de futebol; uma espécie de faquir modelado pelos ossos do ofício ou, por que não?, um sábio estoico, possuidor de uma razão última inapelável.
Bem sei que é tudo preconceito besta, e a leitura de Torturadores só fez demonstrá-lo. A ideia porém persiste e não me é fácil superá-la. Foi a partir disso que me pus a questionar-me como e por que eu concebia o torturador como o fazia, tão ambiguamente, quase inumano, de um lado, e não obstante, sob outra perspectiva, assaz racional. Tentando vencer o paradoxo, vislumbrei que talvez a inumanidade não viesse da irracionalidade do ato torturado, mas ao invés de um cúmulo racionalizante que só pode ser exercido por quem se crê de posse de um saber absoluto inquestionável.
Admito que as torturas presentes nos romances do Marquês de Sade nunca me incomodaram o intelecto; provavelmente porque sempre as compreendi como uma maneira de buscar a exponenciação de um prazer imanente, o que me parecia bastante razoável. Por contraste, o que me choca nos torturadores brasileiros reais é que o seu afazer não concerne a uma questão de prazer. Seriam por isso irracionais ou monstruosos? Pelo contrário. Eles têm um código de dever muito estrito, muito kantiano, até certo código de honra (em A batalha de Argel, nos inícios, o coronel francês dá uma bronca no soldado que ri de um argelino torturado, como a lembrar: poderia ser você nessa situação); critérios de racionalidade instrumental certeiros, pelos quais podemos entender (o que não quer dizer concordar, bem entendido) as razões dos torcionários em vista de fins precisos que lhes transcendem e, quiçá por isso mesmo, merecem obediência – nesse sentido, a tradicional invocação de um “dever de obediência” por parte das defesas de torturadores em tribunais está longe de ser absurda (pelo contrário, chega a ser simplória, como filosofou um ex-ministro da Saúde: “é simples assim: um manda e o outro obedece”).
O busílis da questão talvez esteja, e a meu ver realmente está, em conceber que a tortura envolva uma racionalidade, ainda que nefanda, em vez de uma monstruosidade congênita ou da reles incontinência do mal, como a do policial que sai socando aleatoriamente ou do delegado que encrenca por não ser tratado de “doutor” (vide o caricato “doutor Euclides” d’O agente secreto). Só que não é o caso; e por isso a racionalidade da tortura continua a afligir, se não a própria razão, pelo menos a nossa crença numa ordem racional de matrizes humanistas. Um professor de filosofia antiga que foi torturado certa feita aludiu – e essas palavras, desde que as li marcaram fortemente o meu modo de pensar a coisa – à “eficácia demonstrativa” do pau-de-arara e de como o tom da fala do seviciado, às vezes, “reclama sonora bofetada como se se tratasse de uma consequência silogística”. Não será tudo uma questão de lógica, de um cálculo lógico aterrador? Aí não haveria ainda algo de ontologia, de epistemologia? Vai saber.
Este comentário de Luiz Roberto Salinas Fortes, no comovente Retrato calado, articula e dá forma precisa à complexidade do problema que estamos tangenciando:
Por quanto tempo ainda teria eu que suportar o suplício? Com seu paciente trabalho junto à manivela, o hílare servidor, arrebatado por formidável furor científico, ia buscando estabelecer a verificação empírica da veracidade das proposições que eu formulava e respondia e vomitava em meio à dor, ao pânico e à reconfortante revolta que não mais me abandonaria. Pois não é que o referido instrumento, além da sua eficácia demonstrativa, teria também algo a ver – de um ponto de vista, digamos, ontológico formal – com um instrumento musical? Pensar o pau de arara não seria, então, a mesma coisa que investigar a origem das línguas?
Embora não se possam exagerar os termos, é razoável crer que parte substantiva daqueles que torturaram para a ditadura brasileira inaugurada em 1964 sabia muito bem o que fazia e por que o fazia. Uns faziam porque eram mandados, e mesmo assim sabiam por que eram mandados e aceitavam de bom grado a condição de paus-mandados; outros mandavam e tinham consciência do porquê mandavam, às vezes até para lá da consciência dos próprios subordinados. Em O agente secreto, quando o mastim do Dr. Euclides lhe pergunta por que perde tempo com os jornais, o delegado responde sem pestanejar: os comunistas se insinuam por toda parte e é bom prevenir-se – como mais claramente expor um cálculo propositado de meios e fins?
Não é incomum questionarem a um político sobre o seu “plano de país”? Não acho impossível que vários torturadores, em face de pergunta do gênero, respondessem com franqueza que, se não um plano, possuíam ao menos uma visão clara do que deveria ser o país e do que era necessário fazer naquele momento; sob a convicção do diagnóstico, sobrevinha a consciência da parte que lhes cabia nessa tarefa – torturar. A levar em conta testemunhos e estudos, salvo em raros casos, a tortura se exercia despojada do elemento do prazer e era motivada com um porquê definido; ou seja, ainda que sob a aparência de pura ruindade, certa racionalidade estava em ação. É algo assustador: não podemos dizer que os torturadores fossem irracionais; eles poderiam não ter razão, do ponto de vista de nossa razão, mas eram assaz racionais, de uma perspectiva ampla de racionalidade que implica avaliar meios e fins e que se apresenta por toda parte, inquestionada. Em suma, podemos não concordar com as suas razões, mas é preciso compreender que, graças a elas, eles se sentiam liberados para tudo, inclusive para, mui racionalmente, agir à maneira de deuses entre os homens.
De alguma forma, cheguei a essa conclusão e, bem ou mal, ela me serve para uso próprio, de mim para mim mesmo, metendo um pouco de metafísica na lógica crua da crueza torcionária. Contas feitas, qual a racionalidade do pau de arara, encarnada na ação daquele “hílare servidor, arrebatado por formidável furor científico”? Concebia e concebo ainda o torturador como um arremedo de deus, de preferência criador; um velhote barbudo e de musculatura torneada ao jeito daquele representado no teto da Capela Sistina. Mas um ente divino que, com o sutil toque de seu indicador, imprime um choque terrível em Adão, para que este confesse logo o pecado que cometerá, denuncie por antecipação os seus comparsas diabólicos e dê o mapa de todos os “aparelhos” (no sentido técnico da palavra no período ditatorial) localizados no Paraíso. Só que a analogia encontra um limite. Esse deus é onisciente e, rigorosamente falando, não precisaria de nada disso; em seu caso, seria só ruindade mesmo. E os seus êmulos, os nossos torturadores tão humanos? Eles sim se servem, e talvez necessitem mesmo, da brutalidade para poder como que recriar nos porões a gênese do universo, particularmente o mundo antes de todo e qualquer tempo; única forma de o produto final, o sofrimento da vítima, atingir o píncaro da quase eternidade, a perfeição possível nesta vida.
Tem de haver lógica e razão nisso tudo. Mas será possível? A que custo! Quanto isso agride a razão! Eis que tornamos ao início. Contas feitas, como conceber a racionalidade do pau de arara? Por mais instrutiva que seja a leitura de Torturadores, o livro não oferece resposta (o que não é seu objetivo, convém dizer) e tampouco eu mesmo a teria – aliás, duvido que alguém, se pensar um pouco no assunto, despido de clichês morais tanto quanto de automatismos pensantes, tenha resposta cabal. E é bom que seja assim; é salutar que a confusão, a ambiguidade, no caso se mantenham, pois só assim a questão faz jus à inquietante complexidade de nossa própria humanidade, afinal quem tortura e quem é torturado são ambos seres humanos.
Ao ler obras produzidas por vítimas de tortura durante a ditadura, sempre me chamou a atenção a recorrência da aniquilação do senso da temporalidade como um procedimento regularmente utilizado pelos algozes, como que a contrapontear a angustiante pergunta recordada por Salinas – “por quanto tempo ainda teria eu que suportar o suplício?” – e metodicamente manipulando as expectativas por ela geradas. Entre tantos, eis alguns exemplos que recolhi e que particularmente me despertaram para esse expediente macabro:
Não foi apenas uma pessoa que morreu, foi o tempo. (Renato Tapajós, Em câmara lenta, 1977).
Os relógios tapados ficaram para mim como o símbolo da tortura, pois eles eram muito mais do que apenas relógios tapados com esparadrapos. A noção de tempo era roubada ao torturado. (…) A noção de tempo tapado era também o exercício da onipotência fantástica do torturador. Sua fantasia de suprema dominação sobre o outro só é possível se articulada com outra fantasia: a da ausência do tempo. A tortura só é perfeita se o tempo não passa. (Fernando Gabeira, O que é isso, companheiro? 1979)
Poderiam ser cem anos ou dois meses… o quarto amarelo é um centro onde o conceito de tempo não existe. É revirado e atirado a um ponto onde escapa aos frágeis limites da consciência humana sobre o tempo. Que tempo? Cronológico? O interno de cada um? Eu tinha 20 e de repente, no quarto amarelo, tenho 40, 100 anos, ou não tenho idade alguma. (…) O que marcava o relógio, para sempre fixado nas três horas, que tempo para sempre ele parara, cessara de reproduzir, não mais referira, porque não mais havia o tempo? (Mariluce Moura, A revolta das vísceras, 1982)
E eu, atônito, catatônico, arremessado de repente em meio ao inferno, transferido de súbito para esta dimensão nova onde tudo se passa velozmente, embora dure uma eternidade e embora se propague pela eternidade afora. (Luiz Roberto Salinas Fortes, Retrato calado, 1988)
Uma vez que a percepção do tempo é um dos aspectos fundamentais da humanidade do ser humano, não espanta que tal o verdugo queira surrupiar ao seviciado. Como se a mais sofisticada tortura não se realizasse senão sub specie æternitatis, em regime de eternidade, mimetizando, desde o calabouço, a ação criadora divina, só que dando forma a um mundo de tipo novo, onde o tempo inexiste e a dor se destina a jamais passar. Uma calculada exponenciação do sofrimento que, para piorar, de certo ponto de vista, é fruto de uma criatividade racional sofisticada e inquestionável. Não saberia dizer se por toda parte onde se tortura assim faz, mas sendo um fato que entre nós se fez assim, dá para concluir que nossos torturadores ousaram inventar, ou pelo menos copiaram com a competência que os brasileiros temos para essas coisas, a dor sem fim. Conceitualmente falando, não é pouca coisa.
Como poucos, o filósofo grego Epicuro tratou de apoiar a tradicional, e comumente vaga, ideia de felicidade na de prazer, entendido este num sentido largo a ser compreendido com bem-estar anímico e corporal. E a dor, como fica essa experiência humana inegável e amiúde inevitável? Claro que para a filosofia epicurista a dor é um problema, pela óbvia razão que ela impede o bem-estar prazeroso, logo a felicidade. É crucial, pois, entender o funcionamento dessa fragorosa sensação e sobretudo aprender a lidar com ela, quanto possível não nos deixando funestamente pela dor arrebatar. O tipo de análise que daí decorre empenha muitos dos esforços da escola epicurista e um exemplo loquaz dessa meditação teórica de cunho fundamentalmente prático se aprecia neste raciocínio que nos restou do mestre do jardim:
A dor na carne não dura continuamente: a extrema permanece um tempo curto e a que excede por pouco o prazer do corpo não dura muitos dias; as dores crônicas, por sua vez, convivem com um prazer que supera a dor da carne. (“Máximas principais”, 4; trad. Maria Cecília Gomes dos Reis, Companhia das Letras)
O cálculo de Epicuro é de exemplar rigor. Em sendo inegável a existência da dor, cabe compreender e salientar que ela não se impõe sempre nem pode, pois, dar o tom da vida humana. A dor crônica é contrabalançada pelo prazer que, sem imperar absolutamente, predomina na maior parte do tempo; as ocasiões em que a dor é muito aguda e supera enormemente o prazer costumam ser rápidas (pensemos na ligeira extração de um dente, sem anestesia); por fim, nas situações em que a dor é maior mas nem tanto ao prazer, o descompasso, mesmo durando mais, não chega a persistir indefinidamente (uma febre forte pode durar semanas, mas não uma vida inteira). Como se percebe, o elemento nodal na argumentação é a manutenção do prazer como uma possibilidade aberta à vida humana, inclusive (e talvez sobretudo) sob a predominância da dor. Esta, o antípoda do prazer, não ocorre senão no marco de um intervalo temporal que, maior ou menor, jamais se eterniza. Ora, para o filósofo o chegar a tal conclusão, o passar da dor é fundamental; em termos muitos precisos: mesmo que ela agora esteja presente, nunca sai de cena a expectativa de que passe e se torne passado, o que no mínimo promete um futuro em que o prazer volte a predominar.
E quando a dor não passa, o que se passa? Nada. E isso é o mais terrificante, a experiência mais dolorosa que um ser humano pode conhecer. E, para a infelicidade humana, o torturador sabe disso, por teoria ou por experiência, mas sempre aplicando o seu saber com uma meticulosidade terrível.
No espelho do raciocínio hedonista de Epicuro, por contraste identificamos precisamente a medonha criatividade calculista dos nossos torturadores: a cirúrgica destruição a experiência humana da temporalidade. A tortura não é só isso, mas muito da essência mais brutal da tortura provém disso. Vendando olhos, cobrindo relógios, tornando indistinguíveis dias e noites, quer pela luz intensa, quer pela total escuridão, o objetivo é sempre mesmo: a supressão da passagem do tempo (e o que de diferente seria para nós a experiência do tempo, senão essa passagem?), e dessa maneira a aniquilar a possibilidade mesma do passar da dor e por consequência da expectativa de que ela encontre um fim. Então, ela, a dor, resta estagnada, eternizando-se a si mesma como produto de uma interminável situação de sevícia.
O resultado não pode ser outro: a vida, despojada de qualquer vislumbre de prazer, fica destinada à realidade de um doloroso presente, um puro agora que desconhece passado e futuro, e cuja essência é somente expressão do sofrimento infinito. O torturador bem sabe que o mais perfeito suplício é aquele que nunca passa e, destarte, cuida de inserir o torturado num universo que é somente dor e infelicidade sem fim – suportar a dor é experiência comum, acatar a dor sem tempo, sem fim, é outra coisa, e mais terrível do que qualquer coisa que possam os jamais torturados imaginar. Quanto tempo o supliciado terá de suportar? A eternidade. Não haverá coisa mais racionalmente cruel do que isso. E bastante racional, ainda que horripilante aos nossos miolos.
*Homero Santiago é professor no Departamento de Filosofia da USP.
Referência

Mariana Joffily & Maud Chirio. Torturadores: Perfis e trajetórias de agentes da repressão na ditadura militar brasileira. São Paulo: Alameda, 2025, 300 págs. [https://amzn.to/46BLN5p]
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A