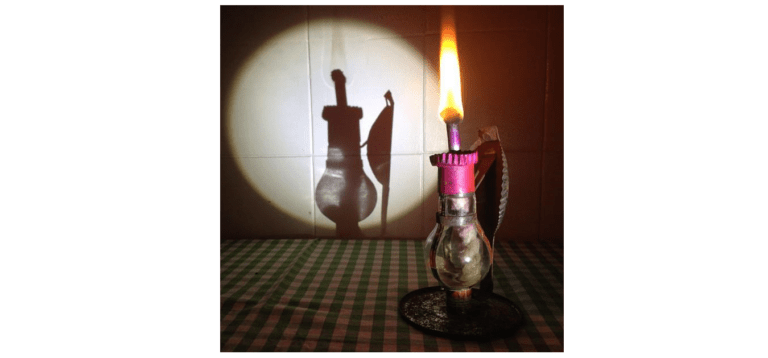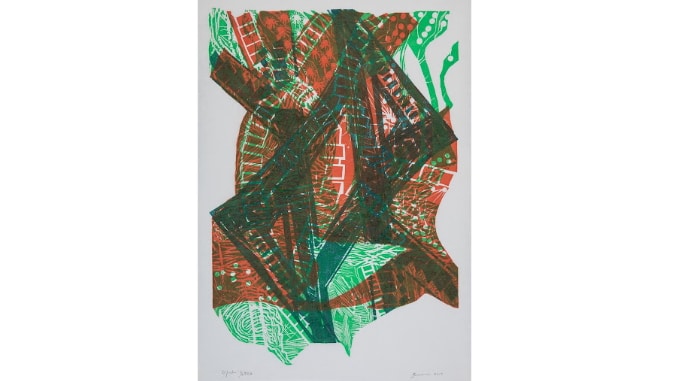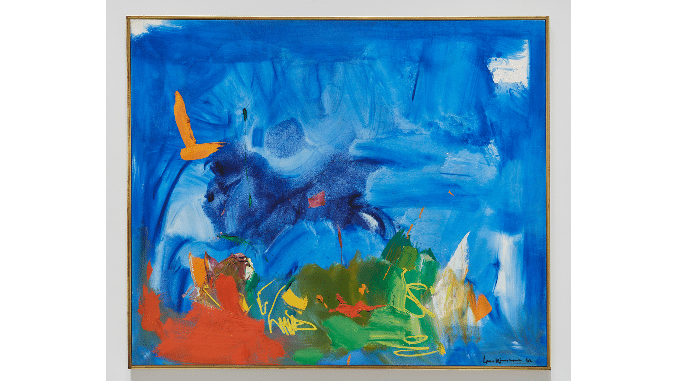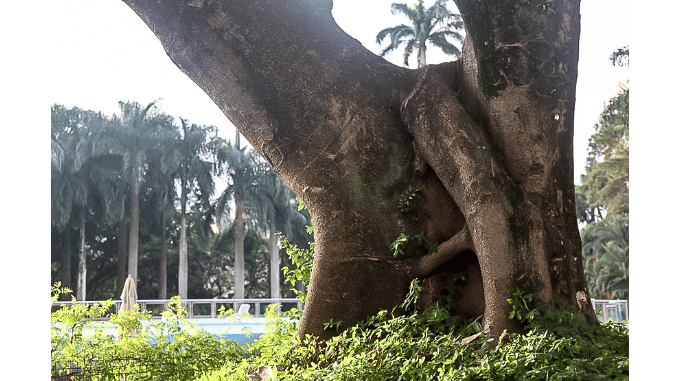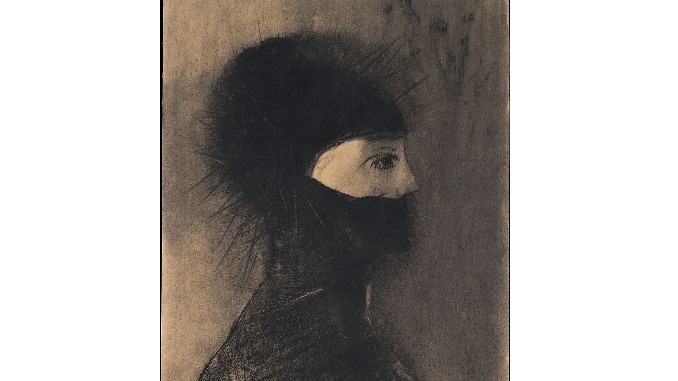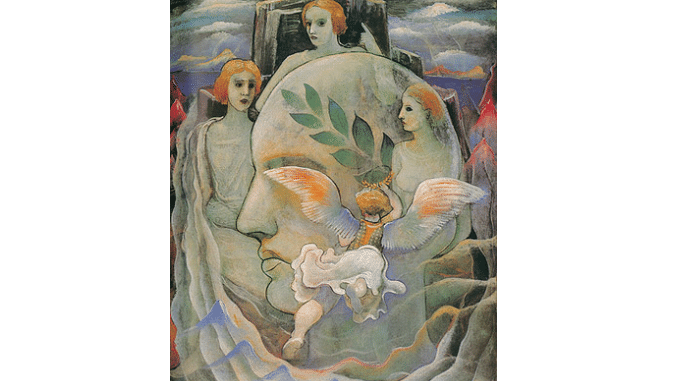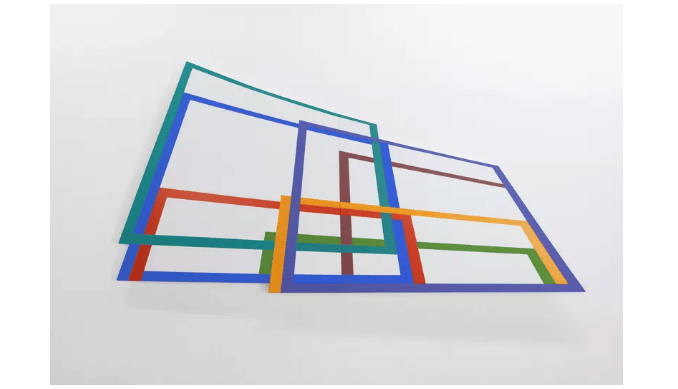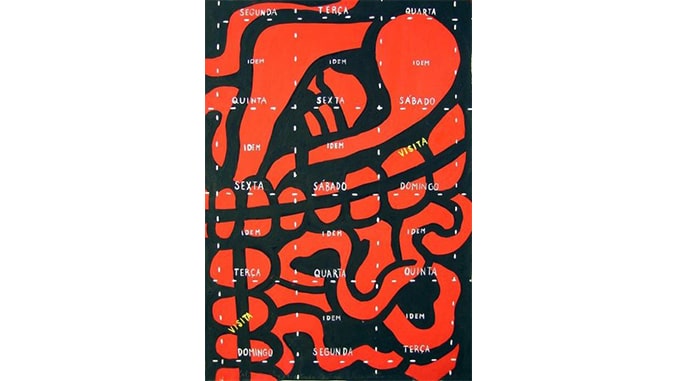Por RONALDO TADEU DE SOUZA*
Comentário sobre o livro de Giorgio Agamben.
Ruptura das identidades. Profanação das gramáticas estáticas. Desabamento das instituições. Crítica material-negativa da representação (política). Com efeito, o objetivo deste texto é apresentar uma brevíssima leitura – uma centelha apenas, que acende, busca despertar e se apaga – filológica do ensaio A comunidade que vem de Giorgio Agamben, filósofo italiano de presença marcante no âmbito das ciências humanas contemporâneas (com trabalhos na área de literatura, direito, política, teologia, artes e também filologia).
Minha apropriação toma este ensaio de Agamben como documento ou como expressão cultural-civilizacional de uma possível comunidade de iguais – de uma comunidade de liberdade contingente, não representativa. De seres humanos na sua igualdade pura. Farei uma tentativa, em particular, de interpretar a noção que estrutura o documento agambeniano de uma comunidade política que vem: a noção de qualquer. Assim, e partindo para a parte substancial do texto, a construção do qualquer ou o qualquer é fundamental no vislumbre de uma comunidade (política) de iguais – que quer se expressar como existência igual e não como dispositivos formais, normativos e substantivos de iguais.
Com efeito, a estrutura filológica do qualquer é a possibilidade contingente de que o ser que vem tenha como condição política – a sua não-forma política (e institucional), mas o co-pertencer político. Ou seja, que a política da igualdade se forje no pertencimento a uma linguagem que se abandone, se lance, na vivência de mediações ausentes. O que Agamben quer nos chamar a atenção em A comunidade que vem é para a circunstância de que ao imaginarmos uma forma de vida em uma suposta sociedade de iguais – e livres – devemos pretender que esta seja não uma sociedade enquanto tal, mas uma comunidade na qual a linguagem adquira o sentido do ter-lugar na imanência absoluta.
Pensar uma comunidade de iguais é pensar a língua como a materialidade que se toca; é como se na comunidade que vem superássemos a linguagem como um dispositivo sagrado que está abstraído dos seres por regras e normas de diferenciação, em direção a uma linguagem do pertencimento. Diante ao qual o falar irrompa como língua como. (Está é uma exigência da geração política atual…) Deste modo, na comunidade que vem (de iguais…) o qualquer agambeniano é destituído de singularidades. A filologia dos iguais, e agora em cito Agamben: “é a coisa com todas as suas propriedades, nenhuma das quais [porém a] constitui” (2013, p. 27).
É que a noção do qualquer como linguagem de iguais expressa o politicidade dos sem classe – ou da propriedade nenhuma. Aqui a filologia política de Agamben age como documento presentificado do Manifesto… de Marx. Em que as identidades construídas pela diferenciação-capitalista tornam inviável o ser-comum-da linguagem. Mas os sem classe agambeniano é a língua comum da (eu cito Agamben) “nova humanidade planetária […] que comunica apenas a si mesma” (Idem, p.64). Como Fanon: Agamben quer salvar o homem – as mulheres, as negras, os negros, os gays, os trans. É a vida que deve surgir no desvio insubmisso-profano das representações sociais.
Para terminar essas breves reflexões: exponho a noção do qualquer como figura do fora e como a hipótese Bloom (referência que Agamben retira do Ulysses de James Joyce) pensando a ação política como filologia política, e neste ponto eu encerro a comunicação. A figura do fora é a não-representação da linguagem. Se a singularidade impõe às sociedades humanas e civilizadas uma fala de diferenciação, e consequentemente, de desigualdade, isto ocorre porque aqui o “ser” está transitando dentro dos dispositivos em geral, dos dispositivos da língua limitada pelo conceito determinado, na qual o pertencimento revela-se um confinar da linguagem. Significa, portanto, que o fora na filologia agambeniano é a exterioridade do ser-tal, é o lançar-se do ser no co-partilhar, no co-pertencer de uma língua comum da política.
Citando Agamben, novamente; “O fora não é um outro espaço que jaz para além de um espaço determinado […] [ele] é a passagem, a exterioridade que […] da acesso […] a experiência do […] mesmo” (Idem, p. 64) da política comum. O qualquer como figura do fora é o acesso à capacidade de exteriorização pura do ser – por oposição e resistência aos dispositivos normatizados que constituem a singularidade limitada. Abre-se assim, a hipótese Bloom como possibilidade proposta pelo documento escrito por Agamben como filologia política que estruture a ação política na atualidade. Quer dizer a necessidade de sermos Bloom, ou seja, sermos um homem estrangeiro a si mesmo e sem resistência da sua condição diante da língua singular da dominação estatal, mercadológica e da sociedade do espetáculo, para no mesmo passo tornemo-nos Blooms quaisquer e negarmos as singularidades identitárias dos dispositivos e alcancemos o ser-na-linguagem comum como política da igualdade.
Como se na Comunidade que vem pudéssemos dizer como Bloom no Ulysses (antes não podemos deixar de lembrar o poeta Augusto de Campos que enunciou o “Bolchevismo literário”, extinção do “fascismo” – o passo da negatividade para a comunidade contingente e livre) “ao caminhar por e através de nós mesmos, conseguíssemos dizer “Eu. Ele. Velho. Jovem […] o homem [a mulher-gay-negro-branca-indígena-negra-o não idêntico], […] a língua do amor” (2004, pp. 279, 352, 357).
*Ronaldo Tadeu de Souza é pesquisador de Pós-Doutorado no Departamento de Ciência Política da USP.
Referência
Giorgio Agamben. A comunidade que vem. Belo Horizonte, Autêntica, 104 págs.