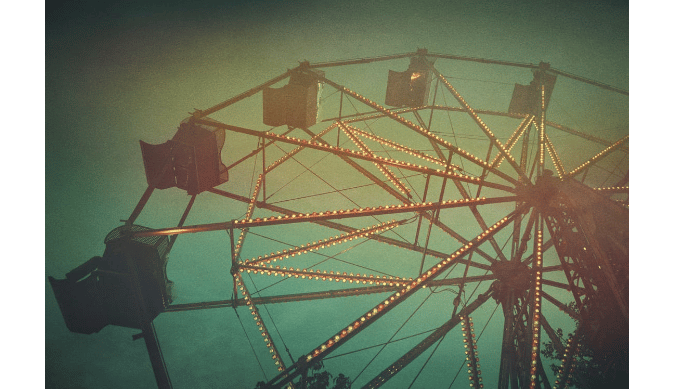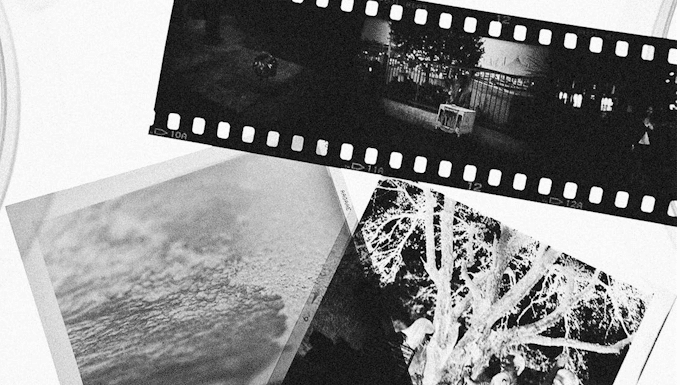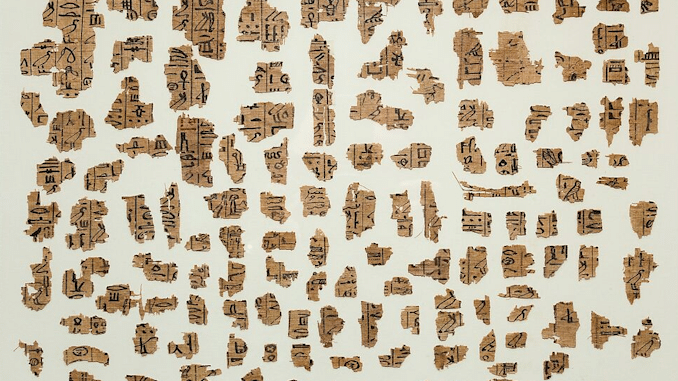Por MATHEUS C. MARTINS*
O neoliberalismo é incapaz de responder à crise do nosso tempo histórico. Não consegue mais convencer as pessoas de que tem condições de manter suas promessas
“A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem.” (Antonio Gramsci, Cadernos do Cárcere).
“Para responder a tal cartilha, devemos dizer que, se não há política sem o desejo de nos livrarmos de nós mesmos, de nos livrarmos de nossas limitações, sem o desejo de explorar o que ainda não tem figura, é certo que a história é o campo no interior do qual esse desejo aprende a se orientar melhor. Que esse aprendizado não seja em linha reta, que ele se equivoque e muitas vezes se perca, isso é apenas uma maneira de insistirem consequências próprias a todo e qualquer aprendizado. Com o aprendizado a respeito da força de nossa liberdade e nossa inventividade, não seria diferente.” (Vladimir Safatle, A esquerda que não teme dizer seu nome).
A razão política neoliberal[i] é incapaz de responder às crises do nosso tempo histórico. Seja como modo de gestão de si (moldando sujeitos que agem conforme a lógica capitalista), ou dos outros (fomentando um modelo de interação social baseado na lógica do mercado), o neoliberalismo sustenta a exaltação do valor – pessoal, monetário etc. – e classifica como desvio toda vontade humana que não está em completa consonância com as racionalidades citadas. O neoliberalismo gestou, gesta e continuará gestando crises enquanto não for enfrentado e superado por outra alternativa.
Crescimento exponencial da exploração da força de trabalho combinado com a progressiva flexibilização do mercado de trabalho que empurra amplos contingentes humanos para uma situação de extrema precarização; enaltecimento da ideia de um domínio técnico-exploratório absoluto sobre a natureza, por parte do ser humano, que justifica a destruição desenfreada do meio ambiente como consequência necessária para o progresso (o uso genérico do termo é proposital); a produção e gestão generalizada do sofrimento psíquico em consonância com a individualização desses sintomas, e, portanto, não os encarando como derivados de um sistema que os instaura; a lista de contradições poderia se estender ad infinitum.
O que importa reter desta breve exposição é descrito por Dardot e Laval da seguinte maneira: “O neoliberalismo é um sistema de normas que hoje estão profundamente inscritas nas práticas governamentais, nas políticas institucionais, nos estilos gerenciais. Além disso, devemos deixar claro que esse sistema é tanto mais “resiliente” quanto excede em muito a esfera mercantil e financeira em que reina o capital. Ele estende a lógica do mercado muito além das fronteiras estritas do mercado, em especial produzindo uma subjetividade “contábil” pela criação de concorrência sistemática entre os indivíduos”.[ii]
Ou seja, isso significa dizer que, por se constituir enquanto um sistema de normas, é impossível encarar a razão neoliberal como um operador a nível individual – isso não significa, contudo, que seus efeitos não possam ser sentidos singularmente pelos sujeitos, mas tão somente que eles precisam ser apreendidos e, consequentemente, enfrentados na esfera coletiva.
Tal fato é “facilmente” confirmado, e aqui chegamos a um ponto fundamental, simplesmente examinando as relações que se dão à nossa volta. Afinal, quem não conhece uma pessoa experimentando dificuldades para fechar as contas do mês, mesmo vivenciando uma intensa exploração no trabalho; ou quantos não são os fenômenos climáticos extremos que vemos a todo momento nos noticiários; quantos de nossos colegas não enfrentam profundos sofrimentos, sintomáticos das demandas do emprego, da faculdade, etc.? Ou melhor (ou pior), quantos de nós, ao invés de meros espectadores, não somos por muitas vezes, dentro do enunciado, o próprio sujeito que sofre?
Isto significa que, a contragosto do que querem fazer acreditar seus entusiastas, é possível afirmar que o esforço de ordem pessoal não é uma força suficiente, ainda que fundamental, para a superação destas contradições: duvido muito que alguém lendo esse texto tenha como ambição não possuir dinheiro suficiente para comer, viver em um mundo onde uma crise climato-ambiental ameace a continuidade da vida (humana) na Terra como a conhecemos e/ou viver em uma situação de sofrimento psíquico.
Então, voltando ao ponto que citamos acima como fundamental, sabemos, “olhando a nossa volta” quais são os principais sintomas mórbidos, para usarmos a expressão de Gramsci, do nosso tempo histórico (1); também, conseguimos enxergar quais são suas causas centrais (2); e, seja na universidade, partidos políticos ou atuando dentro de movimentos sociais, passamos um considerável período tendo contato com diversos autores que nos fornecem o ferramental teórico para abordarmos tais situações e, enfim, confrontá-las (3). A pergunta óbvia derivada dessas constatações é: por que não fazemos nada? Veja bem, não é sobre afirmar que não existem iniciativas importantes em andamento e que visam à construção de uma nova realidade, é simplesmente constatar que é inevitável não se frustrar ao analisarmos a expressividade e a relevância destas para realização efetiva desse movimento de transformação.
Tentar responder à pergunta anterior em um pequeno texto como este seria tão risível quanto improdutivo. É até questionável acreditar no fato (reconfortante) de que poderia existir uma única resposta para a questão. No entanto, em consonância com alguns autores da teoria crítica, de maneira geral, e das derivas marxistas, em particular, acredito que um dos passos iniciais seja o de desnaturalizar para avançar. Em outras palavras, como sintetiza Fisher: “Se o realismo capitalista é tão fluido, e se as formas atuais de resistência são tão desesperançosas e impotentes, de onde poderia vir um desafio efetivo? Uma crítica moral ao capitalismo, enfatizando as maneiras pelas quais ele gera miséria e dor, apenas reforça o realismo capitalista. Pobreza, fome e guerra podem ser apresentadas como aspectos incontornáveis da realidade, ao passo que a esperança de um dia eliminar tais formas de sofrimento pode ser facilmente representada como mero utopismo ingênuo (…) a política emancipatória precisa sempre destruir a aparência de uma “ordem natural”: deve revelar que o que nos é apresentado como necessário e inevitável é, na verdade, mero acaso, e deve fazer com que o que antes parecia impossível seja agora visto como alcançável (…) O que precisamos é que esses efeitos sejam conectados a uma causa estrutural. Contra a suspeita pós-moderna em relação às “grandes narrativas”, precisamos reafirmar que, longe de serem problemas isolados e contingentes, todos esses são efeitos de uma única causa sistêmica: o capital”.[iii]
Por vezes perdemos de vista o quanto tal ordem natural é internalizada. Estudamos conceitos de grande abstração (como o capitalismo, os esquemas de sofrimento psíquico, as mídias, etc.) como estruturas monolíticas e homogêneas – com a mesma morfologia ao longo de grandes períodos. Perdemos de vista, por exemplo, que o capitalismo ou o sofrimento de nossa época não é o mesmo do tempo de nossos pais e, muito menos, o de nossos avós. A constatação está longe de negar completamente a validade das teses de Freud ou de Marx, para ficarmos só nos autores de superfície, mas de que se faz imperativo dar espaço para teses que busquem revitalizar e/ou aprimorar tais teorias.
É nesse sentido que, para os estudos contemporâneos no campo da psicanálise, é impossível desassociar as formas de sofrer da forma social vigente. O “sintoma social” de uma época se manifestaria justamente como uma consequência das formas de organização da vida e, mais ainda, só seriam apreendidos como desvio por uma sociedade onde ele próprio denuncia as contradições das formas de viver nela. A exemplo disso, temos a histeria da sociedade vitoriana, que nos escancara as relações de gênero produzidas pelo patriarcalismo da época. Mais ainda, a aposta de Maria Rita Kehl, psicanalista brasileira, é a de que as depressões seriam o sintoma social do neoliberalismo.[iv]
Fazemos esse pequeno exposto para que possamos pensar, portanto, que as principais formas de sofrer no capitalismo e no neoliberalismo são justamente sintomáticas de uma época. Além disso, a própria emergência dessas posições desviantes ao longo das épocas desfazem e enfrentam – à sua maneira – os sentidos que sustentam esses mesmos sistemas. Assim, o Capitalismo (como Latour, o uso da grafia com letra inicial maiúscula serve para identificar seu sentido mais “institucional”[v]) e a razão neoliberal são só alguns exemplos dentro de diversos outros possíveis para tratar dessas “normas internalizadas”, que acabam estruturando nossas formas de viver e de sofrer e criando uma “ordem natural” também do próprio ser.
Em A origem do capitalismo, Ellen Meiksins Wood, nos ensina que – a afirmação pode chocar – o capitalismo nem sempre existiu na história da humanidade. Para a autora, portanto, longe de encarar a história da relação entre produtores e apropriadores como uma linha reta que naturalmente conduziria ao capitalismo, a “origem” deste guarda mais proximidade com o exame acerca do grau de dependência, tanto dos produtores quanto dos apropriadores, em relação a um tipo específico e historicamente localizado de mercado. Distinto, pois impõe novas condições aos seres humanos e ao meio ambiente; sendo algumas delas: a competição, a acumulação e a maximização do lucro.
Sendo assim, E. Wood evidencia que elaborar uma descrição que leve em conta a análise das “relações sociais historicamente específicas, constituídas pela ação humana” constituintes do capitalismo ou, em outras palavras, de sua história, é não só necessário, mas fundamental para demonstrar que estas relações estão “sujeitas a mudanças”,[vi] sendo possível avançar no sentido de sua superação.
Por sua vez, o neoliberalismo (como já definido anteriormente) precisa passar por um processo de “desnaturalização”. Nesse sentido, cabe pontuar que, como demonstram os diversos autores que se debruçam sobre o tema, existe um consenso em torno da tese de que é somente a partir da década de 1970 e do pós-guerra – ou seja, a aproximadamente cinquenta anos – em resposta a fenômenos específicos do período que as teses neoliberais começam a ser postas em prática.
Cabe pontuar que, com essa constatação, não busco afirmar, pois seria equivocado, que é somente a partir desse período que tal doutrina “existe”; isto porque, além de não ser possível ignorar o longo caminho que leva (mas não se resume) à criação da sociedade de Mont Pèlerin, a constatação da aplicação prática dessa nova razão de mundo não pode deixar de lado a gestação gradual de sua teoria (enquanto ideia ou fruto de militância intelectual).
Contudo, já que às vezes podemos perder de vista, a constatação serve para, mais uma vez, afirmar que o mundo nem sempre foi assim. Com “o mundo” queremos dizer, claro, com o jeito que trabalhamos, nos relacionamos conosco e entre nós, consumimos, sofremos e – por que não? – amamos.
No contexto brasileiro, por exemplo, seria possível afirmar que as bases que dão concretude para a doutrina neoliberal – não é exagero lembrar –, dentro das nossas especificidades geográficas e históricas, só começam a ganhar corpo no início da década de 1990[vii] – ou seja, há pouco mais de 30 anos. É imprescindível lembrar, denunciando essa impotência reflexiva que toma conta de nós: desafiar essa nova racionalidade é possível, mais do que isso, é necessário enquanto missão histórica.
Talvez, neste ponto, a psicanálise possa contribuir mais uma vez para a discussão: o horizonte de uma nova sociedade e a ambição da construção de novas formas de se relacionar com ela, passa necessariamente por radicalizar nosso desejo, para que ele se dirija para uma coisa outra, que não o que está dado. Como efeito da própria linguagem, a dialética do nosso desejo não é individual, é inevitavelmente coletiva por constituição, portanto, pensar subjetividade é necessariamente pensar a subjetividade de uma época.
Da mesma forma, pensar a desnaturalização das formas tão enraizadas de sofrer, sentir e se relacionar que o neoliberalismo nos coloca, é também pensar na destituição dele mesmo, e, mais ainda, da gramática que o sustenta. A mudança que colocamos aqui é consequentemente uma inauguração: a invenção do desconhecido.
Porém, para realizarmos essa tarefa não podemos contar somente com a força das ideias. Como pontuou Lévi-Strauss, a disseminação do gênero de vida ocidental: “Resulta menos de uma decisão livre do que de uma ausência de escolha. A civilização ocidental estabeleceu os seus soldados, as suas feitorias, as suas plantações e os seus missionários em todo o mundo: interveio, direta ou indiretamente, na vida das populações de cor, revolucionou de alto a baixo o modo tradicional de existência destas, quer impondo o seu, quer instaurando condições que engendrariam o desmoronar dos quadros existentes sem os substituir por outra coisa”.[viii]
A afirmação presente nesse trecho, levando em conta que foi publicada em 1952, apesar de não tratar dos desdobramentos analisados aqui, pode ser facilmente estendida a eles.
Sendo assim, para além de desnaturalizar as ideias – como defendemos ao longo do texto – entendemos que é preciso, igualmente, buscar maneiras de desnaturalizar nossas práticas. Por frequentemente permanecer no campo das ideias, ainda que incida no modo como agimos no mundo –, o “natural” precisa encontrar equivalente (note: não um substituto) na concretude. Defendemos que o “real” (realismo, pragmatismo, etc.) seria, em termos práticos, esse correspondente. Afinal, onde mais podemos agir senão no real? No senso comum, sem ser o realismo ou o pragmatismo, qual outra característica precisamos levar em conta para basear nossas ações? É imperativo, portanto, desrealizar (?) o real!
Um caso exemplar dessa completa identificação entre o natural e o real pode ser facilmente resgatado se evocarmos o contexto atual da política brasileira. Desde a vitória de Lula nas eleições ocorridas em 2022 é patente o cenário de imobilismo político das esquerdas radicais – para não citar a completa submissão dos partidos que ainda se reivindicam enquanto de “esquerda” e compõem a base do governo petista. Muitas justificativas são dadas para tal cenário, mas creio que as duas mais comuns são: o perigo de retorno da extrema-direita ao poder e, a mais infame das reclamações, a correlação de forças (nas instituições, na sociedade etc.) negativa.
Enquanto a primeira parte de uma análise pouco precisa em que o “poder” é entendido como uma entidade homogênea, indivisível – representado apenas por aquele ou aquela que ocupa a cadeira do Executivo –, a outra subverte a própria lógica daquilo que se entende por correlação de forças encarando-a como um dado natural e, por isso, imutável. Apesar de suas diferenças, guardam em comum uma mesma origem já citada neste texto: a impotência reflexiva.
Concluímos o texto com um trecho de um artigo de Heribaldo Maia intitulado “A vergonhosa morte da esquerda brasileira” e que, por coincidência, tivemos contato enquanto escrevíamos esse texto. Em nossa opinião, o trecho resume de maneira perfeita a ideia que quisemos discutir aqui (óbvio, sem a pretensão de esgotar o tema) e nos convida a reflexão: “A maioria das vozes que se dizem “realistas” hoje repete dogmas de uma realidade que sequer existe mais. Desde a crise de 2008, não há perspectiva segura no horizonte global de um novo ciclo de crescimento econômico que produza empregos e reduza a desigualdade. As tendências apontam, pelo contrário, para um capitalismo de baixa produtividade, voltando à extração de renda, e um aumento do desemprego estrutural. Além disso, a evidência inescapável da crise ambiental põe em xeque qualquer promessa de progresso infinito e os cálculos imediatistas de corporações e países. Se uma quantidade crescente de pessoas está se abrindo a posições que antes seriam tidas como “extremas”, tanto à direita quanto à esquerda, é em primeiro lugar porque o “centro” não consegue mais convencê-las de que tem condições de manter suas promessas. É por isso que o meio-termo entre o neoliberalismo-conservador e neoliberalismo-progressista perde sua aura de ponto de equilíbrio natural (…) Sem encarar nossa própria morte, seremos incapazes de renascer livres das amarras do medo. Encarando-a, ressurgiremos com força suficiente para dizer em alto e bom som: sim, há alternativas!”.[ix]
Matheus C. Martins é graduando em Ciências Sociais na UFSC.
Referências
DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.
FISHER, Mark. Realismo capitalista: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo?. São Paulo: Autonomia Literária, 2020.
FRANCO, Fábio et al. O sujeito e a ordem do mercado: gênese teórica do neoliberalismo. In: SAFATLE, Vladimir (org.). Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.
KEHL, Maria Rita. O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São Paulo: Boitempo, 2009.
LATOUR, Bruno. Onde aterrar?: como se orientar politicamente no Antropoceno. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Raça e História. Lisboa, Editorial Presença, 2008.
MAIA, Heribaldo. A vergonhosa morte da esquerda brasileira. 2023. Disponível em: https://revistaopera.com.br/2023/06/20/a-vergonhosa-morte-da-esquerda-brasileira/
SAFATLE, Vladimir. A esquerda que não teme dizer seu nome. São Paulo: Três Estrelas, 2012.
WOOD, Ellen Meiksins. A origem do capitalismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.
Notas
[i] Aqui estamos pensando, sobretudo, na descrição feita em DARDOT; LAVAL (2016), mas outros autores e autoras que tratam do tema também são resgatados ao longo do texto.
[ii] DARDOT; LAVAL, 2016, p. 30.
[iii] FISHER, 2020, p. 33-4 e p. 129.
[iv] KEHL, 2009.
[v] Ver nota de rodapé nº 32 em LATOUR, 2020.
[vi] WOOD, 2001, p. 35.
[vii] FRANCO et al., 2020.
[viii] LÉVI-STRAUSS, 2008, p. 13.
[ix] MAIA, 2023.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA