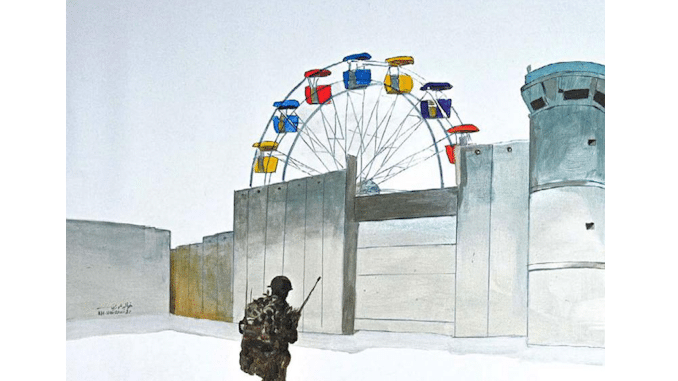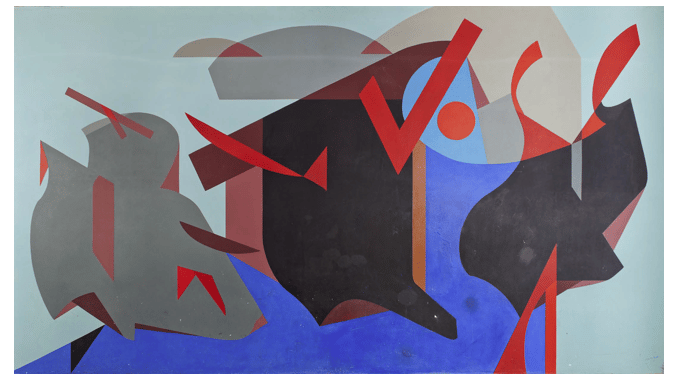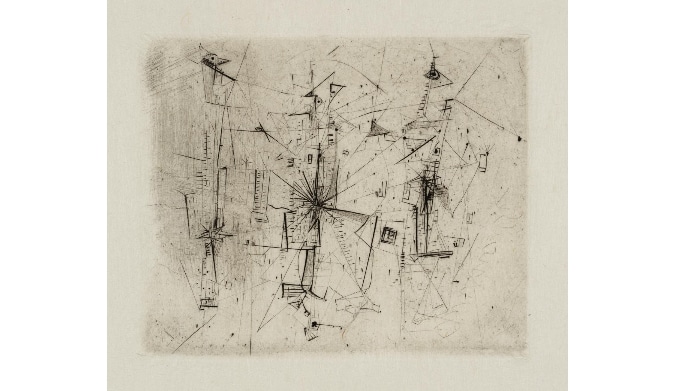Por NOURA ERAKAT, DARRYL LI & JOHN REYNOLDS*
Os movimentos palestinos teorizaram as dimensões raciais e coloniais da sua opressão desenvolvendo estratégias de enfrentamento
A centralidade da Palestina nos debates de direito internacional sobre raça, racialização e racismo derivam, em grande parte, da peculiaridade temporal do movimento sionista e sua tentativa de instituir um novo Estado colonialista de povoamento em paralelo a intensificação mundial da descolonização formal e das denúncias liberais contra o racismo. Em 1922, a Liga das Nações afirmou o objetivo de criar, na Palestina, uma colônia de povoamento para o povo judeu – negando a autodeterminação nacional da população indígena árabe – no direito internacional público.
O Mandato da Palestina apagou o status nacional palestino de três formas; primeiro, enquadrando os árabes como incapazes de se autogovernarem, segundo, realçando a importância da criação de um lar nacional judaico, e, por fim, distinguindo a Palestina dos outros mandatos de classe A, por sua relevância religiosa que ultrapassava os interesses de qualquer grupo nacional. Um século depois, a “questão” da Palestina segue em aberto, ocupando espaço central nas lutas antirracistas e anticolonialistas no direito internacional.
O sionismo, neste contexto, significa apoio à criação e manutenção de um Estado para todos os judeus na Palestina histórica, cuja maioria demográfica e cidadania preferencial são judaicas. O movimento sionista criou Israel através da guerra e do deslocamento de três quartos da população palestina nativa em 1948. Esse Estado é uma expressão do sionismo, sendo também seu canal para um processo contínuo de colonização, povoamento e deslocamento.
Como observou o jurista e acadêmico palestino Fayez Sayegh em 1965, “a dissipação de um período cruel e vergonhoso da história mundial coincidiu com o surgimento, na ponte terrestre entre Ásia e África, de um novo ramo do imperialismo europeu e uma nova variedade racista de colonialismo”. Ao contrário dos Estados colonizadores anglo-saxonicos mais antigos, que puderam continuar suas práticas coloniais com menos fiscalização internacional, a crescente natureza anacrónica de Israel com frequência o posiciona como estudo de caso nos debates atuais sobre racismo e colonialismo.
A “questão” Palestina
A importância de se entender raça e colonialismo como conceitos que desempenham funções distintas, mas com interligações irrevogáveis é realçada pela questão Palestina. Os contínuos debates entre juristas e acadêmicos das tradições da Teoria Crítica de Raça (Critical Race Theory) e das Abordagens Terceiro-Mundistas para o Direito Internacional (Third World Aproach to International Law) também nos lembram desta dinâmica em outras partes do mundo. A Palestina representa, portanto, um sinal de alerta sobre a “guinada racialista”. Embora as perspectivas terceiro-mundistas do direito internacional tenham, muitas vezes, dado pouca atenção para as implicações teóricas no conceito de raça ou rapidamente a subsumiram na categoria de colonialismo, precisamos ser mais cuidadosos e precisos para evitar que referencias precipitadas sobre raça e direito internacional se limitem a reafirmar argumentos sobre o colonialismo ou, pior ainda, reproduzam um nacionalismo metodológico que desligue raça das suas dimensões globais.
É preciso reafirmar, por isso mesmo, o parâmetro fundamental do sionismo ser ao mesmo tempo um projeto racializando e colonial. O sionismo sustenta que todos os judeus do mundo são um único grupo baseado apenas na descendência hereditária, independente de qualquer vinculo pessoal ou familiar ao território específico em questão. Ele insere uma forma de propriedade na nacionalidade judaica– incluindo direitos à terra, à cidadania, ao emprego, à vida e à habitação – baseados na desapropriação contínua e sistemática dos palestinos, categorizados com fungíveis nômades “árabes”. O projeto sionista implica, portanto, uma hierarquia racial que é também explicitamente global: o Estado de Israel não favorece apenas a parte judaica da sua população em detrimento da parte não-judaica, mas garante também direitos superiores aos judeus estrangeiros. Esta interligação, por isso, tem sido obscurecida nos dois debates fundamentais em torno da Palestina e do direito internacional.
Um dos debates mais importantes – e polêmicos – acerca do racismo e o direito internacional remete ao conceito de “apartheid”. Na origem um eufemismo utilizado pelos supremacistas brancos afrikaner para justificar e organizar seu regime colonial, “apartheid” foi transformado num termo de opróbrio no direito internacional pelos movimentos de libertação nacional do sul da África. O apartheid, como forma flagrante de segregação e dominação racial, foi proibido pela primeira vez na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965.
Foi depois classificado como crime contra a humanidade na Convenção Internacional sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes Contra a Humanidade, de 1968, e codificado de forma mais completa em 1973, na Convenção Internacional sobre a Supressão e Punição do Crime de Apartheid. Até hoje, nenhum órgão jurídico internacional concluiu estender o conceito de apartheid para além do sul da África em um julgamento concreto, embora os órgãos dos tratados de direitos humanos, como o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, confirmam sua aplicabilidade universal. O debate mais antigo e intenso sobre a aplicabilidade do conceito de apartheid fora de seu contexto original – e, portanto, o principal ponto de contestação da sua universalização – tem sido a Palestina.
Apartheid sem racismo?
Nos últimos anos, a natureza do sistema de apartheid na Palestina também ocupou um espaço cada vez mais central na análise jurídica internacional – através dos trabalhos de juristas, mecanismos da ONU e organizações ativistas ocidentais. Mas boa parte desta produção não faz referência ao colonialismo de povoamento ou ao sionismo, nem mesmo à constituição do Estado israelense enquanto uma entidade de apartheid desde a sua formação em 1948. Em vez disso, as intervenções hegemônicas enquadram a situação a uma narrativa segundo a qual a caracterização de apartheid origina em um passado mais recente. A realidade é que essa evolução refere-se menos a anomalias e aberrações, e mais a continuação e sistematização. Portanto enquadrá-las como um novo ponto de partida, com independência relativa das estruturas elementares ou da ideologia colonial, possibilita a narrativa de que o apartheid israelense surge de práticas viciadas “sem fundamento em uma ideologia racista”.
Essa noção de apartheid “sem ideologia racista” baseia-se em tensões de longa data referentes ao entendimento do próprio apartheid no direito internacional. Desde a década de 1960, o direito internacional conceituou a prática de apartheid segundo duas linhas paralelas: uma leitura anticolonial enfatizando a negação de um direito coletivo à autodeterminação por um regime opressivo de dominação racial; e uma interpretação mais liberal, tratando-o como discriminação sistêmica contra indivíduos de um determinado grupo racial no bojo do sistema jurídico de um Estado.
Desde o início formal do apartheid na África do Sul, em 1948, intelectuais, líderes políticos e juristas do terceiro mundo entenderam com clareza o apartheid enquanto arquitetura jurídico-política do colonialismo, e não algo novo ou distinto. Depois de 1960, quando o bloco do terceiro mundo assumiu uma posição majoritária na ONU, as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas começaram a empregar com consistência a linguagem da autodeterminação e do fim do colonialismo em todas as suas formas e manifestações. Condenaram repetidamente o apartheid como regime de dominação racial constituinte de violação inerente à autodeterminação. O apartheid era entendido em grande medida como um regime colonial de ocupação estrangeira, exigindo soluções semelhantes: libertação coletiva e restituição de terras.
A lógica individualizante dos direitos humanos e do direito penal internacional, ao longo do tempo, se impôs a partir da marginalização, no início da década de 1980, das correntes mais radicais que reivindicavam a libertação do terceiro mundo e cuja política antiimperial ameaçou brevemente transformar o direito internacional. Com isso, as implicações essências anticoloniais da proibição do apartheid foram secundarizadas. O apartheid, enquanto “colonialismo de um tipo especial” – como descrito pelo Partido Comunista Sul-Africano – foi reformulado para (ou reduzido a) algo mais próximo de “discriminação racial de um tipo especial”.
É compreensível, portanto, que as organizações de direitos humanos tenham utilizado a versão menos controversa e mais restrita de apartheid oferecida pelo direito internacional. Conseguem, assim, fugir das consequências impostas pela realidade material da descolonização face a um projeto de colonização em curso. Esse entendimento mais liberal do apartheid, voltado ao direito penal, pode ser potencialmente remediado pela igualdade formal, sem a necessidade de lidar de forma direta com a conquista colonial e a economia política consolidada pelo regime de apartheid. Nesse sentido, o apartheid poderia ser “liquidado” sem descolonização, restituição ou redistribuição.
Na África do Sul, essa leitura mais restrita do apartheid produziu uma forma de “neo-apartheid”. Na Palestina, isso permitiria dissociar o apartheid israelense do colonialismo de povoamento. Por isso, a centralidade da autodeterminação precisa estar em primeiro plano nos debates sobre apartheid – não só para o bem dos palestinos, mas para o bem de todos aqueles que procuram um enquadramento abrangente do apartheid nas lutas contra o racismo e o colonialismo.
O sionismo como racismo
Enquanto a proibição do apartheid era desenvolvida como um instrumento antirracista no direito internacional, um esforço paralelo se dava para designar o sionismo como uma forma específica de racismo. No âmbito da iniciativa da ONU “Década contra o Racismo”, uma coligação de Estados procurou inserir a palavra “sionismo” nos textos sempre que aparecessem expressões como colonialismo, discriminação racial, subjugação estrangeira e apartheid. Em 10 de novembro de 1975, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução 3379, reconhecendo o sionismo como uma forma de racismo. A resolução nomeava de forma explicita o sionismo ao lado do “colonialismo e do neocolonialismo”, bem como do apartheid, citando também uma resolução da Organização da Unidade Africana que designava a “origem imperialista comum” dos “regime[s] racista[s]” na Palestina, Zimbábue e África do Sul.
A Resolução 3379 foi baseada em análises sobre o caráter racista e colonial do sionismo desenvolvidas antes no âmbito da luta de libertação palestina. O principal arquiteto da resolução foi o próprio Fayez Sayegh. Sayegh destacou como a pureza racial, a segregação e a supremacia constituíam o sionismo. Nas Nações Unidas, Sayegh explicou como, para o sionismo, “o vinculo racial fazia de um judeu um judeu”, comprovando seu argumento ao ler em voz alta os escritos do fundador do sionismo moderno, Theodor Herzl. Muito entenderam a ironia inerente às reivindicações sionistas de uma raça judaica singular, dado que refletiam um pilar do antissemitismo, baseado na impossibilidade de aceitação dos judeus na Europa.
O voto contrário mais conhecido à Resolução 3379 veio, como esperado, dos Estados Unidos. O embaixador norte-americano Daniel Moynihan rejeitou a ideia de que o sionismo pudesse ser uma forma de racismo e insistiu em explicar o sionismo como um movimento político – um ponto que observadores como Sayegh não contestavam, mas que os próprios sionistas evitam sempre que possível ao insistirem que qualquer crítica ao sionismo equivale a um ataque aos judeus enquanto tais. Citando de forma ostensiva definições de racismo segundo verbete de dicionário, que invocam noções biológicas de raça, Daniel Moynihan insistiu que os judeus não são uma raça no sentido biológico. Isto era, evidentemente, um completo non sequitur.
Como Fayez Sayegh e diversos outros mostraram de forma objetiva, independente de se os judeus são ou não uma raça em qualquer sentido “objetivo”, o relevante é a forma como o próprio sionismo entende os judeus. A fixação de Daniel Moynihan em noções biológicas de raça não surpreendia, dada a sua notoriedade nos debates sobre racismo e anti-negritude nos Estados Unidos. Uma década antes da sua vigorosa defesa do sionismo nas Nações Unidas, Daniel Moynihan foi o principal autor de um relatório do governo americano sobre “a família negra”, amplamente citado, cuja patologização das mães negras alimentou décadas de crítica feminista negra.
A Resolução 3379 foi aprovada graças ao apoio esmagador dos Estados do terceiro mundo, mas a votação foi polêmica: setenta e dois Estados a favor; trinta e cinco contra; e trinta e duas abstenções. Em Israel, nos Estados Unidos e noutros bastiões do sionismo, a Resolução 3379 tornou-se símbolo do controle das Nações Unidas por sentimentos anti-Israel e terceiro-mundistas insurgentes. Ignorado nesse balanço está a condenação do sionismo como racismo entendido de forma explicita como parte constitutiva do regime colonial.
O ano de 1975 foi, de certa forma, o ponto alto da influência terceiro-mundista – e, por extensão, palestina – nas Nações Unidas. Nos anos seguintes, o movimento de libertação palestino não avançou com uma estratégia jurídica para abordar o sionismo no direito internacional como uma violação do jus cogens, ou um crime contra a humanidade, como tinha sido feito com o apartheid. Em 1991, a Organização para a Libertação da Palestina aceitou como condição previa para participar no Processo de Paz de Oslo renegar a resolução. Com isso, as negociações bilaterais lideradas pelos Estados Unidos obscureceram as dimensões raciais e coloniais da luta pela liberdade dos palestinos, enquadrando-a como uma questão de resolução de conflitos, apesar da notória assimetria de poderes entre uma potência nuclear e um povo sem Estado.
Conclusão
Se apoiando nas tradições vindas dos espaços de luta, ao lado das condições que moldam suas vidas e perspectivas, as comunidades e movimentos palestinos teorizaram as dimensões raciais e coloniais da sua opressão desenvolvendo estratégias de enfrentamento. O centro das reivindicações dos ativistas palestinos, expostas no apelo tripartite por Boicote, Desinvestimento e Sanções, de 2005, não são apenas o fim da ocupação de 1967, mas também o direito de regresso dos refugiados palestinos e o fim do regime racial do Estado israelense. Isso coloca a essência do próprio Estado colonialista de povoamento e de apartheid no centro da luta pela liberdade.
Enquanto o trabalho do movimento palestino obrigou que fossem reconhecidas as realidades do apartheid israelense e se consolidou uma renovada consciência do sionismo como forma de racismo, o pedido da Assembleia Geral da ONU de dezembro de 2022 por uma Opnião Consultiva ao Tribunal Internacional de Justiça, sobre o estatuto jurídico da ocupação prolongada de Israel, pode representar uma oportunidade perdida. Ela ocorre depois de muitos anos de discussão tática sobre o potencial foco e o propósito de uma Opinião Consultiva, abrindo ampla oportunidade para a liderança palestina e os seus aliados de expor o colonialismo de povoamento e racismo institucionalizado do Estado israelense.
Fugir, ao invés disso, para um debate sobre o estatuto jurídico da ocupação de 1967, limitando assim a autodeterminação para uma fração do povo palestino, os termos do pedido reificam a lógica conservadora e partidária do próprio direito internacional. Embora qualquer ocupação tenha impacto na autodeterminação da população ocupada, um regime colonial e racista que visa uma transformação demográfica irreversível tem como objetivo destruir esse direito e a própria possibilidade de seu exercício. A esta altura, não é o suficiente analisar a ocupação sem confrontar o regime racial e colonial em que está inserida.
*Noura Erakat é professora de relações internacionais na Rutgers University (EUA). Autora, entre outros livros, de Justice for Some: Law and the Question of Palestine (Stanford University Press).
*Darryl Li é professor do Departamento de Antropologia da University of Chicago. Autor, entre outros livros, de The Universal Enemy: Jihad, Empire, and the Challenge of Solidarity (Stanford University Press).
Tradução: Mateus Forli & Aldo Cordeiro Sauda.
Publicado originalmente no American Journal of International Law.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA