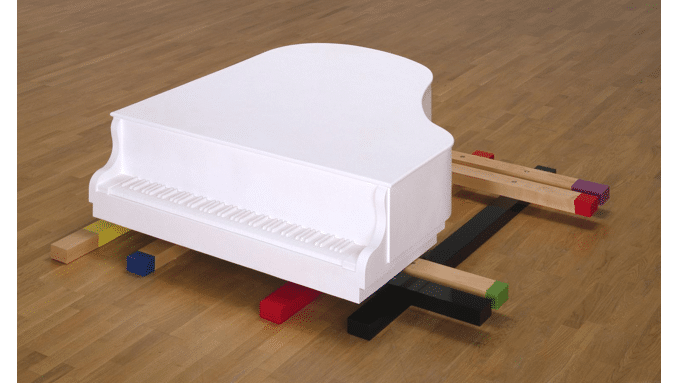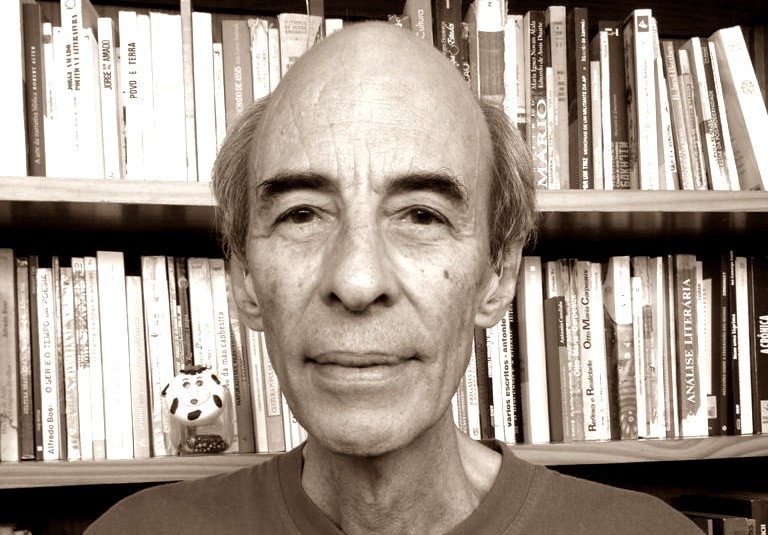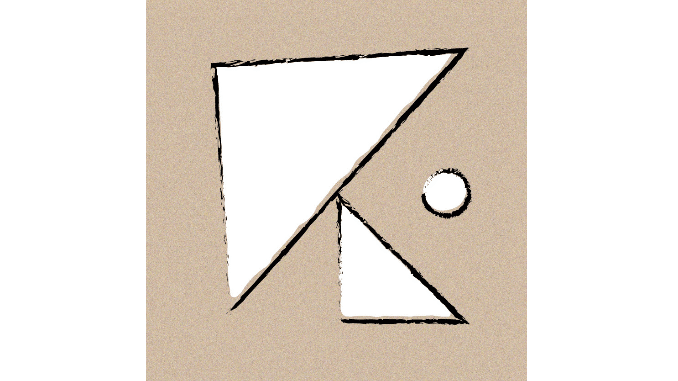Por FRANCISCO TEIXEIRA
Bem antes do holocausto tornar-se uma fixação dos judeus, a ONU já lançava mão dessa tragédia para justificar a partilha imoral da Palestina
A maioria dos judeus vive fora de Israel. No início de 2019, a população judaica do mundo, aqueles que se identificavam como judeus acima de tudo, era estimada em 14,7 milhões (ou 0,2% dos 7,89 bilhões de humanos). Quando se considera aqueles que se dizem ser parcialmente judeus ou que têm ascendência judaica de pelo menos um único pai judeu, aquela cifra sobe para cerca 17,9 milhões. Deste total, 51% vivem nos Estados Unidos, contra 30% que moram em Israel. Juntos, estes dois países respondem por 81% da população mundial de judeus.[i]
Com base nessa composição demográfica, é, no mínimo, despropositada a criação de um Estado para abrigar apenas 30% daqueles que se confessam judeus? Esta questão pode ser posta noutros termos, bem mais perturbadores. Fundado em maio de 1948, Israel nascia como um Estado encravado no coração da Palestina, para albergar apenas uma população que, naquela época, correspondia a tão somente 30% das pessoas que moravam naquele país, contra quase 70% de palestinos que aí viviam há milênios, na “terra de Canãa”.
E o que é mais intrigante: “quase toda terra cultivada era de propriedade dos nativos [palestinos] – apenas 5,8% estavam de posse dos judeus em 1947…”.[ii] Fica assim escancarada a hipocrisia da Resolução 181 da ONU, instituída em novembro de 1947, que estabelecia a partilha da Palestina, dividindo-a entre judeus e árabes. Os primeiros ficaram com 55% do território e os palestinos com tão somente 45%.
Fica assim manifesto que a Resolução da partilha ignorou totalmente a composição étnica da região. “Tivesse desejado fazer corresponder o território em que os judeus se estabeleceriam na Palestina”, protesta Ilan Pappé, com toda razão, a ONU teria reservado para eles “não mais do que 10%”. “Mas a ONU”, continua ele, “aceitou as reivindicações nacionalistas do movimento sionista sobre a Palestina e, mais ainda, buscou compensar os judeus pelo Holocausto nazista na Europa”.[iii]
Ora, tal reparação compassiva estava muito longe de corresponder ao verdadeiro sentimento da maior comunidade judaica do mundo, a norte-americana. Esta não nutria, na época em foi criado o Estado de Israel, qualquer vivência afetiva pelo extermínio sofrido pelos judeus nos campos de concentração nazista. Até o final dos anos sessenta do século passado, “Nenhum monumento ou homenagem marcou o holocausto nazista nos Estados Unidos. Pelo contrário, a maior parte das organizações judaicas se opôs a tais comemorações”.[iv]
Como se explica essa ausência da memória do holocausto? “A explicação comum”, argumenta Norman Finkelstein, é que os judeus ficaram traumatizados com o holocausto nazista e, portanto, reprimiram sua memória”. O autor de A indústria do holocausto vai mais longe, para esclarecer que “a razão verdadeira para o silêncio público sobre o extermínio nazista era a política conformista da liderança judaica americana e o clima político do pós-guerra”. As organizações judaicas aderiram à política norte-americana, “esqueceram o holocausto nazista porque a Alemanha – Alemanha Ocidental, em 1949 – tornou-se um aliado crucial do pós-guerra americano no confronto dos EUA com a União Soviética.
Vasculhar o passado não seria útil; na verdade, era um complicador”[v]. (…). Somente com a guerra árabe-israelense de junho de 1967, “que o holocausto tornou-se uma fixação na vida dos judeus americanos”. A partir de então, o dogma sobre o ódio “eterno dos não-judeus serviu tanto para justificar a necessidade de um Estado judeu quanto para se beneficiar com a hostilidade dirigida a Israel”[vi].
Diante desse cenário, não há como negar: bem antes do holocausto tornar-se uma fixação dos judeus, notadamente os norte-americanos, a ONU já lançava mão dessa tragédia para justificar a partilha imoral da Palestina. Mas isso não é a única razão que está por trás daquela partilha. Mais importante do que qualquer apelo sentimental subjaz uma questão geopolítica, que, na época, não era ainda clara, mas viria, com o tempo, tornar-se central: a posição estratégica de Israel como trampolim para a política dos Estados Unidos naquela região.
Há 40 anos, o secretário de Estado do governo de Ronald Reagan, Alexander M. Haig, poria tudo “em pratos limpos”, a proferir a sentença de que “Israel é o maior porta-aviões americano, é inafundável, não carrega nenhum soldado americano e está localizado numa região crítica para a segurança nacional dos EUA”.
Ah, pobre nação! Localizada numa área vital para a dominação ocidental do Oriente, a Palestina tinha de ser presa do imperialismo norte-americano.
*Francisco Teixeira é professor da Universidade Regional do Cariri (URCA) e professor aposentado da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Autor, entre outros livros, de Pensando com Marx: Uma leitura crítico-comentada de O Capital (Ensaio).
Notas
[i] Estes dados foram extraídos da Wikipedia, que, por sua vez, toma como referência as estatísticas levantadas pelo Agência Judaica.
[ii] Pappé, Ilan. A limpeza étnica da Palestina. São Paulo: Sunderman. 2016, p.50.
[iii] Idem, Ibidem, p. 51.
[iv] Finkelstein, Norman G. A Indústria do holocausto: reflexões sobre a exploração do sofrimento dos judeus. Rio de Janeiro: 2001, p.25.
[v] Idem. Ibidem, p. 25/26.
[vi] Idem. Ibidem, p. 61/62.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA