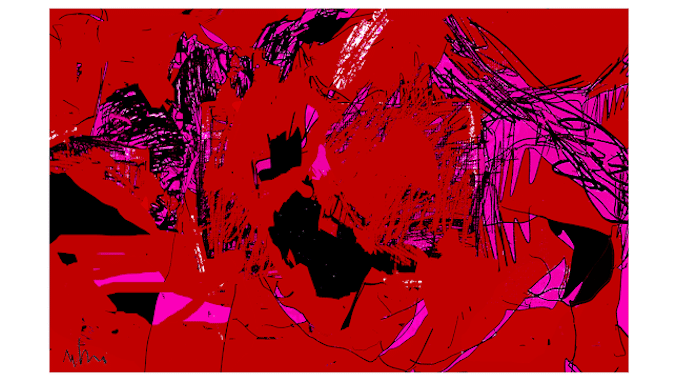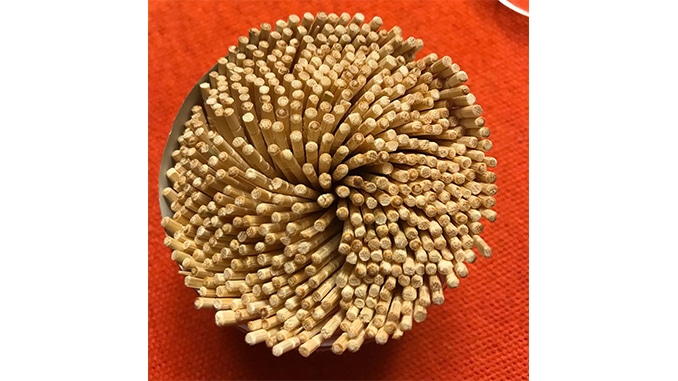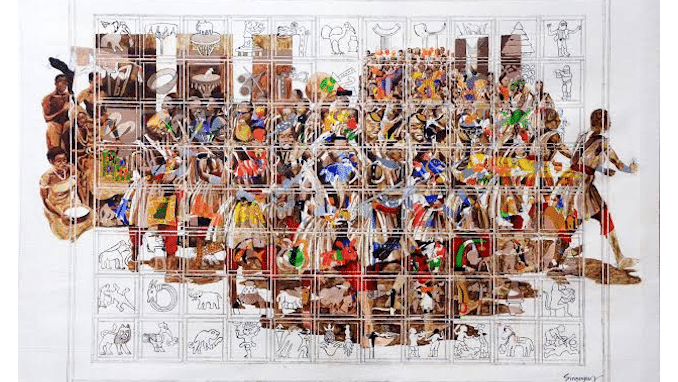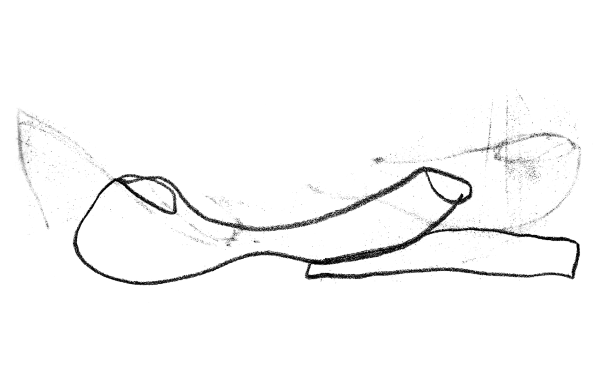Por DANI RUDÁ*
Na fratura entre a instituição que administra a miséria e o serviço que ouve a dor, o cuidado é o vínculo que se sustenta sem promessas vazias
A redução de danos como ética do cuidado
Este texto se organiza a partir de uma posição ética específica. O que o atravessa não é a busca por um método mais eficiente, nem a formulação de um novo modelo de intervenção, mas a afirmação da redução de danos como ética transversal do cuidado. Não se trata da redução de danos enquanto política setorial, técnica clínica ou estratégia dirigida a determinados públicos, mas como modo de sustentar o cuidado em contextos estruturalmente marcados pela falta, pela contradição e pela impossibilidade de resolução plena.
Tomar a redução de danos como ética implica reconhecer, desde o início, que o campo das políticas públicas de cuidado opera sob limites que não são individuais nem técnicos, mas políticos e econômicos. O cuidado não se dá em cenário de abundância, coerência institucional ou garantia material de direitos. Ele se dá em territórios precarizados, em serviços tensionados, em relações atravessadas por violência estrutural, desigualdade e expectativas que excedem radicalmente aquilo que pode ser oferecido. Diante disso, insistir na promessa de solução não é apenas ingênuo: é produtor de adoecimento, tutela e violência simbólica.
A ética da redução de danos parte de um princípio simples e rigoroso: nem toda falta pode ser reparada, nem todo sofrimento pode ser resolvido, mas toda relação pode ser atravessada de forma menos violenta. No campo do cuidado, isso significa deslocar o eixo da ação da resolução do problema para a sustentação do encontro; do ideal de transformação futura para a produção de efeitos éticos situados no presente; da exigência de sucesso para o reconhecimento do limite. Reduzir danos, nesse sentido, é recusar tanto a onipotência do salvador quanto o cinismo do burocrata.
Essa posição ética não elimina a contradição do campo – ela a assume como condição. O cuidado institucional é, por definição, um espaço ambíguo: ele se dá dentro de estruturas que administram a miséria que produzem, ao mesmo tempo em que tenta preservar a humanidade daqueles que sofrem seus efeitos. A redução de danos, aqui, não aparece como solução dessa ambiguidade, mas como bússola ética para não se perder nela. Ela orienta o cuidado para aquilo que é possível sustentar sem mentira, sem promessa vazia e sem captura do outro.
Ao adotar essa chave, este texto não propõe uma prática ideal, nem um modelo replicável. Propõe um deslocamento de olhar: avaliar o cuidado não pelo que ele promete resolver, mas pelo quanto consegue reduzir a circulação da violência, preservar o vínculo sem tutela e proteger o agente de cuidado da conversão em instrumento da própria violência estrutural que atravessa o serviço. É a partir dessa ética – e não de um método – que se tornam inteligíveis as distinções, críticas e apostas desenvolvidas até aqui.
Serviço, instituição e a ponta como lugar de produção de cuidado, saber e resistência
Há uma confusão que atravessa o cotidiano do trabalho público e que, por ser amplamente naturalizada, raramente é nomeada: a confusão entre instituição e serviço. Essa confusão não é um erro conceitual inocente, nem um problema de formação pontual. Ela opera como dispositivo político. Ela organiza afetos, direciona conflitos e decide, na ação da ponta, contra quem a raiva do agente de cuidado será descarregada e quem sairá ileso do circuito da violência.
Quando essa distinção não é sustentada, o cuidado é empurrado para saídas falsas: ou a moral salvadora, que promete resolver o que não pode ser resolvido, ou a blindagem técnica, que protege o agente ao custo de desumanizar o encontro. Distinguir serviço e instituição não é refinamento teórico; é condição de sobrevivência ética, psíquica e política na ponta.
Por instituição, não se deve entender apenas a unidade administrativa, o prédio, a gestão local ou a coordenação imediata. Instituição é o modo como o Estado, sob a racionalidade neoliberal, administra a miséria social produzida pelo próprio sistema econômico. É o braço operacional do capital quando este se apresenta como política pública.
A instituição não tem como objetivo central cuidar; seu objetivo é governar o conflito social, conter o excesso, transformar sofrimento em dado e reduzir a complexidade da vida a indicadores administráveis. Ela não precisa que o sofrimento seja compreendido; ela precisa que seja contabilizado. A instituição não pergunta “o que acontece com essas vidas?”, mas “quantos atendimentos foram feitos?”, “quantos casos foram encerrados?”, “quanto custou?”.
Essa lógica não é fruto de incompetência. A racionalidade gerencialista – marcada por fluxos irracionais, exigências contraditórias, metas impossíveis e protocolos desconectados do real – não é falha, é tática. Ela opera uma asfixia deliberada: ao saturar o cotidiano com exigências burocráticas, o sistema impede que o agente de cuidado pare para pensar.
Aquele que pensa é perigoso porque nomeia a violência, articula contradições e evidencia o caráter político da miséria. Já o agente que apenas executa, mesmo bem-intencionado, reproduz o sistema. Retirar tempo de capacitação, de estudo, de reunião de equipe e de elaboração coletiva não é simples corte de gastos: é supressão deliberada do pensamento, um corte no fluxo de reflexão crítica.
Por serviço, ao contrário, entende-se algo radicalmente distinto. Serviço não é o aparato institucional, nem sua linguagem, nem seus indicadores. Serviço é o acontecimento ético do cuidado. É aquilo que se produz no encontro concreto entre um agente de cuidado e um usuário, quando alguém sustenta presença diante de uma vida atravessada por falta, perda e violência.
O serviço, na dimensão do cuidado, não converte sofrimento em meta batida; ele respeita a dor como algo que precisa ser ouvido, não apenas arquivado. Ele não oferece saídas mágicas para encerrar o atendimento; ele permanece presente diante do impasse. O serviço não elimina a miséria, mas impede que ela seja vista como fracasso pessoal.
É por isso que o serviço é, necessariamente, um lugar de produção de saber. Não saber técnico universal, não saber exportável em manual, mas um saber situado, produzido no atrito contínuo com o real. Um saber que nasce da repetição das recaídas, da frustração diante da não mudança, da experiência reiterada de oferecer presença sem garantia de retorno. Esse saber é incompatível com a lógica neoliberal de produtividade, porque ele exige tempo, silêncio, elaboração e conflito. Ele não se deixa converter facilmente em número.
A ponta é o lugar onde essa disputa se encarna. É ali que o agente de cuidado vive, no corpo e na rotina, o choque entre duas racionalidades opostas: a racionalidade institucional, que exige velocidade, encerramento e mensuração, e a racionalidade do serviço, que exige tempo, sustentação e abertura. A ponta não é o lugar onde se “aplica” o que foi pensado; ela é o lugar onde o pensamento se torna vital para não colapsar eticamente, não endurecer e não devolver a violência ao usuário. Dizer que a ponta é apenas execução é um gesto político: é retirar dela o direito à significação.
Pensar na ponta, portanto, é contraconduta. Não no sentido romântico da rebeldia, mas no sentido concreto de sustentar o campo de tensão onde o sistema exige dado. O agente de cuidado que pensa interrompe o circuito automático da violência. Ele atrasa o fluxo. Ele pergunta onde se espera resposta pronta. Ele sustenta o vínculo onde se exige solução. Essa atitude é profundamente incômoda para a instituição, porque expõe o limite estrutural do Estado neoliberal: ele não resolve a miséria que administra.
É nesse ponto que a confusão entre serviço e instituição se torna especialmente funcional ao poder. Quando o agente de cuidado se identifica com a instituição, ele se torna seu representante afetivo diante do usuário. Ele passa a justificar a falta de recursos, a defender o indefensável, a ocupar o lugar de falso Estado. Quando o usuário reage com raiva – porque tem fome, frio, dor, desespero, desesperança, falta de suporte – essa raiva é vivida como ataque pessoal, e o agente, exaurido, responde com endurecimento ou violência relacional. O sistema funciona perfeitamente: o usuário agride o agente, o agente agride o usuário, e o poder que produziu a falta permanece invisível e ileso.
Sustentar a distinção entre serviço e instituição permite romper esse circuito. Permite reconhecer que o agente de cuidado não resolve a fome — entendida aqui não apenas como ausência de comida, mas como nome condensado de múltiplas faltas estruturais: moradia, renda, família, trabalho, acesso à saúde, cuidado psicológico, pertencimento e proteção. Quem resolve essas faltas é política econômica, redistribuição de renda e garantia material de direitos. O agente de cuidado resolve vínculo. E isso não é pouco, nem secundário.
No campo do cuidado, diferentemente da indústria, o produto não é externo ao trabalhador. O produto é a relação. Quando o agente tenta resolver a falta – em qualquer de suas formas – sem ter o objeto que a suprima, ele entra no delírio onipotente do salvador. Quando, ao contrário, recusa o vínculo porque não tem o objeto demandado, cai no cinismo do burocrata. O cuidado acontece exatamente nesse intervalo impossível: o agente oferece presença onde o usuário demanda objeto.
Essa posição é profundamente frustrante para o usuário – e precisa ser. O agente ético não promete o que não tem. Ele não encarna o Estado que falha. Ele não oferece solução imaginária para uma falta real. Ele se coloca como testemunha da falta, sustentando o vínculo sem tutela e sem mentira. Essa posição retira o agente do lugar narcísico e expõe o vazio estrutural do sistema. É uma posição de enorme dignidade ética e de altíssimo custo psíquico.
Por isso, a instituição tem interesse direto em esvaziar o serviço. Um serviço vivo produz pensamento, conflito e nomeação. Um serviço reduzido a procedimento apenas administra corpos. A precarização é o mecanismo que força essa conversão: da complexidade em dado, do vínculo em fluxo, do agente em executor. Defender o serviço, nesse contexto, não é defender a instituição. É defender um espaço de humanidade contra a lógica produtivista. É sustentar, na ponta, uma ética de sobrevivência de classe: não vencer a guerra, mas não massacrar o companheiro de trincheira (o usuário).
Separar serviço e instituição, portanto, não é purismo conceitual. É abrir a possibilidade de um posicionamento diferente para o agente de cuidado: não como emissário do poder, nem como vítima impotente, mas como alguém que ocupa um território disputado e que, ao sustentar o serviço, sustenta também uma forma de mundo possível dentro da própria máquina que tenta administrá-lo.
Se o cuidado acontece nesse conflito entre serviço e instituição, ele só se realiza, de fato, no plano do vínculo – no modo como uma presença se oferece diante da falta do outro. É esse campo, onde a ética do cuidado se decide, que o próximo ensaio irá explorar.
*Dani Rudá é educador social lúdico no SUAS.