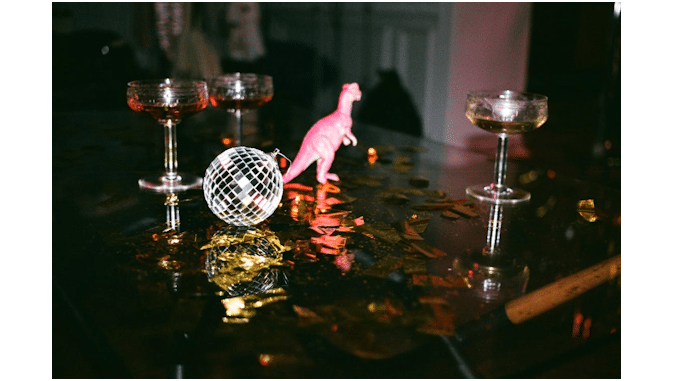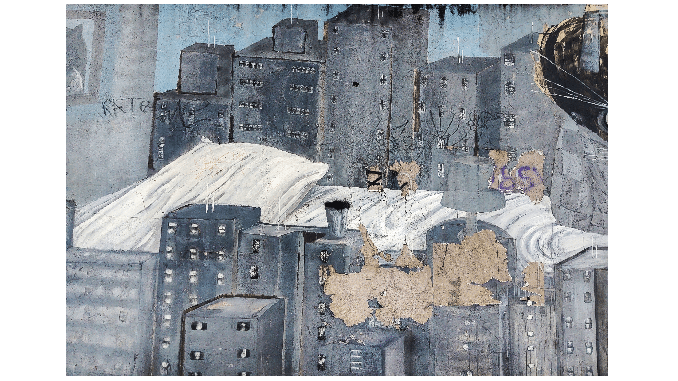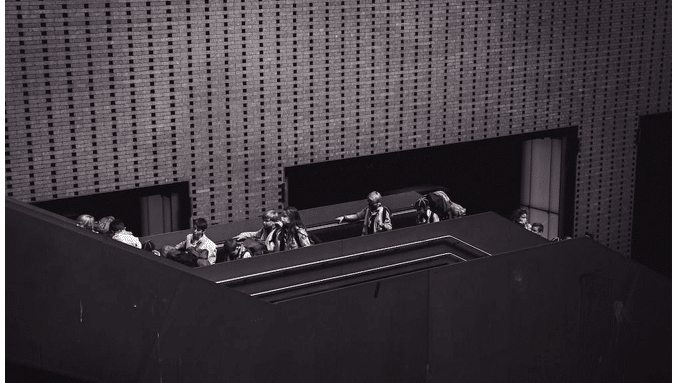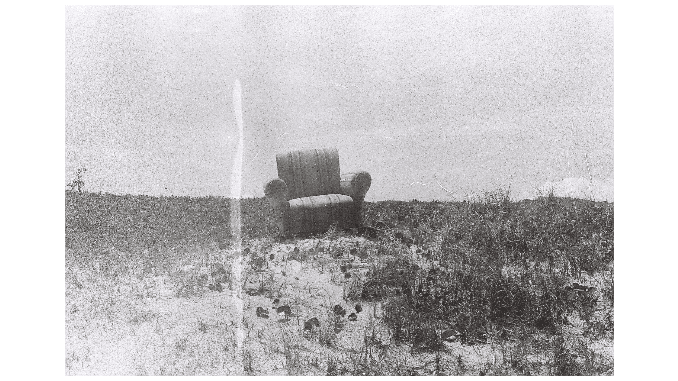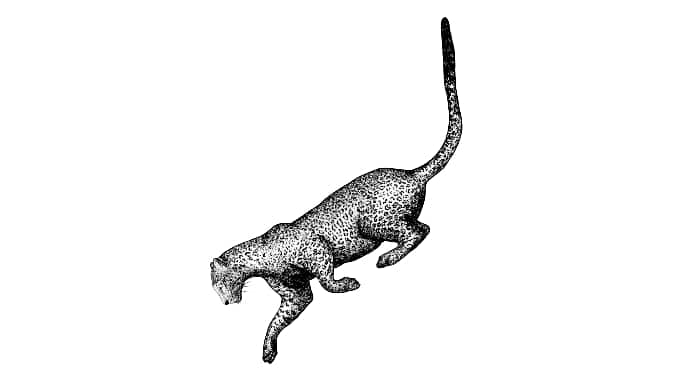Por LEONARDO SACRAMENTO*
Tratar a questão ambiental desvinculada do mundo do trabalho é equívoco hoje incontornável
Antecedentes
Embora politicamente seja relevante para a classe dominante desvincular o meio ambiente da produção capitalista, epistemologicamente a sua vinculação independe da vontade política – se assim o for, não passa de negacionismo. O campo não está ligado à produção de valor apenas em virtude de ser mera fornecedora de matérias-primas (capital constante) e alimentos (capital variável), mas por ser meio de acumulação. A chave para o entendimento da questão do meio ambiente é o campo e a sua relação com o capital. No meio dessa relação profana, há as pesquisas que atestam o esgotamento dos recursos naturais para a produção e a vida humana.
Certa vez, publiquei um pequeno texto em uma rede social com uma foto do meu quintal. Nela apontei o retorno das queimadas na região de Ribeirão Preto (SP). A cidade foi acometida por uma nuvem de fuligem de cana no dia 04 de julho de 2020. O que até então era uma percepção que se conversava nas calçadas de forma marginal desde 2018, como se fosse casuísmo, veio como uma tempestade de fuligem martelando a verdade: as queimadas voltaram para ficar.
Os dias seguintes foram de confirmação! Contudo, muitos dos comentários e análises na cidade se pautavam na questão da legalidade, a proibição da queimada, e na imoralidade dos usineiros, o que foi reforçado pelo silêncio retumbante da imprensa local sobre a nuvem de fuligem que rivalizaria com a nuvem de gafanhotos na Argentina em dezembro do mesmo ano – imprensas locais costumam ser mais submissas ao capital, sobretudo se for um capital de grande relevância nacional, como é o caso do etanol. Tratar a questão ambiental desvinculada do mundo do trabalho é equívoco hoje incontornável.
Portanto, esse texto se iniciou com uma tarefa simples: explicar a queimada no meu quintal e na cidade. Considerei oportuno explicar melhor a relação entre flexibilização/destruição da legislação trabalhista e meio ambiente por compreender o fenômeno à luz da moralidade e da legalidade algo insuficiente. Há uma verdade inconveniente ao ambientalista de Instagram: a defesa do meio ambiente está diretamente vinculada à defesa da proteção ao trabalho. Defender a Reforma Trabalhista, por exemplo, consiste em defender a destruição do meio ambiente. Não adianta publicar foto da Amazônia ou de pessoas abraçando uma árvore, ou de queimadas da Amazônia com algum texto poético (e falacioso) sobre o “pulmão do planeta”. Se defendeu ou se ausentou no debate sobre a flexibilização do trabalho, lutou direta e indiretamente em favor do desmatamento e da destruição ambiental.
Desde 2017 e 2018, percebe-se um aumento das queimadas por meio da fuligem na região conhecida como capital do agronegócio. Em certa medida, esse fenômeno está sincronizado (essa é a melhor palavra) com a aprovação da Reforma Trabalhista. Mas para entender essa relação de suposta causalidade e estabelecer uma vinculação relacional entre trabalho e meio ambiente na região de Ribeirão Preto, é preciso voltar a três eventos: Guerra do Yom Kippur (1973), Choque do Petróleo (1970-1980) e Greve de Guariba (1984).
Ribeirão Preto foi a cidade que melhor aproveitou o ciclo do café na segunda metade do século XIX e no começo do século XX. Concentrou boa parte dos escravizados do país em um período de alta de preço do café. Contudo, ao contrário de outras regiões, em que o ciclo do café se deteriorou mais cedo, como nas regiões do Vale do Paraíba e de Campinas, o prolongamento do ciclo fez com que os capitais ficassem comparativamente mais imobilizados na produção agroexportadora, ao passo que em outras regiões a inversão de capitais do ciclo para outros setores, como o bancário e o industrial, foi mais comum. Nessa região, não se formou uma grande burguesia industrial e bancária, sendo as principais indústrias, até a década de 1970, a indústria Matarazzo e uma indústria de bebidas.
A mudança para a cana foi sendo feita gradualmente, uma vez que as grandes lavouras de café em seu auge não deixaram de produzir açúcar, como se evidencia no caso do Engenho Central, no município de Pontal, que pertencia a Francisco Schimdt, o rei do café – o maior produtor do planeta de 1907 a 1929. Em outras palavras, a região nunca deixou de produzir açúcar, mesmo sendo uma grande produtora de café, o que lhe permitiu mudar a cultura após a Crise de 1929 e o pequeno surto de industrialização entre as décadas de 1930 e 1960.
O marasmo provinciano pós-1929 deixou de existir com um fator absolutamente exógeno: a Guerra do Yom Kippur. Além do fortalecimento de Arafat e da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), a guerra criou as condições ideais para a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) controlar mais assertivamente o preço do barril. No fim da década o preço disparou com a constatação científica de que o petróleo é um recurso natural economicamente finito. É sempre difícil dimensionar o sentimento da época, mas o famoso discurso de Jimmy Carter sobre as crises energética e inflacionária em 1979, pedindo aos estadunidenses para conservar (economizar) energia e priorizar outras formas de energia, expressa o espírito político. Aliada à recessão e à Guerra Fria, havia uma quebra de expectativa sobre o futuro que abriria o caminho para o neoliberalismo de Ronald Regan.
No Brasil, resultaria na debacle do “milagre econômico” e na ascensão da luta pelo fim da ditadura civil-militar. Da mesma forma que Carter, o governo brasileiro passou a buscar alternativas energéticas, criando o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool. Importante ressaltar que Vargas já havia criado o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) e instituído a adição de álcool na gasolina, o que indica a existência de algum acúmulo tecnológico, científico e produtivo. Mas o que foi criado pela ditadura em 1975 objetivou responder a uma demanda imediata que havia dado fim ao único ciclo de crescimento na ditadura civil-militar e à quebra do pacto social com os setores mais conservadores ante à crise econômica.
Diante da crise de 1973, o Centro Técnico-Aeroespacial iniciou os estudos sobre o etanol no mesmo ano. Essas pesquisas objetivavam adaptar o motor ao uso do etanol. Em 1975, Ernesto Stumpf apresentou os resultados a Geisel, que criou o Proálcool. No ano seguinte, experiências foram feitas em diferentes modelos de carros, inclusive com um Gurgel, que chegou a direcionar na década de 1980 os investimentos a um modelo elétrico. Em 1980 a Fiat produziu o primeiro carro popular a etanol. E esse é um dado interessante: em 1979/1980, o governo teve dois modelos à sua frente, o carro a etanol e o carro elétrico. O carro elétrico da empresa brasileira foi preterido pelo carro a etanol produzido em larga escala pelos complexos industriais-financeiros transnacionais.
Precisava-se de algumas regiões para a produção de cana. Em virtude de a região de Ribeirão Preto nunca ter abandonado a produção de cana, tinha até então iniciado uma lenta substituição do café por cana, possuía proximidade com as montadoras e muitos latifúndios improdutivos após o declínio do café, transformou-se em objeto de intervenção e financiamento federal e estadual. A região que estava estagnada a uma posição secundarizada, restrita à produção de matérias-primas de pouca relevância para a balança comercial, ao contrário do café até a década de 1930, passado considerado glorioso por sua elite, passaria do dia para a noite a ser a Califórnia Brasileira. A cidade se viu reinserida no cenário político e econômico nacional.
Mas, assim como no ciclo do café parte da vantagem do Novo Oeste (Ribeirão Preto e adjacências) não estava no mito da fertilidade do solo (a terra roxa), o mesmo valia para o ciclo do etanol. Da mesma forma como se utilizou em larga escala a mão de obra escravizada para a produção de café, em que a província de São Paulo foi a última a abandoná-la e a aceitar a abolição, no ciclo do etanol o capital utilizou basicamente de mão de obra negra e nordestina garantida por um regime de escravização por dívidas dirigido por organizações que hoje chamaríamos de milícias (paramilitares), retomando o mito do coronel em plena década de 1980.
A ditadura foi a grande parceira nesse processo de reescravização, uma vez que greves, entidades sindicais, denúncias e afins estavam proibidas.[i] Criou-se o sistema de gato, uma espécie de terceirização militarizada na qual uma pessoa ficava responsável pelo recrutamento de trabalhadores (normalmente do Nordeste por meio do sistema de dívida) ao usineiro. Muitos desses gatos tornaram-se honoráveis empresários, homenageados pelas Associações Comerciais e Industriais das cidades da região. Os usineiros, os reais apropriadores da mais-valia e do lucro (do valor e do lucro), em “heróis”, como Lula paz e amor certa vez lhes referiu.
A exploração se dava sobre marcos simples. Cidades da região foram transformadas em cidades-dormitórios. Esses trabalhadores eram jogados nessas cidades em condições sub-humanas, sem saneamento básico, comida e água potável. Dali eram recolhidos pelos gatos. Mas eles podiam se recusar? Não, tinham que pagar a dívida, que se avolumava com a dívida dos mercados que faziam “parceria” com os gatos. Alguns donos desses mercados, filhos de imigrantes italianos, transformaram-se em respeitados donos de grandes redes de supermercado. Restava-lhes entrar nas caçambas das caminhonetes e caminhões (paus-de-arara) com as suas marmitas (boia fria), as quais eram divididas no eito da cana com os que não possuíam marmita, e trabalharem entre 10 e 14 horas para fazer a cota mínima.
Com a palha crua o trabalho rendia, com muito esforço, no máximo quatro toneladas, abaixo da meta de 6 a 12 toneladas. Por isso, a queimada se tornou em alternativa técnica para aumentar a produtividade. Não obstante, a queimada gerava problemas respiratórios nos trabalhadores e nas populações, fazendo com que muitos trabalhadores morressem por exaustão (devidamente laudados, apesar da larga subnotificação) e adquirissem doenças e comorbidades que atenuaram as suas vidas.
Em 1984 saiu uma determinação dos usineiros, os “heróis”. Os cortadores não deveriam cortar e empilhar cinco ruas, mas sete (aumento de 40%). Premidos pela fome, pela ausência de saneamento básico e água potável, pelas dívidas, pelos grupos paramilitares dos gatos e usineiros, os trabalhadores iniciavam um movimento que ficou conhecido como a Greve de Guariba. Também conhecido como o Levante de Guariba, a greve fechou a cidade exigindo o retorno às cinco ruas, fim das dívidas e condições melhores de vida, como alimentação e roupas adequadas para o corte da cana.
Os usineiros pressionaram o governo estadual e o “democrata” Franco Montoro enviou uma tropa de choque à cidade. A violência foi acompanhada de saques aos mercados pertencentes aos gatos, o que aumentou a violência policial, registrada em cenas de perseguição e espancamentos dentro das casas dos trabalhadores rurais. Apenas uma morte foi confirmada, a de Amaral Vaz de Melone, com um tiro na cabeça à queima roupa (execução da polícia), embora ainda hoje organizações sociais e os trabalhadores denunciem uma quantidade muito maior, como indica o número de baleados que sobreviveram e de pessoas que “desapareceram”.
Mesmo Montoro sendo da oposição formal, a pauta dos usineiros era cara tanto à oposição liberal quanto à ditadura. O programa sobre o etanol somente pôde ser sustentado por meio da superexploração de trabalhadores negros e nordestinos em um sistema de escravização moderna e pela repressão militar e paramilitar. Em suma, nesse ponto o MDB e a Arena tinham pleno acordo. É a sina dos liberais, a qual veremos mais à frente. A economia sempre os unifica com os conservadores e fascistas. E quem janta com fascista, fascista é.

Mesmo com a violência, a greve de Guariba foi vitoriosa. Conseguiu a extensão de alguns direitos dos trabalhadores urbanos para os trabalhadores rurais. A greve é um dos maiores pontos de inflexão da história recente dos trabalhadores brasileiros: a entrada dos direitos trabalhistas no campo após a blitz jurídica do capital sobre o trabalho na ditadura civil-militar. A introdução da legislação trabalhista reconfigurou a forma pela qual se formava o valor do etanol, pois cabia ao usineiro despender mais capital variável (salários e seus custos e investimentos sociais). Essa reconfiguração foi aprofundada quando da promulgação da Constituição Federal, que deu poderes efetivos ao Ministério Público do Trabalho e à fiscalização.
A contabilidade do capital sobre o trabalho no campo
A greve, como antítese do avanço do capital sobre o trabalho, permitiu uma nova recomposição do capital, da relação entre capital constante, capital variável e mais-valia.[ii] Assim como Marx discorreu sobre as recomposições inglesas, da acumulação primitiva à grande indústria, notadamente quando da introdução das leis fabris, em que a mais-valia absoluta foi cedendo espaço para a mais-valia relativa, algo semelhante aconteceu na indústria sucroalcooleira. Como na acumulação inglesa, em que as legislações fabris de 1833, 1844, 1847 e 1850 foram fundamentais para o predomínio do maquinário no capital global (grande indústria e sistema autônomo de máquinas), uma vez que a limitação da jornada de trabalho foi um dos fatores desencadeadores para a introdução de maquinário com vistas ao aumento da produtividade, a legislação trabalhista rural foi determinante para uma reconfiguração lenta mas constante do capital global do setor industrial sucroalcooleiro. Tal limitação fez explodir o setor de maquinários e caldeiraria em Sertãozinho (região de Ribeirão Preto) no fim da década de 1990 e, sobretudo, a partir de 2000.
A greve de Guariba foi fator político-econômico determinante para o aumento vertiginoso da indústria sucroalcooleira, não somente na questão da usinagem, mas sobretudo na colheita, em que maquinários passaram a ser comprados e produzidos para recompor a taxa de mais-valia do trabalhador na usina à luz das limitações físicas e legais sobre o cortador do corte de cana – o aumento do capital constante em todo o processo de produção exige o barateamento a médio prazo do próprio capital constante, como uma causa contrariante da queda tendencial da taxa de lucro.
Portanto, assim como não é possível pensar o setor sem a Guerra do Yom Kippur e o choque do petróleo, também não é possível pensá-lo sem a greve de Guariba. A exclusão da importância da greve nada mais é do que uma escolha da classe dominante com o objetivo de construir uma narrativa positiva e heroica sobre si. Escravizaram, torturaram, mataram e jogaram milhares de trabalhadores na extrema pobreza com problemas crônicos de saúde. Essa é a história vitoriosa do etanol.
Não obstante, outro questionamento passou a entrar na contabilidade dos grandes capitais do setor: quando os trabalhadores rurais do corte da cana seriam substituídos por um trabalhador em uma colheitadeira. A contabilidade era simples. Se C = c + v + m, a substituição se daria quando o valor do trabalhador com o maquinário fosse melhor (menor) do que o valor global dos trabalhadores manuais para uma dada quantidade. Em suma, quando o trabalhador com maquinário, levando em consideração a transferência de valor, desgaste, manutenção e reposição conseguisse substituir 100 trabalhadores com o facão e demais pequenos custos adjacentes, para produzir a mesma quantidade de mercadoria, a substituição seria viável.
O uso e o valor da máquina são mensurados pela diferença entre o valor da máquina e o valor da força de trabalho substituído por ela. Se o valor da máquina for maior do que o valor da força de trabalho substituído, não compensa o uso da máquina, e vice-versa. Logo, o trabalho para a produção da máquina tem que custar menos do que o montante de trabalho substituído, pois há transferência para o valor da mercadoria. Os custos menores resultariam em um valor menor da mercadoria com maior taxa de lucro, pois a transferência de valores do capital constante sobre o valor da mercadoria seria menor.
Mas é preciso ponderar que, para o usineiro, o trabalhador rural e o processo de corte são apenas custos. A indústria está na usina. Para o usineiro, o corte é parte da matéria-prima, um elemento do capital constante. Assim, se será escravidão ou não depende basicamente da análise entre os custos contábeis e os custos sociais, que vão da permissibilidade do Poder Público à naturalização ideológica da superexploração. O cálculo central depende basicamente da capacidade da nova tecnologia ser mais barata e rentável do que 100 trabalhadores rurais.
A razão administrativa leva o usineiro a ser uma espécie de colonizador inglês na Índia no século XIX. Como é matéria-prima, deve ser sempre mais barata, pois o barateamento da matéria-prima é um elemento propulsor do aumento da taxa de lucro na usina, uma vez que é uma causa contrariante de sua queda tendencial justamente pelo aumento do capital constante sobre o capital global. E assim como o colonizador pouca se importa com a degradação ambiental, o usineiro não só não se importa como cria uma realidade paralela em condomínios isolados de segurança máxima para fugir de possíveis efeitos ambientais e sociais adversos.
Simplifiquemos ao máximo as contas, que aqui são apenas estimativas para fins de entendimento. A mais-valia foi incluída, apesar de ser questionável. Mas como parte da mais-valia produzida na usina é transferida para o arrendatário fundiário e às “empresas” (gatos), é plausível que esteja na nossa contabilidade por três motivos: (a) há mais-valia no sentido da transferência, como abordado por Marx no Livro III de O capital, devendo o leitor enxergar essa mais-valia como transferência do usineiro ao arrendatário e ao gato; (b) torna-se possível analisar o impacto da produtividade sobre o maquinário e o valor, embora se tenha procurado evitar qualquer mudança entre os diferentes esquemas; (c) como o modelo é clássico, ajuda a quem tem familiaridade a compreender melhor.
C = c + v + m
I = trabalhadores manuais (100)
II = trabalhador com colheitadeira
I = 1 + 100 + 100 = 201
II = 100 + 5 + 100 = 205
Nesse esquema, é possível constatar que o I, 100 trabalhadores manuais, é mais rentável, pois possui custo menor para o usineiro do que o II. O II possui uma mais-valia (m/v) de 2.000%, enquanto os trabalhadores manuais apenas de 100%. Entretanto, se se calculasse a taxa de lucro (m/c+v) – mediado pela transferência –, ela seria de 99% para o I e 95% para o II. O maquinário não resulta em uma taxa de lucro maior, caso fosse um setor gerador de mais-valia. Para o gato ou para a fração burguesa dos meios de produção (maquinário), essa conta teria relevância para uma negociação contratual, mas para o usineiro, aquele que detém o poder da negociação, o que interessa é o valor total e a diferença de 4 em favor de I, que se sobredetermina enquanto força produtiva mais efetiva.
O baixo custo sobre o trabalho impõe uma lógica com custos sociais que são transferidos ao Poder Público e às pessoas (capital monetário individual), como a pobreza, os problemas respiratórios e a queimada. A fração de produção de máquinas da burguesia em II procurará baratear o c (capital constante) para o usineiro como medida para ganho de mercado ou de sobrevivência. Um barateamento em virtude de melhoras na produção do maquinário ou barateamento da matéria-prima do maquinário, como o valor do ferro e da borracha (pode ser com trabalho escravizado e degradação ambiental), significa uma diminuição do valor do maquinário.
I = 1 + 100 + 100 = 201
II = 96 + 5 + 100 = 201
A taxa de lucro e o valor em II seriam os mesmos em I. Contudo, isso não significa que a burguesia de II conseguiria realizar a sua mercadoria, pois para o usineiro, que enxerga esse processo como custos e falsos custos, o que importa é o valor total mais os custos sociais. Fatores como legislação ambiental branda, ausência de fiscalização trabalhista e de sindicatos, e repercussão social para o Poder Público local sobre uma mudança produtiva brusca, como aumento de desempregados, entram na contabilidade. Além do mais, os investimentos iniciais são sempre maiores até a estabilização produtiva. A fração da burguesia de II precisará de mais.
Em conjunto com o câmbio, ela até fez mais, mas inegavelmente o avanço da fiscalização e o fortalecimento da legislação trabalhista na região também o fizeram. Em um determinado momento, maquinários mais produtivos e baratos com o avanço da legislação e da fiscalização trabalhistas promoveram a ascensão de II no setor. É provável e plausível que I tenha aumento o valor e II diminuído de forma concomitante. Na década de 2000, quando os usineiros foram alçados a “heróis”, a substituição foi feita com baixa repercussão social, uma vez que o setor imobiliário incorporou parte significativa dos trabalhadores do corte da cana na região de Ribeirão Preto.
O crescimento imobiliário se prolongou como consequência do Programa Minha casa, minha vida e na esteira da construção desenfreada de grandes condomínios na zona sul da cidade, direcionados pela construção de um shopping center na década de 1980, o que demonstra algum planejamento de longo prazo da classe dominante regional. Em 2013, a cidade de aproximadamente 700 mil habitantes já possuía 160 condomínios horizontais e 580 condomínios verticais. Em 2001, o valor do metro quadrado na Avenida João Fiúsa era de R$ 137; em 2013, estava sendo vendida por R$ 2.558,91.[iii][iv]
Para exemplificar esse momento, pode-se estabelecer uma média de crescimento de capital variável (v) em 50% sobre a mesma quantidade de força trabalho para I simultaneamente a uma diminuição de 20% sobre o valor original do capital constante (100) e um aumento de 50% do capital variável em II ao longo de duas décadas em virtude da própria legislação trabalhista, que valeu tanto para o trabalhador de I quanto para o de II:
I = 1 + 150 + 100 = 251
II = 80 + 7,5 + 100 = 187,5
Essa situação obrigaria o “empresário” de I (gato) a se voltar a formas mais brutais de exploração e/ou se desfazer de parte sua mais-valia transferida. Mas o avanço das normas constitucionais no campo e da fiscalização foi um problema incontornável. Como resposta e medida de sobrevivência, “gatos” cumpririam a mesma função na construção civil na cidade de Ribeirão Preto, que passou a ser alvo de operações do Ministério Público do Trabalho.
A substituição ocorreu definitivamente quando o valor do C (c + v) de II passou a ser mais rentável – por ser menor – do que o de I, uma vez que m é, na prática, transferência do usineiro, onde possui grande poder de negociação. Se não acontecesse tal inversão, a substituição não ocorreria. O céu de brigadeiro estava reluzente e o voo era sempre tranquilo. Com incentivos governamentais, as feiras tecnológicas pulularam – junto com o “sertanejo universitário –, com destaque para a Agrishow em Ribeirão Preto, a maior feira de tecnologia agrária do país.
Segundo os usineiros, as nuvens se iniciaram para o setor com a descoberta do pré-sal, que fez com que os investimentos públicos e, principalmente privados, fossem direcionados à cadeia produtiva do petróleo, uma das grandes ganhadoras junto com a soja e o minério de ferro do ciclo de crescimento entre 2001 e 2011. A tempestade se formou com a diminuição dos investimentos em maquinário, fazendo com que a indústria sucroalcooleira instalada em Sertãozinho registrasse desemprego incrivelmente maior do que as cidades da região. Em 2015, das 40 mil carteiras assinadas na cidade, 22 mil eram do setor. Em 2014 e 2015, a cidade queimou 3.516 postos de trabalho, sendo 2.390 do setor industrial. O dado é gritante, pois a cidade não tem mais do que 120 mil habitantes. Em dados absolutos, a desemprego foi maior do que na cidade de Ribeirão Preto, com 700 mil habitantes. Estima-se que, desde 2010, algo em torno de 8.000 postos de trabalho na indústria na cidade tenham sido destruídos.
Lógico que a questão não se deve apenas ao pré-sal, normalmente uma explicação dada pelos próprios usineiros para garantir algumas regalias creditícia e fiscal, mas, sobretudo, à crise econômica após 2012. A primeira década deste século coincidiu com uma alta internacional dos preços das commodities. Essa alta se deveu ao impressionante crescimento chinês, que passou a gerir uma política externa mais agressiva para o estabelecimento de acordos comerciais. Grabois e Consenza (2019)[v] analisam aspectos desse período a partir da perspectiva dos ciclos econômicos, concluindo que o crescimento da economia brasileira, notadamente após a crise imobiliária norte-americana de 2008, não foi acompanhada por “um aumento da capacidade de acumulação de capital local”. Esse descompasso entre produção de matérias-primas e produção industrial fez com que muitos autores acreditassem em um crescimento econômico baseado quase que exclusivamente no consumo e nos serviços, a famigerada sociedade “pós-industrial” (GRABOIS; CONSENZA, 2019, p. 101).
A despeito da crença da relação entre consumo e crescimento, quando se analisa os dados arrolados pelos autores, sobretudo os investimentos industriais com a exportação e a importação, constata-se que a reprodução de capitais brasileiros se reorganizou para o atendimento da demanda externa por matérias-primas, especialmente a chinesa, que nesta década se tornou a principal parceira comercial. Ferro, soja e o petróleo foram os produtos que se sobressaíram na balança comercial.
Deve-se fazer três considerações sobre essa década: (a) as três commodities são sensíveis à precificação internacional, ou seja, o país influencia pouco na precificação, a despeito do valor para a produção da mercadoria; (b) está a se abordar indústria extrativista, e não indústria de transformação; (c) aumento da disparidade nas exportações entre commodities e o produto, como minério de ferro e máquinas/carros, por exemplo. A exportação de matérias-primas passou a ser até quatro vezes maior do que a da indústria de transformação, o que revela não somente um processo de desnacionalização industrial, mas de desindustrialização: “Trata-se de um país cuja criação de riqueza reside na exploração dos setores primários. Durante o ciclo analisado (2001-2011), a oportunidade de desenvolvimento foi parcialmente perdida quando a transferência da renda do campo foi deslocada em favor de setores extrativos, ao invés de se direcionar para a indústria de transformação. Parte disso se expressa na baixa taxa de investimento” (GRABOIS;CONSENZA, 2019, p. 103-104).
Os altos preços das commodities entre 2001 e 2011 sustentaram o crescimento econômico e, em tese, abriram possibilidades de investimentos para a indústria de transformação. Mas, ao contrário dos países que conseguiram realizar esse processo durante o século XX, em que o Estado foi o responsável pela articulação, indução e gerenciamento dos investimentos, no Brasil a tarefa coube quase que exclusivamente aos capitais privados, cujos empresários empreendedores estavam mais interessados na realização do lucro do que em “fazer investimentos em longo prazo” (GRABOIS; CONSENZA, 2019, p. 104). Em uma estrutura econômica baseada no rentismo e na ausência de tributação dos investimentos de risco e de curto prazo (lucros e dividendos), e na forma como a produção está financeirizada pela atuação dos bancos, do papel que o endividamento público cumpre na acumulação de capitais dos bancos e dos fundos de investimentos e de pensão, dificilmente o resultado seria diferente.
Os empresários do etanol criam dificuldade para o entendimento do processo, restando-lhes culpar o pré-sal. Mas essa criação de dificuldades consiste também em uma etapa necessária para a venda de facilidades. O fato é que o etanol possui baixo apelo internacional. Os Estados-nação em que o etanol poderia colar com o apelo ambiental da energia renovável está seguindo a linha da Gurgel para a substituição do combustível fóssil, o carro elétrico, sem abandonar o petróleo e as suas guerras, lógico, como prova Emmanuel Macron na Líbia, que passou a apoiar o Marechal Khalifa Haftar para ter acesso aos campos líbios, mesmo que o presidente reconhecido pela ONU seja outro.
Ou mesmo a iniciativa norte-americana de boicotar o North Stream 2, chegando Biden a afirmar, em entrevista ao lado do chanceler alemão, que os EUA não permitiriam o gás russo na Alemanha. Portanto, o petróleo foi estruturado na economia brasileira não a partir do pré-sal, mas a partir de sua relação entre produção/exportação em um período de alta de preços internacionais. Logo, a política de preços desde o governo Temer/Parente é uma profunda radicalização dessa relação, o que foi seguida por Bolsonaro/Guedes em evidente favorecimento dos acionistas, que lucram com a diferença entre o baixo custo da extração, a criminosa importação de gasolina e diesel, a privatização das refinarias e a alta do preço do petróleo, agora definitivamente amparado pelo preço internacional.
Para sanar todo os riscos do setor, os usineiros impõem um tabelamento sobre a gasolina em torno de 70%, o que significa atrelar o preço do álcool ao dólar, assim como ocorre com a atual política de preços da Petrobrás. Na prática, o álcool segue o mesmo caminho do diesel e da gasolina, sendo incrivelmente uma commodities dolarizada sem qualquer apelo internacional. Isso sim é uma grande jabuticaba – a venda de facilidades.
A reforma trabalhista produz degradação ambiental
Desde 2012, setores do agronegócio assumiram protagonismo ímpar, pois não podiam mais ser ignorados diante da relevância que as commodities assumiram para a economia brasileira, ainda mais em contexto de crise. A atuação política desses setores, em conjunto com outros, resultaria no golpe contra Dilma Rousseff e na eleição de Bolsonaro. A economia brasileira tornou-se extremamente dependente da economia internacional, uma vez que as principais mercadorias para a exportação são sensíveis à precificação internacional. Essa dependência se sobredetermina no PIB e nas normas constitucionais e jurídico-políticas, como se evidenciou no crime ambiental da Vale em Mariana e Brumadinho, no último influenciando negativamente o PIB nacional em 0,2% em função paralisação de algumas atividades extrativistas em outras barragens por ordens judiciais. Criou-se uma contraofensiva governamental suprapartidária para a continuidade das atividades da empresa. A questão humanitária-ambiental transformou-se em um grande espantalho sorridente: não assusta mais os abutres e urubus do mercado.
Mas foi no ano de 2017 que houve uma das maiores contrarreformas ambientais da história do Brasil: a Reforma Trabalhista. Essa reforma regressiva tornou tudo pior, em todos os sentidos. A reforma reconfigurou o valor da força de trabalho para patamares extremamente baixos, permitindo-se quase todas as formas de contratação outrora utilizadas pelos usineiros, como o intermitente, por tempo determinado, por peça (no caso, peso) ou por pejotização. O que era I = 1 + 150 + 100 = 251 e II = 80 + 7,5 + 100 = 187,5 passou a ter a tendência de ser algo aproximado ao esquema abaixo:
I = 1 + 80 + 100 = 181
II = 80 + 4 + 100 = 184
Como a mais-valia aqui é inexistente para o usineiro, o capitalista industrial, podendo agora eliminar o gato, o que resta é:
I = 1 + 80 = 81
II = 80 + 5 = 85
E como burguês segue a racionalidade do capital, e não uma ordem de valores, o I, os trabalhadores manuais com a queimada, tornam-se viáveis novamente. Na prática, a contabilidade capitalista revela que nem toda “inovação” serve. Há de se analisar a proporção do C em relação a taxa de mais-valia e a taxa de lucro, a relação entre a dimensão absoluta e relativa dos componentes do valor e as diferenças na composição orgânica dos capitais e em seus períodos de rotação. Em suma, a dita modernização da legislação trabalhista, como diz Roberto Barroso em seu voto no julgamento sobre a Reforma Trabalhista, consiste inexoravelmente em aumento da degradação ambiental. Logo, o barateamento da força de trabalho é o fundamento para o desmonte das políticas ambientais.
O retorno da queimada decorre da introdução da reforma trabalhista no campo em oposição à proteção ao trabalho, no qual o barateamento da força de trabalho foi de tal monta que, diante dos custos do capital constante e do baixo índice do mesmo em I, tornou-se altamente compensador o retorno do trabalhador rural nos moldes da década de 1980.[vi]
Nesse sentido, setores do agronegócio foram bastante argutos em colocar Ricardo Salles para o Ministério do Meio Ambiente, pois foi responsável por desmontar todo o aparato de fiscalização de queimadas e desmatamento. Sem as limitações trabalhistas e penais, a legislação ambiental propriamente dita torna-se o último estorvo; porém, é preciso entender que, sem a flexibilização e a legalização de formas de trabalho que já haviam sido superadas em certos setores do agronegócio, o avanço sobre o meio ambiente seria mais impeditivo, a depender do tamanho do capital.
A Amazônia, por seu turno, só pode ser ocupada por esse tipo de trabalho. Por ora, não é possível explorar a Amazônia por meio de maquinários e da construção de grandes complexos logísticos sobre os meios de produção. Resta apenas a exploração extensiva, tanto sobre a força de trabalho quanto sobre o tamanho da propriedade, ainda balizadas na produtividade média das propriedades que se baseiam em aplicação tecnológica sobre a produção, uma vez que a produtividade por trabalhador em exploração extensiva é menor.
Os fundos de investimentos internacionais que bradam por rigor contra as queimadas na Amazônia são favoráveis a todas as reformas do capital sobre o trabalho, como o Partido Novo e a sua caricatura, Amoedo, que supostamente divergia de Salles pelos longos dois anos em que foi do partido. Mas como não ver essa relação? A cegueira tem uma pontinha de intencionalidade, sem dúvida, pois faz parte da mistificação da pauta ambiental pelos capitais, em que seria possível construir políticas ambientais fortes com legislação trabalhista fraca (sic!). A pauta ambiental se transforma em uma pauta meramente moralista, da qual os fundos admitem uma certa degradação, desde que seja compatível com os seus capitais e a moralidade construída por suas propagandas.
Por um lado, há um governo neofascista que claramente procura legalizar as atividades ilegais, sobretudo em terras indígenas, ou ao menos legitimá-las pela falta de fiscalização; por outro, há um conjunto de empresários brasileiros que se dizem preocupados com a repercussão dos negócios para a exportação – essa é a única preocupação. Boa parte desses empresários é ligada acionariamente a complexos industriais-financeiros mundializados que oferecem essa carteira de investimentos a burgueses e classes médias de países centrais com algum sentimento de culpa psicanalítica cristalizada na árvore e em algum povo nativo que aprendeu a amar como “bom selvagem”.
Essa orbe de empresários é favorável a todas as reformas do capital sobre o trabalho aplicadas pelo governo, inclusive aquelas em meio à pandemia. Seria hipocrisia? Sim! Mas não somente. Há também uma limitação cognitiva que expressa o entendimento da própria fração de classe e do caráter do seu investimento. A fração pensa em seus lucros imediatos por meio das reformas do capital sobre o trabalho.
Se por um lado a burguesia que produz maquinário apoia a reforma trabalhista, por outro a burguesia que depende de seu maquinário se vê tentada a não mais comprá-la porque descobre contabilmente que a exploração extensiva sai mais em conta. Com a desestruturação da fiscalização ambiental, a reforma no campo está completa. Em outras palavras, se vê tentada a não mais explorar a força de trabalho por meio da produtividade (intensivo), mas por meio do prolongamento da jornada de trabalho e do aumento territorial da propriedade, que pode se dar por metas (ruas), trabalho análogo à escravidão e, obviamente, com queimadas e desmatamento.
Nessa estrutura produtiva-rentista, as rendas de capital bancário (fundos de investimentos e fundos de pensão) são fortes indutoras para o desinvestimento industrial e a desindustrialização das cadeias produtivas, como ocorre com o setor sucroalcooleiro. A reforma trabalhista é um forte indutor para a diminuição da produtividade, que passará a ser cada vez substituída pela exploração extensiva sobre a terra. Daí o desmatamento e as queimadas acima das médias. Bolsonaro e Salles apenas expressam o apetite dos capitais sobre o campo.
Mas isso não geraria empregos, como foi prometido pelos economistas do Insper e da Fundação Getúlio Vargas? Afinal, um trabalhador seria substituído por 100. Não, não geraria, como não gerou – não se pode colocar na conta da pandemia e da falta de reformas, pois quase todas as reformas prometidas foram aprovadas. O fato é que esses 100 trabalhadores do corte de cana de fato voltariam e uns tantos, provavelmente próxima a centena, seriam demitidos em setores do outro departamento produtivo, o dos meios de produção, como se evidenciou em Sertãozinho. Contabiliza-se os precarizados que mantiveram o trabalho, com evidente diminuição de renda. O emprego no corte gera desemprego em determinados setores da indústria, nesse caso.[vii]
A reforma trabalhista cria trabalho degradante e substitui/transforma trabalho qualificado por trabalho precarizado, como demonstram as PNADs contínuas do IBGE e os relatórios sobre trabalho desde 2018. Da mesma forma que o desemprego na indústria decorre da própria precarização, a degradação ambiental decorre em grande parte da superexploração do capital sobre o trabalhador, da precarização do trabalho, da concentração de renda e do aumento da miséria e da pobreza. Qualquer diminuição do valor da reprodução social incide, necessariamente, em indução para práticas predatórias sobre o meio ambiente.
Da mesma forma que a Amazônia, a região de Ribeirão Preto assistiu ao retorno das queimadas em julho de 2020, em meio à uma pandemia cujo principal sintoma é a síndrome respiratória aguda. Portanto, hoje a queimada é estrutural. É muito provável que tenha voltado para ficar. A queimada foi liberada por Bolsonaro em 2019 por 60 dias. Em novembro do mesmo ano assinou decreto que facilitava o zoneamento das áreas para o plantio de cana, retirando na prática os estudos de impacto.
Esse decreto permite o cultivo da cana em áreas acidentadas ou em até morros, como em Alagoas, reduto de Arthur Lira, e Pernambuco, reduto de Fernando Bezerra, o que impede, de forma definitiva, a utilização de maquinários; na prática, o corte apenas poderá ser feito manualmente com a queimada, pois não há colheitadeiras futuristas que fazem as vezes de uma aranha. Portanto, o trabalho precarizado é a premissa. O lobby para a liberação da queimada e do avanço da precarização do trabalho sobre o alargamento da propriedade é a outra.
Essas medidas apontam para uma tendência. Cada vez mais a desregulamentação de todos os elementos da produção, do trabalho ao meio ambiente, será o ponto nodal da exploração do capital no campo. Quilombolas, povos indígenas, ribeirinhos, rios, mananciais, nascentes, flora, animais, biomas e reservas ambientais serão cada vez mais detalhes de uma planilha de Excel. Como diria Roberto Barroso, o iluminista, é a “modernização”. Para os esfomeados, resulta em uma “modernização” que gera regressão tecnológica, miséria e destruição do meio ambiente. Mas quem somos nós para falar com os iluministas? Reles plebeus.
*Leonardo Sacramento é professor de educação básica e pedagogo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Autor do livro A universidade mercantil: um estudo sobre a universidade pública e o capital privado (Appris).
Notas
[i] A região foi se formando seguindo a lógica da divisão do trabalho e da racialização. O exemplo mais explícito é o de Sertãozinho e Pontal. No início do século eram dois povoados na mesma cidade. Com o tempo, os imigrantes italianos que trabalhavam em funções especializadas no Engenho Central fundaram algumas empresas que seriam as grandes indústrias do setor sucroalcooleiro. Os negros, que eram direcionados ao corte e ao despela porco, uma esteira que eram obrigados a ficar embaixo para retirar o bagaço da moenda enquanto água quente era jogada sobre a esteira, passaram a morar predominantemente em Pontal. Esse dado é trabalhado por historiadores e educadores do Museu da Cana, o antigo Engenho Central. As informações foram compiladas por Clark dos Santos Alves. Da mesma forma como o caso descrito, algumas cidades da região foram transformadas em habitáveis e outras em dormitórios.
[ii] Grosso modo, capital constante é a parte do capital que se converte em meios de produção, como matérias-primas, energia, maquinário e instrumentos de trabalho; capital variável é a parte do capital convertida em força de trabalho que reproduz o seu equivalente e produz um excedente, portanto, o salário ou a forma pela qual o trabalhador reproduz socialmente a sua vida. Esta, porém, reproduz o seu próprio equivalente e um “excedente, uma mais-valia que ela mesma pode variar” (MARX, 1983, p. 171). In: MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
[iii] Informação retirada de Figueira (2013, p. 6). In: FIGUEIRA, Tania Maria Bulhões. Produção social da cidade contemporânea: análise dos condomínios urbanísticos e loteamentos fechados de alto padrão do subsetor sul de Ribeirão Preto (SP). Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2013.
[iv] Como expressão do reducionismo cognitivo da elite que mora nesse metro quadro, um vereador chegou a propor a criação de uma zona que se chamaria Copacabana Ribeirão, em que uma parte seria fechada para caminhadas sobre um piso com o estilo estético do famoso calçadão carioca.
[v] In: GRABOIS, Igor; CONSENZA, Apoena Canuto. Crescimento dependente: aspectos do ciclo de crescimento econômico brasileiro entre 2001 e 2011. Revista de Economia Política e História Econômica, n. 41, janeiro de 2019.
[vi] Trabalho em Sertãozinho e moro em Ribeirão Preto. Há dois anos, foi instalado um pedágio para motos entre as cidades. Desde então, trabalhadores que se transportam por moto passaram a se aventurar nas estradas de terra entre treminhões e tratores, inclusive o que escreve esse texto. É perceptível a queimada e a utilização de trabalhadores com o corte manual em terrenos planos, uma vez que os trabalhadores manuais eram alocados apenas em terrenos acidentados, onde a máquina encontrava dificuldade.
[vii] Essa substituição só é possível em função da formação segmentada da classe trabalhadora, que é racializada. Se por um lado o racismo cumpre o papel de diminuir a concorrência para os trabalhadores com maior renda, por outro impede a valorização da força de trabalho a longo prazo, uma vez que um segmento social da classe está miserabilizada. É a função econômica do racismo.