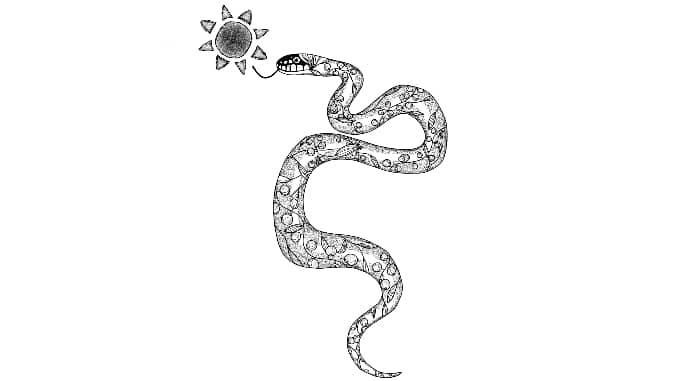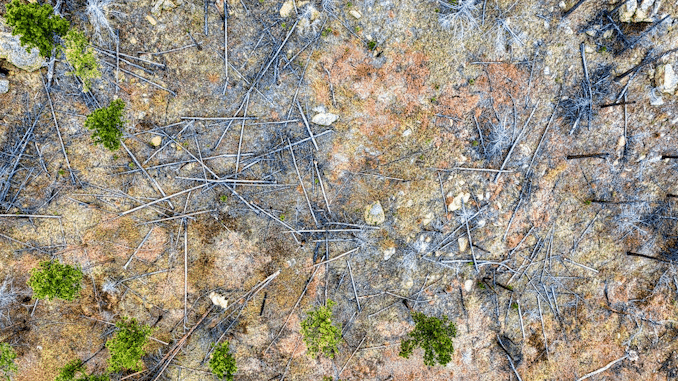Por FLÁVIO R. KOTHE*
Não querer (re)conhecer boas obras na América do Sul não deveria fazer com que a única contrapartida seja querer impor como excelente o que é mediano ou medíocre
1.
Quando não se enxergam os limites de um pensador, não se consegue sequer entender o que ele produziu nem discernir o horizonte por ele delineado. Quem não consegue entender os limites também não consegue ir além deles. O discípulo, ao fazer tergiversações em torno de dogmas que ele captou no mestre, não consegue reverenciar o mestre, produzindo algo que esteja à altura dele. Isso nada tem a ver com o respeito e o carinho que se deve a professores que mereceram serem honrados e benquistos.
Professores têm sido alvos de ataques da extrema-direita, mas também sido alvos de professores. A reverência a um mestre serve para exigir que sejam reverenciados os discípulos e discriminados, excluídos, aqueles que não foram ou não são considerados fiéis o bastante. As limitações do mestre não se tornam evidentes porque não se permite que ocupe aí um espaço quem poderia propor alternativas teóricas.
Não se precisaria fazer esse jogo, mas ele é antes uma guerra que um jogo. Será que a formação que se tem num país colonizado e dependente não leva, todavia, à reverência que nada mais questiona e, assim, não presta um serviço ao país?
A catequética que foi incorporada ao cânone colonial luso-brasileiro não pretendia ser ficção, e sim verdade absoluta sobre o “universo” e a “história”. Sua metamorfose em literatura vai contra a intenção dos autores (que não pretendiam fazer “ficção” ao falar em Deus, pois achavam que era a mais profunda realidade o que diziam) e o que hoje se costuma entender por literatura (da qual se exclui o sermonário e a catequética rimada); se não fosse o pendor ideológico, obrigaria a retirá-la do cânone literário, o que não impediria que, após tirá-la, se deslinde um Anchieta e um Vieira como ficcionistas a contragosto, na medida em que propagavam a ficção do divino.
O púlpito é totalitário. A posição do padre que prega do alto, entre o céu e a terra, como mensageiro de Deus, sem que ninguém possa discutir ou pôr em dúvida a sua palavra, é totalitária pela arquitetura e pelo temor reverencial do público, os fiéis acham que dependem da Igreja para salvar a alma e ir ao céu. Essa arquitetura foi transposta para a literatura em forma de cânone. Este se impõe de modo absoluto, como se fosse palavra sagrada, pois pretende ser reflexo da vontade de Deus transposta para a história, segundo a interpretação que lhe é dada pelos escritores consagrados.
O púlpito da igreja tornou totalitária e contrária ao diálogo a palavra do poder, discursando de cima para baixo, com o monopólio da fala, sem admitir perguntas nem réplicas: ao fazer crer que era sagrada, foi vista como melhor enquanto fazia o pior. Crer que um texto é sagrado induz a olhar momentos do passado como tendo sido a presença do divino, consagrando o texto que rememora isso, induz a uma visão reacionária, de querer fazer girar para trás a roda da história. O sermão busca a verdade absoluta num suposto testemunho de algo pretérito, fake oldies em forma de milagres e palavras de rasa sabedoria.
A encenação da missa e demais ritos é reacionária: rememora um momento pretérito como ideal, não percebe que ele é uma ficção, não tolera divergências na exegese: é um teatro que repete sempre a mesma peça, a repetição mecânica é vista como elevada. Algum cochicho, em meio à massa na missa, pode ser tolerado, mas, se ele for persistente a ponto de constituir um núcleo alternativo, logo será calado pelas admoestações dos vizinhos. Se necessário, o sujeito é excluído, expulso da “igreja” (o que aliás se concretizou na ditadura militar e costuma acontecer na área universitária com quem não é “da igrejinha”).
A Igreja Católica teve no Brasil cinco séculos de dominação, associada ao Estado; igrejas neopentecostais se organizaram tentando obter poder. Ambas se alçam nas costas da ignorância, que endossa fake news e não sabe que a Bíblia é “literatura”. A tensão política brasileira do século XXI reflete essa duplicidade religiosa. A saída não é optar por uma ou por outra, mas superar as duas, pela superação do infantilismo e pela libertação do pensamento. O amadurecimento das personalidades exige enfrentar dilemas internos e externos, o que tende a ser doloroso e muitos preferem manter a regressão.
É dentro desse espectro que, durante séculos, tem sido formada a inteligência brasileira. Ele é a negação da inteligência, mas determinou o modo de ser da literatura (cuja natureza íntima é, porém, formular o outro, a alternativa). A liberdade, a ciência e a arte são forçadas a começar com a exclusão à medida que se realizam como transcendência, como um ir além do horizonte estabelecido. O antissemitismo (com a expulsão dos judeus ibéricos) era corolários da versão de que os judeus seriam culpados pela morte de Cristo (“que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos”). Retirava-se aí a responsabilidade principal do governo romano, acreditando que aquilo que era contado nos Evangelhos espelhava os fatos: não se considera ter sido uma versão conveniente ao império romano quando, em 345, foi adotado o catolicismo como religião oficial do Estado.
A Bíblia, como império de um só livro (bíblia = biblos), tinha por sequela o expurgo da invenção original e autônoma. Embora fosse ficção, não se aceitava como ficção: tinha a pretensão de ser registro de fatos, documento cartorial. O resto era resto: ou era dispensável ou, para sobreviver, precisava seguir o ditado. A Bíblia é uma ficção que não se reconhece como literatura, exercício da fantasia. Ao se absolutizar sua ficção como fato verídico, passa-se a encobrir os dois. A ficção poderia tornar-se um princípio de subversão e liberdade, mas isso é inviável para o intelecto orgânico, embora seja o espaço específico da arte literária.
Gênero dominante no cânone colonial tem sido considerado a “poesia”, embora sem poemas de primeira grandeza e desconsiderando a “literatura oral”, em que a narrativa de “causos” devia preponderar. Isso se mantém até a segunda metade do século XIX, quando a prosa parece constituir um gênero dominante. Tal “poesia” como gênero facilita o distanciamento do concreto, evita os conflitos reais, a referência a eventos, tensões sociais.
A historiografia que elabora o cânone gera um princípio de equivalência paradigmática projetada no eixo sintagmático que tem a ficção interna de coesão e coerência, a propiciar o repasse do pensar senhorial como se fosse total verdade: quem está envolvido por essa estrutura (porque a reproduz em si) não é capaz de perceber suas dimensões. Está numa gaiola e crê estar solto. Como em todo o sistema de ensino, editorial e midiático se impõe a reiteração do mesmo paradigma, isso leva a crer em sua valor e verdade.
O teatro colonial não era espaço de reflexão moral da comunidade, mas tribuna de imposição da moral católica contra a “imoralidade” dos índios e negros. O diabo falava tupi-guarani. A prosa posta no cânone deixou de veicular a dor dos pobres: tinha a ótica senhorial. A página em branco era um púlpito, não um palco moral da sociedade ou um espelho em que o espírito refletisse sobre seus pressupostos, tratando de ir além da perspectiva senhorial. Propagavam-se preconceitos. Só aos poucos, em momentos de crise, alguns moralismos passaram a ser examinados, num processo ocasional, intermitente. Não houve continuidade no avanço da consciência crítica “nacional”: o que permeia a fala eventual são longos silêncios.
Num poema como “Buscando a Cristo”, de Gregório de Matos, reflete-se uma situação de sofrimento – verbalizando a imagem de Cristo crucificado e se identificando com ele –, como se repetir catequese europeia fosse reflexão sobre a dor vigente na escravidão colonial. A consagração cristã do sadomasoquismo vem de fora para dentro, da metrópole para a colônia: se Deus podia suportar a tortura, qualquer cristão deveria suportar também. Não se tolera aí uma reflexão sobre o sofrimento dos escravos ou dos aborígenes. Impunha-se a identificação com o que vinha doutrinado de fora e não com o que se vivenciava. Transferia-se para a metafísica religiosa a dor que não podia ser vista na prepotência social e familiar.
O que seria ser e valor vem aí de fora, é imposto, sem propiciar a elaboração da experiência concreta: a alienação é normal, pouco tem de um elaborar a própria vivência, com o que move as pessoas. Acaba-se sendo o que não se é e se toma por autêntico o alienado. Não se sabe mais o que se é, porque tudo foi feito para que não se soubesse. Reflete-se uma situação de sofrimento sobre a qual não se reflete, sobre a qual não há verdadeira reflexão, mas se faz de conta que a única reflexão verdadeira é a que aí se encena na imagética imposta de fora. Preenche-se com divindades um espaço para não o preencher, para enchê-lo de vazio, como se esse vazio fosse o suprassumo do valor e do ser.
Encena-se uma situação de desespero, para fazer dela consolo e esperança. Tem-se um reflexo da miséria, sem a identificação de suas causas reais: tem-se a prostração do sofrimento, sem evidenciar suas causas concretas nem a maneira efetiva de resolvê-lo. Torna-se bom sofrer, pois é divino. O real é escamoteado, e isso convém para não enfrentar o autoritarismo. Todo problema é atribuído a causas transcendentais, à vontade divina, à condição humana. Coroa-se a vida com a morte e, ao mesmo tempo, pinta-se a terra americana como um paraíso enquanto se acena para outro paraíso no post-mortem: assim se tem felicidade e salvação, sem precisar fazer nada com trabalho, mudança de mentalidade e das relações sociais.
Era conveniente para a minoria que se apropriava do labor coletivo – lucros, latifúndios, altos postos, propriedades urbanas – remeter problemas para o além, assim como era conveniente à Igreja e ao Estado que as pessoas fossem “se queixar ao bispo”. Desviar os olhos para o Além servia para não questionar os impasses do Aquém, discutir como se poderia melhorar a vida social. A própria ênfase ao social e ao além servia para não ver as precárias condições da vida num planeta cada vez mais dominado e destruído pelos humanos no Antropoceno. Subjacente estava a questão da finitude e a relação entre os estantes, aqueles que estão aí, e aquilo que eles são em sua relação com outros entes.
A literatura poderia ter servido como espaço para uma fala que não fosse dominada pelo discurso oficial do Estado, da religião, da política. Quem dominava a escrita e a literatura era, porém, a oligarquia. Não só a religião era alienação; à medida que nela se fundamentava a literatura, também esta se tornava instrumento de alienação, presente até mesmo onde não parecia estar presente. Fazia-se “literatura”, desconhecendo o cerne trágico do poético; faziam-se versos, sem chegar à grande poesia. A religião do Estado leva ao inquisitorial, que sufoca o poético. O discurso oficial sufoca o texto criativo, limita o seu espaço.
A obra de arte deixa de ser resplendor da verdade no cânone, simulando ser, no entanto, sua máxima realização. Mesmo não sendo arte, é consagrada como tal, para legitimação da oligarquia. A obra, ao não ser verdadeira, também não deveria divertir, pois serve, sobretudo, para enganar. Pode agradar, mas não é boa arte. A religião, que preconiza ter o monopólio sobre questões existenciais e ritos de passagem, inibe e anula a reflexão ao impor respostas prontas, dogmáticas: como no catecismo, usa as perguntas para impor respostas insuficientes, cujos limites não devem ser expostos. A pergunta aí não é uma pergunta. Como a exegese canonizante, a rigor nada questiona.
A literatura daí decorrente, imbuída desse espírito, acaba não tendo razão de existência, mas também não quer deixar a antítese existir. O escritor ainda precisa, então, redescobrir a sua função, numa especificidade que começa além da reprodução de paradigmas colonialistas, de desviar-se dos problemas terrenos, procurando gerar enganoso consolo no plano metafísico ou, em variante inversa, fazendo de conta que já se está no paraíso terrestre, no melhor dos mundos possíveis. A tendência dos escritores canônicos é a acomodação com o poder, o que induz ao medo escritural: não ousam colocar a fundo questões básicas do seu tempo e lugar, da existência humana.
Não se trata de exigir uma literatura filosofante, a dialogar com obras filosóficas de sucesso. Isso já foi feito. É difícil discernir a tendência subjacente à filosofia ocidental, ou seja, definir o ser como expressão da subjetividade, e esta como manifestação da vontade, e a vontade como vontade de poder. Aí se estaria, contudo, preso a uma linhagem que passaria por Nietzsche, Heidegger, Derrida. O problema precisa ser abordado de uma perspectiva que os europeus não têm conseguido expor, pois afeta a vontade de dominar, típica do colonialismo.
Os três têm razão ao aventar um paradigma subjacente à tradição filosófica, dos gregos aos nossos dias. Por provirem da perspectiva imperial, não chegam a questionar a ânsia de dominar que preside o pensamento ao dizer que as coisas são como o sujeito diz que são. Não basta, porém, falar em “vontade de poder”. As coisas nem “são”. Dizer o “ser” é paralisar o movimento permanente dos átomos.
A hermenêutica tem sido vista como explicação dos “conteúdos” textuais, para que o leitor perceba o que está lendo. A exegese canonizante se perfila nessa intenção de impor o que parece estar sendo dito. Ela é bem aceita, porque estabelece uma suposta ponte entre a margem do autor e a margem do leitor, como se estivessem reunidos mesmo leito. E estão. A “comunicação” é descobrir o que os dois têm em comum, não um avançar para algo novo, diferente.
Não se entende o que é dito num texto se não se captar boa parte daquilo que deixou de ser dito. Somente com o pano de fundo do não-dito é que se consegue captar algo da configuração do que se pretendeu dizer (e que provavelmente não era o relevante). O não-dito torna estranho o ditado do dito. Ele se mostra como deformado, irrelevante, deformante. O mais importante do texto não é dito por ele, está escondido entre suas linhas. Esse é o espaço interditado pela sacralização do texto. Começa com um livro sagrado e se completa num cânone de divindades.
O não-dito do texto tende a começar pelo que é imposto no trabalho servil, que obriga quase todos a trabalhar muito por quase nada em benefício de uma minoria, que fica para si, para seu uso privado aquilo que foi produzido pela coletividade. Um crente não admite que o seu texto sagrado esteja repleto de fakes, que nele haja manipulação de ingênuos. Ele acha que aquilo que é narrado aconteceu exatamente como é contado. Não dá um passo para trás para ver mais à distância o que é encenado. Seria profanação. No caso da exegese canônica, seria impatriótico.
Os intelectuais de países europeus que já foram metrópoles não conseguem pensar e expor claramente o fato de que, na Segunda Guerra, os americanos esperaram que os russos destruíssem grandemente o exército alemão para daí invadir a Europa e tomar a parte ocidental para si e, depois, esperar a queda da União Soviética, para daí, deixando de cumprir acordos feitos, irromper ao leste e se expandir até as fronteiras da Rússia. O heroico esforço russo na Segunda Guerra acabou gerando um problema sério para o russos: as ameaças da Guerra Fria, os avanços da OTAN após 1992 e a Guerra da Ucrânia. Na mídia brasileira não se vê a geopolítica bem examinada. Na universidade também não.
Isso parece distante no espaço e no tempo de um estudo sobre o cânone brasileiro no período imperial, mas a releitura se faz a partir do hic et nunc. Isso gera uma diferença necessária entre o horizonte dos antigos autores e dos atuais leitores. Ninguém lê o texto em si: ler é extrair o texto das linhas escritas, retirá-lo do em si. A questão hermenêutica é central no direito e na psicanálise.
Na terapia psicológica, o analista ouve a fala do “paciente” com uma atenção flutuante, que o leva a enquadrar o dito em conceitos de sua teoria de formação. Ele parece “entender” o quadro do paciente quando consegue enquadrar a fala flutuante nos conceitos. Isso não significa, porém, entender o quadro do paciente no sentido de dar um passo adiante em sua interioridade, mas procurar o denominador-comum cultural dos dois.
Num julgamento jurídico, o “mesmo fato” pode ser interpretado por óticas tão diversas que a interpretação não parece ser do mesmo fato. Nietzsche dizia, em crítica ao positivismo, que não há fatos e sim apenas interpretações, mas que também isso era uma interpretação. Parece que a subjetividade pode enxergar o que quiser segundo sua própria vontade, mas daí ela só enxerga, sem discernir, a sua própria projeção, e não o fato.
No Direito há divergências de doutrina, cada uma com seus argumentos, mas ele próprio não costuma ter a liberdade de ler o processo de uma ótica bem diversa. Ele precisa ater-se à lei e à jurisprudência, mas não pode negar validade a elas. Por dever de ofício, precisa cumprir a lei e seguir a jurisprudência firmada. Pressupõe que justiça seja a aplicação da lei. Não consegue ver na lei a manifestação da vontade do mais forte e, portanto, examinar a questão como uma disputa entre vontades. Não consegue também dar o passo adiante, que seria ver se a vontade teria ditado desde os gregos o que a filosofia considera ser o ser. O “ser” não é desconstruído como encobrimento da vontade de dominar o mundo.
Na hermenêutica das artes aparenta haver mais liberdade, mas isso é ilusão. Quem conhece o ensino universitário e os interesses que permeiam o mundo das artes sabe bem que há muita coisa que não pode ser dita e que muita coisa que não deveria ser acaba sendo dita e badalada. Não é mera questão de espaço para propor o que pareçam palpites insensatos. A sacralização da arte já cria por si um temor reverencial que inibe divergências e impede a manifestação pública do que seja contrário à postura oficial.
Na literatura parece mais fácil poder imaginar um texto que divirja do canonizado e diga coisas bem diferentes. Ele seria uma espécie de pano de fundo que permitiria ler melhor o texto proposto. Como a exegese canonizante carrega alto poder ideológico, ela não abre espaço para a leitura antitética. É preciso haver uma desconstrução, uma desmontagem do texto canônico. Este precisa ser visto e revisto como um texto estranho, como algo que ainda precisa ser decifrado, pois o que ele afirma não é evidente por si.
Romper com a ingenuidade historiográfica de que se está vendo “o passado como ele realmente ocorreu” significa perquirir o projeto de futuro nele embutido. Isso significa decifrar a teleologia presente em sua teologia, e vice-versa. Projeção de futuro e reconstrução do passado ocorrem, porém, em função da dominação presente: na prática, a questão se tornaria política, mas a supremacia conservadora tende a sufocar o embate público.
2.
Se o enfoque católico domina desde a Carta de Caminha até o neobarroco, não basta examinar a diferenciação interna em sua linha de identidade para ver a limitação do seu horizonte. É preciso tocar pontos nevrálgicos em tópicos diferenciais, sem que o retorno dos sonhos e dos queixumes fique restrito ao pretérito. Toda análise é uma autoanálise; toda crítica, uma autocrítica; toda superação, uma autossuperação.
Jeová não teria sido apenas secreto escritor, autor da Bíblia (ghost-writer de ghost-writers, a ditar para escribas), mas também autor da “Natureza” um livro a ser decifrado pelos cientistas e poetas (o que contradiz a noção de que a Bíblia é o único livro que importa e faz da arte e da ciência algo herético, subversivo). Jeová precisa de alguém que, ao menos tão antigo quanto ele, testemunhe e reescreva o seu projeto de criação, mas que não deve ser Deus, na medida em que este pode ser apenas um, e não pode ser o diabo, na medida em que este não seria um escriba confiável: Jeová é uma invenção da escrita. O escritor é escrita. O cânone, enquanto bíblia laica da nacionalidade, tem uma remota pretensão de, sendo consagrado, ser também sagrado.
Precisa ter, então, um remoto Atheos absconditus scribendi, que pretende registrar a ação e a palavra divina, e até ser o secreto inventor de Deus: os escritores seriam seus delegados. Quando o escritor se alça à posição de escriba de Deus, ele quer dar um respaldo ao seu texto, de maneira a alçar o que diz a um patamar indubitável. Há uma ficção subjacente a toda ficção, mas que não se formula como tal. O ignoto autor cria o autor de toda a criação. Todo o real sendo ficção, toda ficção pode pretender ser real. Quem cria tudo a partir de nada faz lembrar Glauco, que, no livro X de a República, carregaria um espelho pelo campo e recriaria tudo nele como reflexão. Se um quase nada pode conter tudo, tudo pode se esconder no quase nada.
Não se tem no cânone o pensar e sentir da população brasileira, mas apenas de parcela de sua elite, ainda que esta consiga se impor como todo, fazendo com que aquela se identifique com o seu discurso. O dito no ditado do editado escamoteia as sombras de um imenso silêncio; o dito no ditado canônico mais cala do que fala. O tom apologético do que é recitado esconde trágicas vidas que levaram marginalizados, insatisfeitos e exilados a buscarem os territórios brasileiros, escamoteando neles o passado, como se a vida aí recém se iniciasse; o fechamento da literatura brasileira como um sistema em si faz parte desse processo de repressão.
O próprio teor apologético quanto à nova terra tem caráter de consolo, que não chega a ser formulado; não se fala da perda, exceto como perda de outrem. No sistema canônico, o silêncio prepondera sobre a fala, mas o cânone faz de conta que tudo é redutível à sua palavra. Faz de conta que disse tudo, enquanto mais cala do que diz; faz de conta que a fala havida é toda a fala possível, a fala do todo. Essa fala é falácia; essa palavra, palavreado. Tem, contudo, o falo do poder, para estuprar quem diga que o rei está nu.
Da produção literária havida durante meio século após o aniquilamento do grupo dito dos inconfidentes, nada ficou registrado no cânone. Ainda que a independência tenha se dado em sua vertente mais conservadora, foi uma revolução política que propiciou bases para a produção e a evolução literária. Mesmo que parcos, depois da independência surgiram jornais, faculdades, editoras, grupos de intelectuais, críticos e leitores: um sistema de circulação literária como não havia antes, condição necessária, mas não suficiente, para o surgimento de boas obras. Tendo-se um Estado, a literatura teve de inventar uma nação. Essa foi a tarefa – mesmo que recheada de erros e até errônea – a que se propôs o romantismo carioca: tardio e anacrônico já no berço. A exegese canonizante não é capaz de questionar realmente a resposta por ele dada, discriminatória sob a aparência de ser integrativa. Essa exegese não consegue ler bem os textos, pois não consegue imaginar o antitético, a negação deles, o nada que poderia ser tudo a dizer. É mero juízo tético.
Até meados do século XIX, o intelectual brasileiro tinha em geral formação coimbrã ou de seminarista; foi uma mudança radical quando ele passou a se formar na Escola de Medicina do Rio ou na Faculdade de Direito de São Paulo, mas o estudo continuou sendo privilégio da oligarquia, ainda que não mais sob o controle racista da Inquisição católica como no período colonial. De um modo ou de outro, a visão de mundo permanecia a visão de uma classe e de uma casta. Com a criação dos jornais, antes proibidos por Portugal, criou-se um público, embora os livros ainda fossem impressos em Paris ou em Leipzig. Quando gráficas passaram a funcionar, deu-se um passo decisivo para a emancipação, embora a publicação de ficção e de ensaios fosse apenas ocasional e sem garantia de qualidade.
A independência não representou imediata emancipação intelectual e nem esta foi alcançada de vez, como se supõe, cem anos depois, com o modernismo. Num país cuja cultura passou de marionete de Paris a boneco de Hollywood, ela sequer foi alcançada; sem independência política, a questão sequer poderia ser colocada. O isolamento nacional é incompatível com a globalização e é feito em nome de valores limitados, restritivos, que endossam o existente como o melhor dos mundos; a globalização, por sua vez, é uma nova forma de dominação, castrando diferenças.
A série literária sofre influxos positivos e negativos da série social que fundamenta a sua produção e circulação, mas, ainda que os interesses do poder e do mercado pretendam, e consigam, determinar em parte o resultado, a obra de arte surge de um foro íntimo, que ela guarda na expressão de um modo que não é redutível a interesses externos, mesmo quando estes deformam a leitura ou querem promover o que não vale, e não querem que apareça o que tem valor. Isso não quer dizer que o que tem valor sempre aparece, e que tem mais valor o que mais aparece. Pelo contrário, como o que tem algo novo a dizer está sempre além do horizonte do estatuído, este trata de impedir que aquele apareça. Não há gênio literário no vazio, sem condições sociais que propiciem seu desenvolvimento e sua produção: a maioria não aparece. Por conveniência e falta de alternativa, pode-se fazer de conta que é genial uma obra limitada e problemática, mas também se pode impedir que desenvolva o que tem valor, como também se pode forçar quem tem valor a acatar os ditames daquele que o financia. A arte surge do gesto de transcender tais imposições.
Hoje a mídia pode, por exemplo, promover escritores medianos e impedir que se publiquem as suas deficiências, assim como pode denegrir o mérito de obras conforme as conveniências dos grupos de influência. É uma variante do que imperava na Europa e na América até o século XVIII, quando os artistas, sob o regime do mecenato, eram obrigados a auratizar aristocratas e temas religiosos. Ainda que a exegese canonizante badale seus anjos e santos, ainda que alunos querendo aprovação nas escolas ou na busca de emprego repiquem o ditado do establishment, tal produção não se torna grandiosa.
A medianidade artística prepondera nas obras do cânone imperial. Manifestação típica dela são os “gênios românticos”, que morreram aos vinte anos de idade e são apresentados como se tivessem produzido o mesmo que Shakespeare ou Tolstói (cuja grandeza não é percebida por mentes formadas no horizonte da medianidade canônica). Essa inversão forçada continua tão dependente da europeidade quanto o eurocentrismo. A atitude de não querer (re)conhecer boas obras na América do Sul não deveria fazer com que a única contrapartida seja querer impor como excelente o que é mediano ou medíocre.
*Flávio R. Kothe é professor titular aposentado de estética na Universidade de Brasília (UnB). Autor, entre outros livros, de Benjamin e Adorno: confrontos (Ática).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA