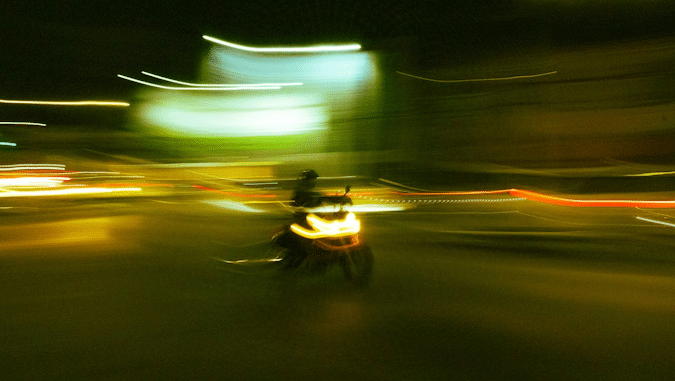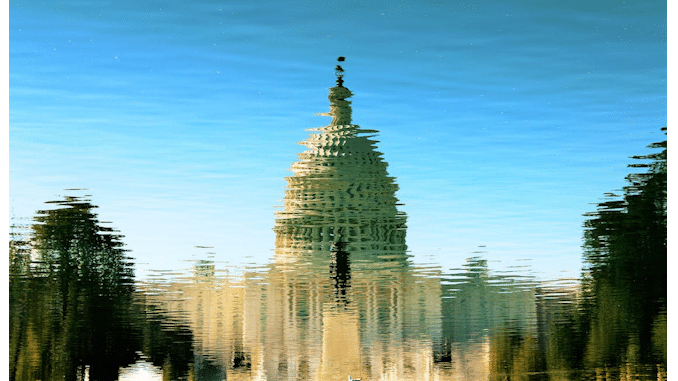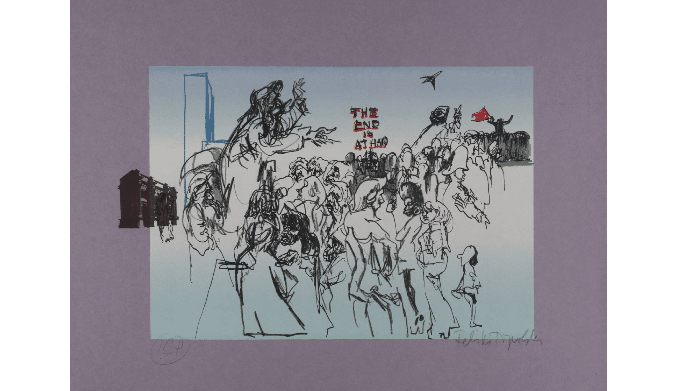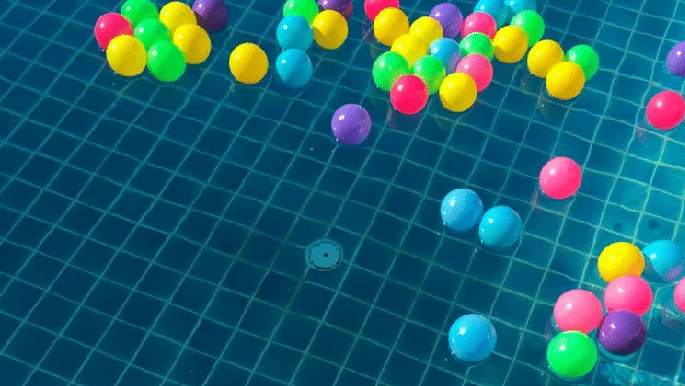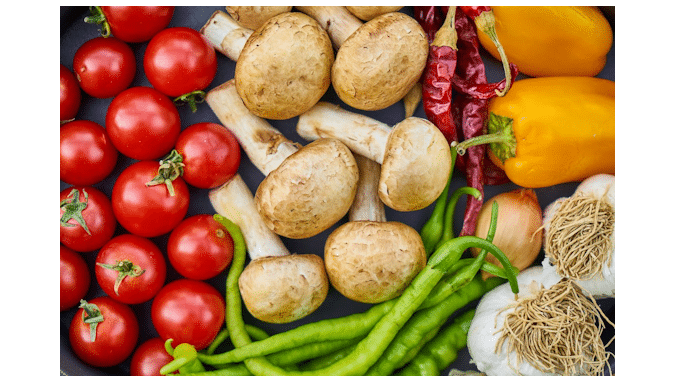Por BENTO PRADO JR.*
Considerações sobre a dispersão do discurso filosófico dos dois lados do Atlântico, na Europa e nas Américas
“Certa vez, eu dizia a Jean Nicod que as pessoas que estudam filosofia deveriam tentar compreender o mundo, e não apenas os sistemas dos filósofos do passado, como ocorre nas universidades. “Sim”, ele respondeu, “mas os sistemas são tão mais interessantes que o mundo!” (Bertrand Russell).
A palavra “filosofia continental” foi criada pela filosofia analítica inglesa para significar algo diferente daquilo que se chamava, no passado, filosofia europeia ou ocidental. Para examinar os movimentos intermitentes de transmissão e retransmissão da filosofia analítica pelo mundo, para estudar estilos diferentes que se chocam e se cruzam, como ondas na superfície do “mar sempre renovado”, tomemos, como ponto de partida, a frase de um filósofo perfeitamente “continental”.
“A filosofia” – escrevia Gerard Lebrun – “tem muito mais a natureza de um arquipélago do que a de um continente”. Certamente ele não pensava em uma espécie de “geopolítica” da filosofia ou em sua dispersão sincrônica nas diferentes culturas nacionais. Pensava mais nos sistemas filosóficos em sua individualidade, compreendidos como mônadas sem janelas, irredutíveis umas às outras, como fortalezas protegidas pela muralha secretada pelo “tempo lógico” de sua instauração. Ou pensava ainda na descontinuidade essencial que marcaria a originalidade da história da filosofia como uma história de cortes sempre radicais.
Mas esta metáfora é suscetível de outra aplicação e pode nos introduzir a discussão do assunto que proponho. Que mudança descobriria quem fizesse o levantamento do mapa da dispersão do discurso filosófico dos dois lados do Atlântico, na Europa e nas Américas?
Mas, de que mudanças estamos falando? Penso nos esforços de cruzamento de tradições rivais, que quase sempre se opuseram de maneira muito polêmica: de um lado, a filosofia dita analítica, de outro, as diferentes linhas da filosofia continental: fenomenologia, dialética, neocriticismo. Testemunha da antiga atmosfera de intransigência é uma anedota do encontro de Royaumont sobre a filosofia analítica nos anos 1950; nessa ocasião, G. Ryle, após ter feito uma descrição polêmica e um tanto caricatural da fenomenologia, explicava, com ironia, a inviabilidade da arrogância ou da hybris fenomenológica na Grã-Bretanha. Nas universidades britânicas, explicava ele, há um restaurante comum, o que obriga os filósofos a uma contínua coabitação com os cientistas, que acaba com as ambições de fundação absoluta ou transcendental.
Pode-se imaginar que isto não deixou de provocar a cólera de alguns fenomenólogos… Mas, mesmo na França do pós-guerra, um pouco fechada à irradiação da filosofia analítica, abria-se, na tradição da “Teoria da ciência” de Cavaillès, um espaço de recepção privilegiado com as obras de Gilles-Gaston Granger e Jules Vuillemin. E mesmo no extremo oposto, o da fenomenologia e da hermenêutica, um Paul Ricoeur, já nos anos 1960, se apropriava cada vez mais dos instrumentos e dos métodos de análise da outra tradição.
Seria preciso acrescentar ainda que essa filosofia “insular” se libertou do hegelianismo e da filosofia transcendental, que imperava na universidade inglesa do século XIX, graças a Lord Russell, com a ajuda do italiano Peano e do francês Couturat, e com o seu encontro com a filosofia de Frege e Leibniz – significando que essa filosofia leu primeiramente em alemão e latim, italiano e francês, para poder criar, em seguida, a “filosofia analítica de língua inglesa”. As duas filosofias rivais teriam, pelo menos, uma origem comum, tendo sido Frege o ponto de partida tanto de Lord Russell como de Edmund Husserl.[1]
A filosofia nos EUA
Mas voltemos nossos olhos para as Américas. O que era a filosofia nos EUA na metade do século? No período entre as duas guerras, as universidades americanas tinham conhecido uma imigração maciça de filósofos da Europa central, que fugiam do nazismo em ascensão. Também é preciso dizer que o mesmo processo ocorreu na Grã-Bretanha, como notou Perry Anderson, ao fazer o levantamento dos mais influentes mestres de escola da filosofia e das ciências humanas: L. Wittgenstein (Áustria), B. Malinowsky (Polônia). K. Popper (Áustria), Isaiah Berlin (Rússia), E. Gombrich (Áustria), H. J. Eysenk (Áustria).
Ora, nos EUA, é justamente o estilo do empirismo lógico que prevaleceu sobre as demais tendências, dando uma nova fisionomia ao ensino filosófico, mais severo, talvez, que na sua origem na Europa Central. Theodor Adorno e seus colegas de Frankfurt, por exemplo, ou melhor, seus trabalhos, nunca tiveram posteridade nos departamentos de filosofia e nunca deixaram na filosofia universitária dos EUA uma marca comparável à dos neopositivistas. O único “nicho” que lhes restou seria o dos departamentos de letras e de ciências humanas. Tudo isso levou a um novo cânone, uma nova pedagogia que limitava a filosofia à lógica e à epistemologia, e que, desqualificando ou banindo da instituição os demais estilos de pensamento, impunha o ideal de uma filosofia científica, cuja expressão mais severa seja talvez a obra de Hans Reichenbach. A filosofia torna-se uma atividade estritamente técnica e profissional.
Um primeiro exemplo dessa atmosfera de purismo, de assepsia e de exclusão puritana: em um de seus últimos livros, Hannah Arendt (a quem dificilmente pode-se recusar o título de filósofa) ressaltava nunca ter reivindicado a condição de “filósofa profissional”. Ela distingue claramente a ideia de “pensamento” da ideia de “conhecimento” ou, ainda, de uma atividade técnica ou profissional. Ao contrário de uma filosofia centrada no eixo da epistemologia, ela afirma que “a exigência da razão não é inspirada pela busca da verdade, mas pela busca da significação. E verdade e significação não são uma única e mesma coisa”. Evidentemente, é Heidegger que está no horizonte destas proposições. Mas ela poderia também (para distinguir pensamento e conhecimento, sentido e verdade, e para opor filosofia e atividade profissional) remeter a Wittgenstein.
Um segundo exemplo é dado por Stanley Cavell, no seu livro Esta nova América, ainda inabordável, retraçando seus “anos de aprendizagem”, sem esconder as inquietações de sua experiência de estudante. Como o caso de um professor que lhe dizia que havia somente “três maneiras de ganhar a vida honestamente na filosofia: aprender línguas e realizar trabalho acadêmico; aprender suficientemente a matemática para trabalhar seriamente a lógica; ou, então, fazer psicologia literária”. Somente a segunda maneira era verdadeiramente “fazer filosofia”.
A última era a saída menor, por assim dizer, e não muito simpática, para um aluno que parecia mais voltado para a literatura do que para a austeridade do puramente conceitual. É curioso notar que o professor arrogante talvez não soubesse que, ao usar (ainda que num sentido pejorativo) a expressão “psicologia literária”, apontava involuntariamente para o futuro e inesperado itinerário de seu aluno. A própria expressão, forjada por Georges Santayana, e que estava longe de ter um sentido pejorativo, remetia à filosofia americana da virada do século XIX ao século XX – no entrecruzamento entre pragmatismo, transcendentalismo ou idealismo –, que Cavell iria redescobrir mais tarde, afastando-se do positivismo, mas sem afastar-se de Wittgenstein, isto é, do momento mais rico e mais elevado da filosofia analítica. Outros nomes, certamente, poderiam ser associados a esse movimento de ampliação da ideia de Razão nos EUA, como Sellars, Davidson e Putnan.
No momento, salientemos que, se imediatamente ao após guerra, tudo parecia correr muito bem para o empirismo lógico hegemônico na universidade norte-americana, os dogmas sobre os quais ele se apoiava (distinção categórica entre proposições analíticas e sintéticas, princípio de verificação…) já estavam em crise; a nova epistemologia militante e conquistadora iria conhecer a derrota, por obra de seus próprios soldados. Quine, Sellars, Goodman: são muitos os filósofos “analíticos” que vão consagrar a morte do otimismo epistemológico do neo-positivismo.
A crise europeia
De fato, na América, essa crise é a repetição de outra crise que já ocorrera na Europa, na passagem dos anos 1920 aos 1930, e que não deixara intacto o otimismo do ideal fundacionista das diferentes tendências da fenomenologia, do neokantismo e da própria filosofia analítica (nessa época, parece que os filósofos do Círculo de Viena não compreenderam, talvez, todas as consequências das proposições que lhes apresentava Wittgenstein). Todas as tradições partilhavam, na origem, o estilo asperamente “modernista”, que reconhecia a racionalidade somente quando ela repousa num fundamentum absolutum.
Russell, Husserl, os filósofos da escola de Marburg voltando-se todos, e cada um a seu modo, à tradição do racionalismo (Platão, Descartes, Leibniz, Kant), identificam a Razão com o Absoluto, projetando sempre o domínio do empírico, da natureza, do psicológico e da história nas trevas exteriores da irracionalidade. E, no entanto, é esta mesma filosofia que parece, por uma estranha inversão comandada por uma espécie de necessidade interna, encaminhar-se para uma abertura e certa abordagem “relativista” da ideia de Razão, acompanhada de uma insistência crescente sobre as formas pré-epistêmicas da consciência e da linguagem, sobre as raízes pré-lógicas ou ante-predicativas do conhecimento.
É o caso da exploração do Lebenswelt por Husserl, e, sobretudo, por Heidegger; da fenomenologia da expressão em Cassirer ou, ainda, da ideia de um logos prático implícito nas noções de Sprachspiel e de Lebensform do segundo Wittgenstein. Aliás, uma mudança semelhante ocorria, entre as duas guerras mundiais com o downfall do atomismo lógico. Belos anos esses anos 30, onde tantas coisas mudam, de Heidegger a Wittgenstein, onde se cruzavam no céu, com tanta vida e intensidade, coisas que não eram apenas aviões da Legion Kondor, que começavam a lançar a sombra do nazismo sobre a Espanha e o resto do mundo.
Uma nova travessia do Atlântico
Ora, nos anos 1950 e 1960, a filosofia analítica nos EUA parece se beneficiar de uma abertura semelhante da idéia de forma simbólica, que lhe permite reencontrar, de maneira inimaginável na perspectiva do empirismo lógico, as tradições da filosofia continental. É o que se pode verificar, em particular, no domínio da estética, pela obra de dois filósofos que, aliás, nunca abandonavam a idéia da análise da linguagem como único método da filosofia. Penso em Arthur Danto e Nelson Goodman.
O primeiro, sem se afastar um só milímetro da tradição analítica, vai ao encontro do filósofo que, segundo Reichenbach, era o próprio modelo do que a filosofia não deve ser, a bête noire por excelência do espírito analítico: nem mais, nem menos que Hegel. No caso de Nelson Goodman, não é a estética hegeliana que encontramos nos prolongamentos da análise filosófica, mas uma estética que lembra intensamente a esboçada por Cassirer nos volumes de sua Filosofia das formas simbólicas e que, aliás, já tinha se incorporado à filosofia americana nos escritos de Susan K. Langer.
Em seu belo livro Ways of world making, vemos Nelson Goodman propor, ao lado da ideia da verdade, a ideia mais larga de correctness, que abre o espaço para uma análise dos estilos de estruturação estética da experiência – alguma coisa, talvez, como uma nova teoria, afastada de qualquer psicologismo, da imaginação transcendental, que é constituída pela análise das obras de arte em sua singularidade mais concreta.
Mas não é somente pelo viés da estética que a filosofia analítica americana iniciava uma nova travessia do Atlântico e uma reconciliação com a tradição continental. Mesmo no seu centro mais duro, isto é, no domínio da epistemologia, um movimento paralelo se esboçava. Penso nos escritos de N. R. Hanson, na maneira pela qual ele se insurge contra o modelo hegemônico na teoria da ciência, em três níveis diferentes:(a) na insistência sobre “a impregnação teórica” dos enunciados de observação; (b) na ótica da descoberta contra o modelo hempeliano da explicação científica;
(c) na importância da história das ciências na constituição da epistemologia.
Mais interessante ainda é a guinada na reflexão sobre a linguagem, que produziu uma mudança de estilo na Philosophy of mind. É o caso de John Searle que, seguindo o caminho aberto por Austin, desenvolveu uma teoria dos speech acts (“atos de discurso”, de acordo com a tradução sugerida por Paul Ricoeur), tendo como alvo, na linguagem, sua dimensão semântica e pragmática, que o compreende como uma forma de ação (ou de produção de coisas), mais do que como uma forma de representação de objetos.
Aqui, ainda, é a versão ortodoxa do empirismo lógico que é sistematicamente demolida, dando lugar a uma filosofia que pode encarar a questão da consciência ou da ipseidade, que tinha sido arquivada como morta pelo antigo modelo de análise. E é aqui, também, que a filosofia analítica parece retomar contato com a tradição europeia, particularmente com a fenomenologia. Com sua definição de speech act, na verdade, Searle recupera, para a filosofia analítica, a ideia de intencionalidade da vida da consciência.
Assim, um passo era dado na direção da redescoberta da legitimidade da perspectiva da primeira pessoa. Em uma palavra: nesta ontologia em primeira pessoa, o princípio berkeleyiano – esse est percipi – é válido, assim como a definição sartreana do Dasein como “ser-para-si”, sem que, por isso, sejamos condenados a recair no idealismo. É notável como esta temática nos aproxima da versão francesa e existencial da fenomenologia. Notemos, ainda, que Searle vai buscar em Israel Rosenfield, a ideia de imagem corporal, para fundar a intencionalidade da consciência em uma intencionalidade corporal mais primitiva. Como Merleau-Ponty já havia feito com o livro de Lhermitte (“L’image de notre corps”, Nouvelle révue critique. 1939), para propor uma reconstrução semelhante do mapa conceitual das relações entre a consciência e o corpo e uma ampliação da ideia de intencionalidade em sua Fenomenologia da percepção.
Porém, o mais curioso é que, em cada um desses momentos, nos quais a filosofia norte-americana refaz seus laços com a filosofia européia, transgredindo as antigas proibições do programa do empirismo lógico, ela o faz redescobrindo o espírito original da própria filosofia norte-americana, isto é, reativando, por exemplo, a tradição, negligenciada ou esquecida durante certo tempo, do pragmatismo. Estranho paradoxo: tudo acontece, de fato, como se o isolacionismo (por assim dizer) da filosofia norte-americana fosse obra de filósofos europeus, como se a redescoberta da tradição filosófica europeia fosse o efeito de uma volta a mais autêntica e autóctone tradição da filosofia dos EUA.
Com Stanley Cavell e Richard Roty é a própria essência do projeto analítico que é invocado. No caso de Rorty, é o antifundacionismo – ou a ruptura proposta com a tradição filosófica segundo o modelo platônico ou kantiano – que permite retomar o contato com a Europa: Nietzsche, Heidegger, Habermas, Derrida. Mas se Rorty encontra assim o bom e velho pragmatismo de Peirce, James e – sobretudo – de Dewey, Stanley Cavell reencontra ou reinventa o transcendentalismo de Emerson e de Thoreau, sem esquecer, seguindo o mesmo movimento, de subverter a leitura canônica ou escolar de Wittgenstein.
Uma dialética complexa
Na verdade, estamos diante de uma complexa dialética entre América e Europa. De fato, se com Emerson e Thoreau o pensamento começa a trabalhar para redescobrir a América, em sua paisagem física e moral, ele o faz com a ajuda do idealismo alemão e do romantismo inglês (ele próprio impregnado pelo romantismo alemão). É preciso acrescentar: se podemos dizer que o pragmatismo norte-americano é inteiramente autóctone, não se pode esquecer que seus inventores estavam particularmente familiarizados com toda a história da filosofia: antiga, medieval e moderna. Esta dialética se mostra mais complexa se nos lembrarmos que Nietszche era grande leitor de Emerson.
É a prática de Austin, mas sobretudo de Wittgenstein, que nos coloca novamente na esfera do “ordinário”, que teria permitido, entre outras coisas, “uma análise muito perspicaz da arte americana e da tradição de pensamento aberta por Emerson”. Este dilaceramento entre análise lógica e fenomenologia, ao qual fizemos alusão, está no coração do livro Phénomenologies et langues formulaires de Claude Imbert.
Mas esta travessia do Atlântico não é realizada numa única direção nos anos 1970. A Europa redescobria a América. Entre outros, em 1973, Karl Apel, com A transformação da filosofia, tentava aclimatar a guinada linguística na Alemanha, atravessando o campo e os problemas da fenomenologia com os instrumentos da nova pragmática, mas, sobretudo, com a semiótica de Peirce.
Assim transplantado, o pragmatismo assumia com ele um tom transcendental, ao contrário do tom naturalista escolhido por Rorty. E Habermas, via Apel, entabulava o diálogo com a filosofia americana, especialmente com Rorty. É, sobretudo, sobre a tensão entre as iniciativas de Rorty e de Apel/Habermas, que a convergência não consegue eliminar, que seria preciso refletir: isto é, a tensão que opõe irremediavelmente o relativismo explicitamente assumido e o fundacionismo que renasce numa instância transcendental-comunicativa onde a razão clássica reencontra a paz perdida.
E é sobre esta tensão que trabalhei numa conferência no Brasil, em um encontro internacional em que Rorty estava presente. Tensão em que eu via uma aporia ou uma contradição não suscetível de pacificação e que poderia ser exprimida tanto na linguagem de Pascal, como na de Adorno. Seja o célebre pensamento: “Tenho uma incapacidade de provar, invencível a todo dogmatismo, tenho uma idéia de verdade, invencível a todo pirronismo”, seja a frase da Dialética negativa: “A dialética se opõe tão abruptamente ao relativismo como ao absolutismo: não é buscando uma posição intermediária entre os dois, mas, ao contrário, passando aos extremos, que procura mostrar sua não-verdade”.
História da filosofia
Em nossas idas e vindas, não se tratava absolutamente de propor uma espécie de pacificação internacional da filosofia, numa espécie de paraíso da filosofia eterna, esta monótona repetição do Mesmo. Trata-se mais de reconhecer o caráter essencialmente plural da razão ou ainda de aceitar que a filosofia deva passar pela ponderação comparativa dos estilos filosóficos. Tarefa que parece convergir para as pesquisas contemporâneas sobre uma possível estilística da escrita ou do discurso filosófico.
De fato, o que podemos revelar de novo nesta filosofia (que agora já podemos denominar, talvez, “filosofia pós-analítica”) é a imanência da história da filosofia no coração da própria filosofia (a revanche, por assim dizer, de Collingwood). Sem chegar ao extremo de dizer, como Nicod parece sugerir, que o mundo não é muito interessante… Tudo se passa como se hoje assistíssemos à demolição de outro dogma do empirismo lógico: o dogma que substituiu o lema inscrito por Platão na entrada da Academia (“aqui não entrará aquele que não conhece geometria”) pelo lema ainda inscrito na entrada de alguns departamentos de filosofia: “aqui não entrará aquele que faz história da filosofia”.
Tarefa que se faz mais necessária quando a onda cada vez mais volumosa das supostas cognitive sciences parece fazer a philosophy of mind revalorizar um objetivismo naturalista que não é diferente do da segunda metade do século XIX, contra os quais se levantaram os pais fundadores da filosofia do século XX: do neokantismo a Bergson, passando por Frege, Edmund Husserl e Bertrand Russell. Seria preciso, portanto, tudo recomeçar? Teríamos ganho algo, em todo caso, rememorando este desvio que parece terminar em círculo? Nosso ponto de chegada não parece ser o ponto de partida do movimento descrito?
Assim, é a relação entre a filosofia e sua história que parece estar no centro das alternativas da reflexão contemporânea e as escolhas feitas (as diferentes escolhas da “política” da filosofia) poderão determinar nosso futuro. Eu gostaria que se reconhecesse que o passado da filosofia não está atrás de nós, mas que ele nos impregna, que está presente na nossa atualidade mais viva e, somente a atualização ou a re-interiorização (Erinnerung dizia Hegel) deste passado poderia nos lançar para o futuro.
A diferença sincrônica e diacrônica, história e “geografia”, por assim dizer, da filosofia seria o próprio assunto da filosofia (Die Sache der Philosophie, como dizia ainda o mesmo Hegel). De outra forma, na idade da globalização que vivemos, poderíamos nos encaminhar para uma simples “homogeneização” da filosofia, que seria justamente o contrário da “universalização” à qual ela sempre aspirou e que é inseparável da vida da polêmica. Como dizia Heráclito: “O que é contrário é útil e é da luta que nasce a mais bela harmonia: tudo se constrói pela discórdia”.
Para terminar: sem um mínimo de negatividade, o pensamento se pacifica e se apaga, ele não pode sobreviver sem polêmica e, sobretudo, sem a necessária e interminável “polemologia”, que não aspira mais a nenhuma forma de pacificação final. Ou, ainda, misturando as linguagens diferentes de Freud e de Wittgenstein: análise terminada, análise interminável… Como vocês podem ver, eu não sei terminar… Paremos por aqui, onde, talvez, deveríamos começar. Depois deste passeio extravagante e um pouco selvagem fora dos muros das doutrinas, retardemos a tomada de um ponto de partida que se julgaria inabalável…
*Bento Prado Jr. (1937-2007) foi professor titular de filosofia na Universidade Federal de São Carlos. Autor, entre outros livros, de Alguns ensaios (Paz e Terra).
Publicada originalmente no Jornal de Resenhas, no. 7, em novembro de 2009.
Nota
[1] O que permitia a Michel Foucault afirmar para nós, na Universidade de São Paulo, em 1965, um ano antes da aparição de As palavras e as coisas, num tom provocativo: “É preciso ser uma mosca cega para não ver que a filosofia de Heidegger e a de Wittgenstein são uma única e mesma filosofia”.