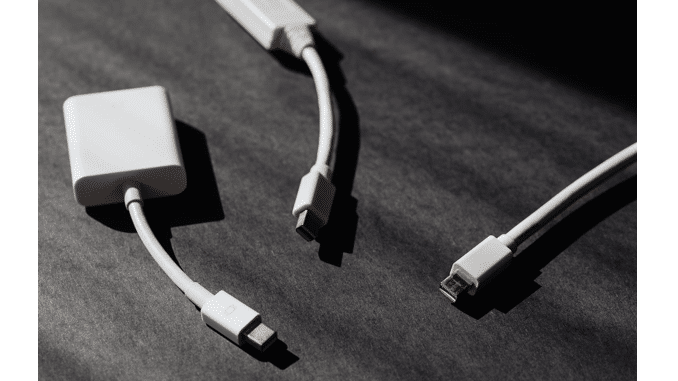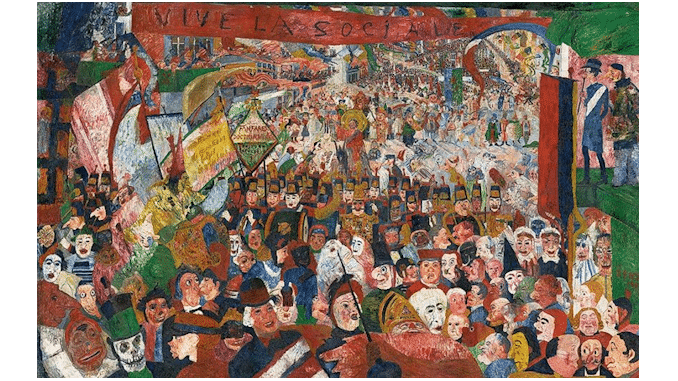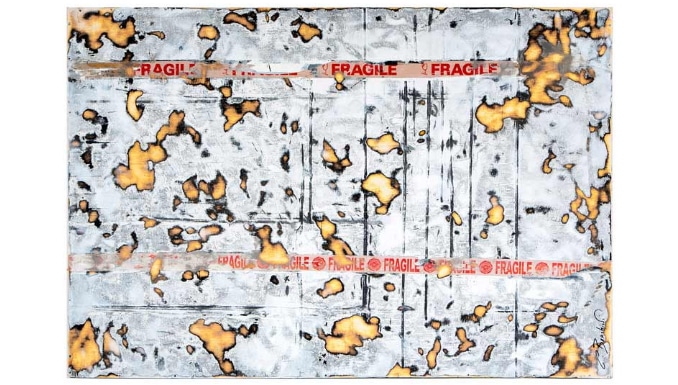Por EVA ALTERMAN BLAY*
A violência contra a mulher é um sintoma trágico em uma sociedade em vias de destruir a democracia
“Ao perceber uma situação de violência contra a mulher, deve-se enfrentá-la e interrompê-la para que não chegue a um feminicídio. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada”. Essa é a mensagem principal da campanha Agosto Lilás, do Ministério das Mulheres. Indiscutível a importância dessa proposta de política pública, iniciativa que vem sanar o vácuo criado pelo governo anterior que desmanchou todas e quaisquer atividades feministas voltadas para evitar a violência contra mulheres e meninas.
Herdamos, no Brasil, um passado banhado de sangue. Por quase 500 anos prevaleceu o direito de matar impunemente homens e mulheres negros que ousavam se rebelar contra maus tratos de seus “proprietários”. Aos rebelados, a pena de morte. Não é de estranhar a cruel violência patriarcal herdada que prevalece até o presente e que se expandiu por todas as camadas da população.
O aumento extraordinário de feminicídios e estupros de mulheres e meninas são noticiados nas redes sociais, nos jornais e exibidos na TV em programas que podem ser vistos em qualquer horário do dia ou da noite. O tema, dramatizado em cenas cruas, quase não espanta mais. E, pior ainda, é banalizado por profissionais que os deveriam punir (veja-se o caso Mariana Ferrer entre outros).
Desde o século XIX, jornalistas, escritoras, intelectuais, militantes políticas, feministas denunciam a subordinação das mulheres cujas liberdades são constrangidas pela tutela do pai, do marido e até do irmão. O comportamento da dominação patriarcal reproduziu-se entre chefes, mestres de fábrica, empregadores, e foi incorporado até mesmo por companheiros de partidos políticos (se tiverem dúvidas leiam depoimentos de Pagu).
Foram décadas de lutas dos movimentos feministas para superarem obstáculos e conquistarem a cidadania – desde o direito ao voto, a eleição de mulheres para as Câmeras, o direito ao próprio corpo. Mesmo e sobretudo durante as ditaduras de Getúlio ou de 1964-1985, os movimentos feministas não deixaram de enfrentar opositores armados buscando implantar os direitos humanos para todos e especialmente para as mulheres.
A militância ensinou às mulheres que o poder estava na mão do Estado do qual estavam excluídas. Em resposta, os movimentos feministas elaboraram estratégias para participar das instituições estatais e elaboraram uma instituição original, o Conselho Estadual da Condição Feminina (em São Paulo, 1992, e logo a seguir em Minas, e depois em quase todos os estados).
Em meio a múltiplas demandas, ações contra a violência, o machismo, o assassinato de mulheres eram prioritários. No imaginário social havia um único caminho para as camadas populares e médias: recorrer às Delegacias de Polícia. Buscar um advogado era serviço aventado apenas pelas camadas ricas.
Quando uma mulher era fortemente agredida por seu companheiro ou marido, a Delegacia de Polícia era, em última instancia, a autoridade máxima. Desnecessário relatar que em geral, naquela instituição, as mulheres eram desconsideradas, os casos minimizados e elas eram e são ainda, por vezes, aconselhadas pelas “autoridades” a voltarem para casa e ficarem quietinhas.
Ao criar a Delegacia da Mulher (1985), a expectativa era que fossem recebidas como pessoas com direitos, o que de fato ocorreu após muitos treinamentos. Às profissionais destas delegacias, por sua vez, e por serem mulheres, tiveram múltiplas dificuldades para terem suas carreiras reconhecidas.
A partir da década de 1990, o Brasil assinou vários acordos internacionais que reconheciam os direitos humanos das mulheres ampliando o campo da não violência. A lei Maria da Penha insere-se na articulação entre o movimento feminista brasileiro e o campo internacional pois, lembremos, o agressor de Maria da Penha foi por duas vezes absolvido, até que o caso foi levado à Comissão Latino-Americana dos Direitos Humanos.
Justiça seja feita a um grande grupo de feministas que se empenhou para que afinal Maria da Penha tivesse seu caso revisto. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006, portanto há 18 anos, mas durante esse período centenas de brasileiras foram assassinadas e meninas estupradas e mortas.
Atualmente, quando ameaçadas de morte por companheiros, maridos, ou outros homens com quem mantém relações afetivas, a mulher já não suporta mais e pressente o pior, ela recorre a um juiz para obter uma “medida protetiva”. Esse instrumento de proteção foi altamente procurado e encontrou apoio no judiciário.
Os dados mostram que: “O Brasil emitiu, em média, uma medida protetiva a vítimas de violência doméstica por minuto no ano passado. Foram 553.391 documentos apresentados pelas justiças estaduais, conforme levantamento do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Apesar do número, o país registrou 1.706 feminicídios em 2023 — média de quase cinco crimes por dia. Até 24 de março deste ano (2024), tinham sido emitidas 86.805 medidas protetivas — média de 0,72 por minuto” (R7 Brasília).
É claro que essas medidas protetivas são importantes, mas não bastam para eliminar o feminicídio. Visando aperfeiçoar o atendimento, o serviço policial desenvolveu a “Patrulha Maria da Penha”, para prevenir ataques às mulheres com medidas protetivas e outras ameaças. Esse programa começou em 2012 em Porto Alegre, em 2019, no Rio de Janeiro e, em 2020, em São Paulo.
Finalmente o programa foi apresentado e aprovado no Senado para vigorar no país todo em 2021, há quatro anos! Não foi implantado ainda. Embora a Patrulha Maria da Penha seja importante e tenha resultados positivos é irreal supor que ela venha se estender ao país todo. Outra medida eficiente e factível é o telefone 180 para atender mulheres em perigo ou que precisam de orientação. Há ainda outra linha telefônica, o 190 que se liga diretamente à polícia, quando o caso é extremo e tem evitado feminicídios no Brasil e no exterior.
O sucinto retrospecto sobre medidas para evitar violências contra a mulher e a menina, aqui feito, destacou medidas para defender e fortalecer as mulheres. Essa avaliação permite apontar uma importante lacuna: nesse quadro, onde estão os homens? E os meninos? Se queremos criar uma sociedade igualitária, que respeite os direitos humanos de todos, é necessário completar o planejamento com políticas e programas para os homens.
Há no Brasil um tímido movimento de educação masculina, “grupos reflexivos”, e há juízas e juízes que encaminham homens “em situação de violência” para esses programas. Em 2020, havia 312 grupos reflexivos voltados para encaminhar homens autores de violência contra mulheres no Brasil. Os resultados apontam que após frequentarem as reuniões por algumas semanas, os participantes desenvolvem novos comportamentos em suas relações sociais e familiares.
Se quisermos tornar os comportamentos masculinos não violentos, não agressivos, não se pode esperar que cheguem à idade adulta. A orientação sobre igualdade de gênero deve se iniciar desde a primeira infância para meninos e meninas: educar e socializar com programas que destaquem a igualdade nas relações sociais de gênero, com respeito às diferenças – de classe, gênero, cor, etnia.
Há enorme e forte reação a esse tipo de projeto. Parcela da população, politicamente de direita, cria obstáculos tanto práticos como ideológicos. No legislativo, apresentaram pelo menos dois projetos: “educação em casa” e “educação militar”. O primeiro pretende restringir experiências extradomiciliares, implica no fortalecimento de um controle patriarcal, conservador, impedindo diversidade religiosa e sexual. O segundo, ainda acrescenta apagar educação crítica e impõe comportamentos autoritários.
Recompondo todo o longo esforço para reduzir o feminicídio e face ao crescimento do mesmo, vale pensar que a violência contra a mulher e a menina é um trágico sintoma de uma sociedade que caminha para destruir a Democracia.
Ainda é tempo de refletirmos.
*Eva Alterman Blay é professora titular sênior do Departamento de Sociologia da USP e ex-senadora. Autora, entre outros livros, de O Brasil como destino: raízes da imigração judaica contemporânea para São Paulo (Unesp).
Publicado originalmente no Jornal da USP.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA