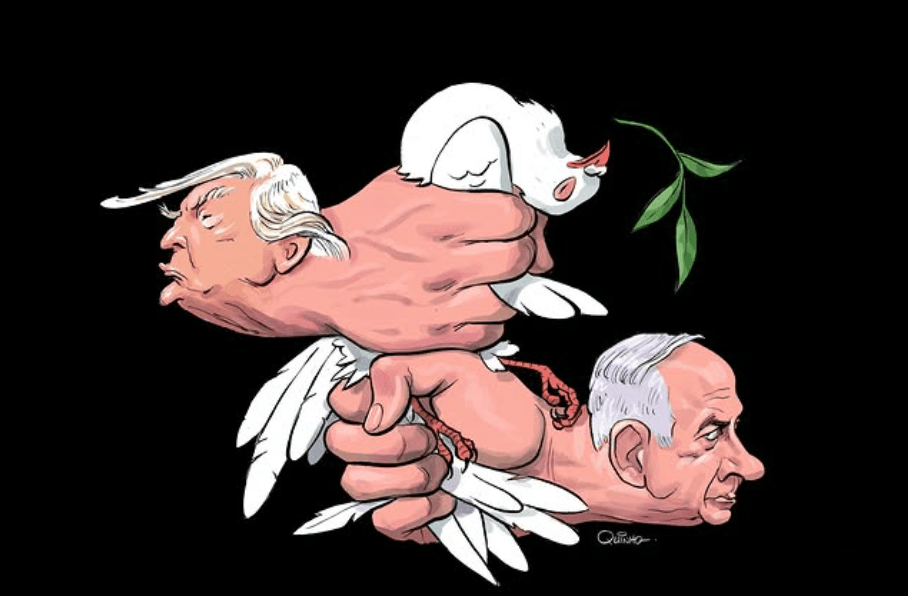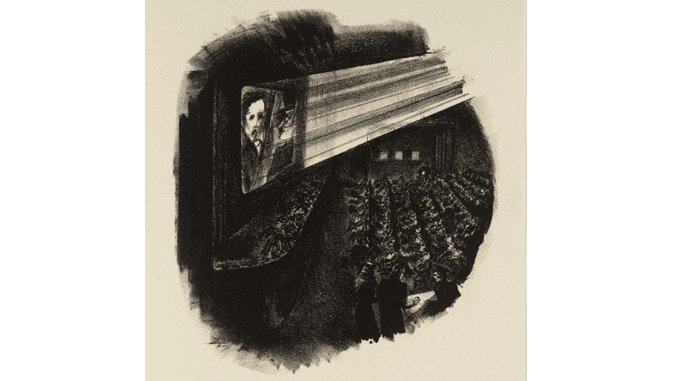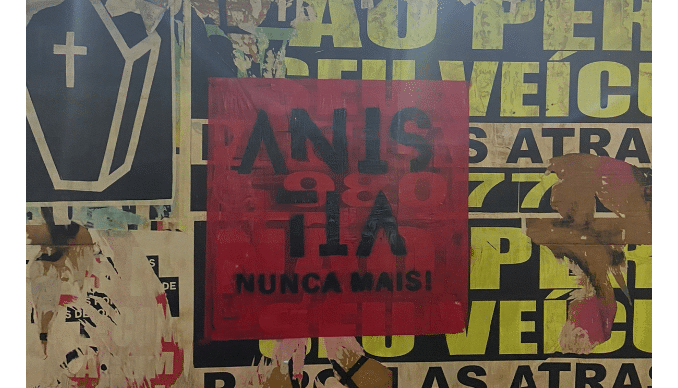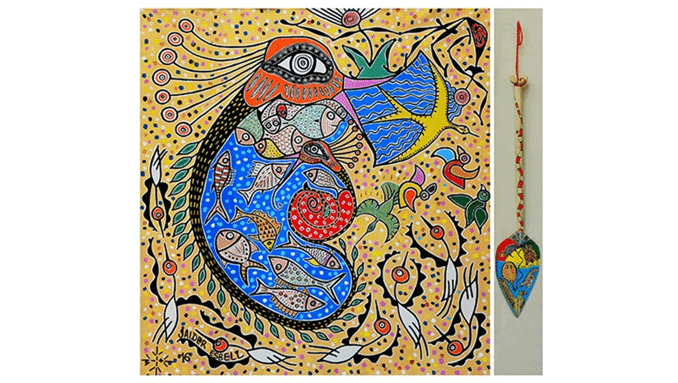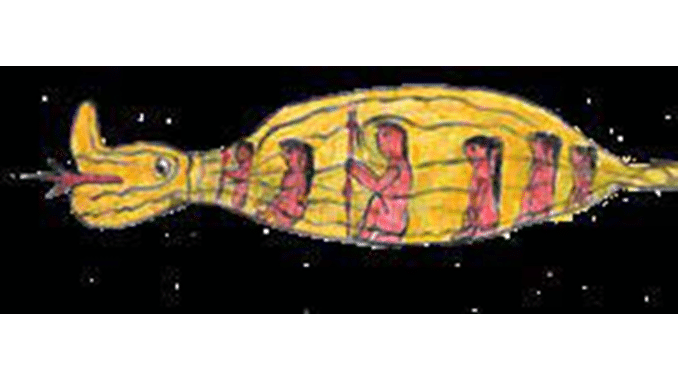Por CARLOS ÁGUEDO PAIVA*
A âncora cambial, pedra angular do controle inflacionário pós-Real, atua como um mecanismo de desindustrialização seletiva, poupando o agronegócio competitivo e esmagando a indústria de transformação
Introdução
Entre 1932 e 1980, o PIB brasileiro cresceu a uma taxa média de 6,71% a.a. Entre 1981 e 2024 a taxa média de crescimento foi de 2,17% a.a. Já passou da hora de entendermos que essa alteração na dinâmica econômica é irredutível a acertos e/ou erros das políticas econômicas em curso: ela tem uma dimensão estrutural.
De Getúlio Vargas a Ernesto Geisel, o país passou por inúmeros governos que adotaram as mais distintas políticas econômicas. Mas, para além das gestões, havia uma unidade central: a escassez de divisas, que funcionava como âncora expectacional; independentemente do governo, o empresariado tinha certeza de que o dólar era caro e continuaria caro.
A escassez de divisas baseava-se nas restrições do mercado externo para a produção excedente da agropecuária nacional: os EUA era um grande produtor e exportador agrícola; a Europa operava com políticas de segurança alimentar; os mercados dos países da órbita socialista eram essencialmente fechados; e os países pobres da África e da Ásia não contavam com as divisas necessárias para adquirir a produção excedentária brasileira.
A teoria cepalina da industrialização por substituição de importações parte da assertiva correta de que a carência de divisas funciona como estímulo à industrialização. Afinal, ela não garante apenas a rentabilidade imediata da indústria pelo encarecimento do preço dos importados. Quando há efetiva escassez de divisas, o país é obrigado a adotar múltiplas taxas de câmbio. E quanto maior a expressão da produção nacional, tanto mais cara fica a divisa para importar um similar estrangeiro: a proteção cambial não era estática; ela aumentava com a ampliação e qualificação da produção interna.
Mas há um outro desdobramento da escassez de divisas que escapou à grande maioria dos teóricos da industrialização por substituição de importações. A ausência de um mercado externo sólido e crescente para a produção agrícola brasileira tornava praticamente todo o agronegócio não-cafeeiro dependente da expansão do mercado interno; vale dizer, comprometia-o com políticas de urbanização e industrialização.
De Getúlio Vargas a Ernesto Geisel havia um “centrão orgânico”, representado por agremiações políticas e/ou partidos tais como o PSD (de Dutra e JK), o PSP (de Ademar de Barros), o PRP (de Plínio Salgado), o MDB e as “Arenas 2” (durante a ditadura). A base desses partidos não era composta por agentes oriundos da indústria e/ou diretamente comprometidos e beneficiados com a industrialização.
Ela era composta por agentes daquelas cadeias cuja rentabilidade era função da existência e expansão de uma massa de assalariados aptos a consumir sua produção. A expansão da demanda sobre carne (seja in natura, resfriada, congelada, enlatada ou na forma de charque e carne de sol), de cana-de-açúcar (e derivados: açúcar, melado, cachaça, álcool), de arroz, feijão, trigo, algodão, tecidos, vestuário, hortifrutigranjeiros, vinho etc. dependia da expansão do emprego urbano. E, portanto, dependia do avanço da industrialização.
A inserção econômica do Brasil no mundo contemporâneo é completamente distinta. Com a emergência da China como centro da acumulação internacional, o mercado para commodities agrícolas e minerais passou por uma enorme expansão. Do Oiapoque ao Chuí, o agronegócio brasileiro volta-se, hoje, ao mercado externo. Seu carro chefe é a soja; mas há demanda externa para milho, algodão, frutas, madeira, proteína animal etc.
A demanda por commodities minerais também é crescente. O desdobramento dessa expansão do mercado mundial é dúplice: a restrição de divisas é cada vez menor (com impacto sobre a taxa de câmbio), assim como a relevância do mercado interno para a expansão das cadeias produtivas (já não mais) periféricas baseadas em commodities. Perdemos, ao mesmo tempo, a proteção cambial (as divisas caras) e o bloco histórico (o “centrão orgânico”) que sustentava o Estado nacional desenvolvimentista e suas políticas industrializantes.
Ancoragem cambial e desindustrialização
A crise do Estado desenvolvimentista tem início com a crise da ditadura militar, mas só vai se consolidar nos dois mandatos de FHC. Nos estertores da ditadura, a perda de apoio político ao ancien régime era crescente. Ela advinha, de um lado, da própria urbanização e industrialização, que levava à emergência de um operariado e de uma classe média avessos à concentração de renda e à repressão política. Mas, a partir da crise da dívida externa, emerge uma oposição burguesa ao antigo regime. E o resultado será a fragilização da capacidade de planejamento público nos governos de João Figueiredo e José Sarney.
Mas a desestruturação do Estado planejador não foi acompanhada imediatamente pelo fim da âncora expectacional. Na verdade, a escassez de divisas foi maximizada nos anos 1980. O que vai se traduzir na expansão da participação da indústria de transformação no valor agregado bruto total do país até 1986, quando atinge 27,3% (Morceiro, 2021, Tabela 4).
A participação da indústria de transformação no valor agregado bruto total começa a cair a partir de 1987, mas ainda supera os 20% em 1990. Por quê? Porque a proteção cambial à indústria interna havia sido elevada pelas maxidesvalorizações de 1979 e 1983. É só quando o combate à inflação passa a dar a tônica das políticas econômicas internas que emerge o processo de desindustrialização.
Do Cruzado ao Real, todos os programas de controle da inflação se utilizaram, de uma forma ou de outra, da ancoragem cambial. O congelamento dos preços de 1986 não foi capaz de impedir a emergência de uma inflação interna. Mas a taxa de câmbio do cruzado com o dólar foi mantida rigorosamente estável até 1987, impondo a sobrevalorização da moeda interna e a exposição competitiva da indústria.
No Plano Collor a exposição competitiva foi ainda maior, pois o sequestro das aplicações financeiras em moeda nacional estimulou a venda de dólares, que levou à queda do valor da divisa. Por fim, com a emergência do Plano Real, a ancoragem cambial – e, o seu desdobramento necessário, a sobrevalorização da moeda interna – passa a ser a política estruturante do controle dos preços. O resultado dessa estratégia de combate à inflação é a queda persistente da participação da indústria de transformação no valor agregado bruto total, que será de meros 13,8% em 1998.
De 1999 a 2024, a participação média do valor agregado bruto da indústria de transformação no valor agregado bruto total praticamente não se alterou. Não obstante, a estabilidade da média esconde flutuações muito esclarecedoras. Entre 1999 e 2006, a participação média da indústria de transformação no valor agregado bruto total voltou a crescer e atingiu 16%.
Tal como procurei demonstrar no terceiro e quarto capítulos de A economia política do atraso, essa recuperação da indústria de transformação no valor agregado bruto total não pode ser atribuída a qualquer inflexão das políticas industriais e fiscais de Malan/Fraga (segundo mandato de FHC) ou Palocci/Meirelles (primeiro mandato de Lula) com relação às políticas de Malan/Franco (primeiro mandato de FHC). A fugaz recuperação da indústria de transformação resultou das desvalorizações de 1999 (com o fim da âncora nominal estrita) e de 2001-2002 (com a especulação contra o real alimentada pela expectativa de eleição de Lula).
Com a revalorização do real – derivada da política monetário-cambial ortodoxa de Meirelles e, posteriormente, de Tombini – a participação da indústria de transformação no valor agregado bruto volta a cair. No período 2007-2014, a participação média será de 14,3%; mas, mais uma vez, a média é ilusória: a queda é persistente ao longo dos oito anos e a participação da indústria de transformação no último ano da série será de meros 12%. Uma participação que irá persistir no período 2015-2024.
Por que a ancoragem cambial é tão perversa para a indústria de transformação? Porque ela só funciona como âncora dos preços dos bens tradables, vale dizer, dos bens importáveis e exportáveis. São três os setores que produzem tradables: a agropecuária, a indústria extrativa mineral e a indústria de transformação. Os bens oriundos da construção civil e dos serviços não são tradables (transportáveis), não podem ser importados e, assim, seus preços internos não são afetados pelas variações na taxa de câmbio.
Ocorre, porém, que o Brasil tem vantagens competitivas estruturais na produção agropecuária: somos o único país do mundo que pode ter até três safras de verão no mesmo ano. E contamos com vantagens competitivas estruturais na produção de inúmeras commodities minerais. Além disso, a fome de commodities da China tem colocado seus preços em níveis ímpares, muito superiores aos praticados no século passado; o que torna esses setores imunes aos efeitos perversos da ancoragem cambial.
De outro lado, não existem vantagens estruturais na indústria de transformação. Elas têm que ser construídas e reconstruídas sistematicamente, a partir de investimentos inovativos, que dependem da existência de “âncoras expectacionais”; seja no plano da preservação de políticas industriais e de apoio à inovação, seja no plano da estabilidade (ou aumento) da exposição à concorrência externa.
Nunca contamos com estabilidade política e das políticas industriais; mas contávamos com proteção cambial. Não contamos mais. E ainda há quem se pergunte por que a indústria de transformação passou, de locomotiva da economia interna entre 1932 e 1980 (quando crescia a mais de 9% a.a.), para o “vagão que freia o comboio”, a partir de 1981, quando passou a crescer 0,89% a.a. (vide os capítulos 1 e 2 de Paiva, 2025).
O problema maior é que – ao contrário do que tantos pretendem – a inflação não se encontra sob controle no Brasil. Entre julho de 1994 e dezembro de 2024 inflação total foi de 753,05%: duas vezes superior à média mundial e três vezes superior à média da chamada “Ásia Emergente”, onde se encontram os países (como China, Índia, Indonésia, Malásia e Vietnã) com as maiores taxas mundiais de crescimento do PIB. Por que é assim?
Procurei explicar as determinações de nossa inflação nos três últimos capítulos de Paiva, 2025. Mas o ponto de partida é facilmente compreensível: basta observar os diferenciais da taxa de inflação setoriais. Entre julho de 1994 e dezembro de 2024 a inflação acumulada em tradables foi de 482,60%; em não-tradables, foi de 861,5%; e no setor de bens e serviços “monitorados”, foi de 1168.74%. Vale dizer, a inflação nos bens e serviços (pretensamente) “monitorados” foi 2,42 vezes maior do que em tradables; uma diferença de 686,13 pontos percentuais.
A verdade é que nossa inflação é particularmente elevada nos segmentos que não são controlados pela ancoragem cambial: “monitorados” e não-tradables. Os primeiros são, fundamentalmente, os serviços privatizados por FHC, os quais contam, tanto com sistemas de indexação automática, quanto com elevado poder de monopólio: seus preços sobem muito acima da média.
Por sua vez, o segmento de não-tradables – serviços e construção civil, responsáveis por 70% do emprego formal e informal da economia – passou a ter seus preços inflados pela pressão de custos associada às políticas salariais do PT, que buscam deprimir a concentração de renda pela elevação do salário-mínimo nominal acima da inflação pregressa.
O que resulta no ciclo recorrente: (i) a inflação emerge em monitorados e em não-tradables; (ii) o Banco Central eleva a taxa de juros básica com vistas a ampliar o diferencial entre os juros internos e os externos e atrair hot Money; (iii) o diferencial de juros leva à ampliação do fluxo de capital e das reservas; (iv) parte do excedente de divisas é jogado no mercado e o preço do dólar cai; (v) os produtos importados caem de preço, pressionando a margem de lucro da indústria de transformação. E só da indústria de transformação. É nóis!
FHC e Gustavo Franco berram que nossa desindustrialização resulta apenas da incompetência do empresariado industrial, incapaz de investir e inovar. Nem tente perguntar a eles por que, então, a indústria de transformação crescia a 9% a.a. em nossos “Anos Dourados”. Eles não saberão responder. O problema não se encontra neles. O problema se encontra no fato de que nove em cada dez economistas e “achólogos” de esquerda concordam com eles.
A era FHC
A era FHC é irredutível ao Plano Real e à exposição competitivo-cambial da indústria de transformação. Na verdade, o Plano Real foi a concessão necessária à inauguração dessa nova fase de nossa história. As eleições de 1989 evidenciaram os riscos inerentes ao sufrágio universal para a Presidência da República. Impedir a eleição de Lula já nesse pleito foi uma tarefa árdua. Se não houvesse controle da inflação, o PT seria alçado à Presidência da República em 1994.
E um eventual governo popular se depararia com um amplo conjunto de instrumentos para recuperar as políticas desenvolvimentistas da “Era Vargas”, colocando os aparelhos do Estado a serviço da inclusão social e da distribuição da renda e do patrimônio. Era preciso emascular o Estado ainda mais.
A Constituição de 1988 já havia ampliado o controle do Poder Legislativo sobre o Orçamento, o poder de fiscalização dos Tribunais de Contas e do Ministério Público sobre o Executivo além de ter, na prática, autonomizado o Banco Central: desde 1988, que o Presidente da República apenas indica o agente responsável pela definição da taxa básica de juros e, por extensão, pela taxa de câmbio, pela exposição competitiva industrial e pelo padrão de organização e concorrência do sistema financeiro. Tal como no caso dos Ministros do STF, após a promulgação da “Cidadã”, era o Senado que aprovava – ou não! – o Presidente do Bacen. A definição final cabe ao Senado. Ouvida a Febraban, claro.
Mas, na concepção de FHC, esses movimentos de emasculação do Poder Executivo ainda eram insuficientes. Era preciso extirpar seu “excessivo” poder de apropriação de excedente, de investimento e de interferência sobre o sistema de preços (e, por extensão, sobre o sistema distributivo) através da privatização do complexo produtivo estatal, desde a rentável mineradora Vale do Rio Doce, até o complexo Siderbrás, parte expressiva do sistema elétrico, o sistema de comunicações e telefonia, os transporte ferroviário, parte do sistema rodoviário (via concessão e pedagiamento), todo o sistema financeiro dos Estados Federados e parte do sistema financeiro federal. Mais: com a criação das Agências Reguladoras retirava-se autoridade do Executivo Federal no controle dos preços e da qualidade dos Serviços Concedidos.
Esse último movimento – que FHC caracterizou como o marco do “início do fim da Era Vargas” – não era menor: ele retirava do Executivo poder de monitoramento efetivo dos preços dos serviços privatizados, o que levaria a taxas de inflação exorbitantes, as quais seriam enfrentadas através da âncora “juro-câmbio”. É um golpe de mestre. De um lado, criava-se uma nova burguesia de estufa, filha e cliente do patriciado tucano. De outro, assegurava-se a estruturalidade de taxas de juros elevadas e, por extensão, da elevada rentabilidade do segmento financeiro que havia “sofrido perdas” com a queda da inflação.
Afinal, o sistema de controle de inflação adotado desde 1994 está baseado na ancoragem cambial via sustentação crônica de um diferencial entre os juros internos e os juros internacionais: essa é a condição necessária à obtenção do saldo positivo na Balança de Capital, capaz de compensar o déficit em transações correntes (tornado estrutural a partir da internacionalização dos setores de serviços e finanças) e controlar a taxa de câmbio.
Além disso, FHC extinguiu (via PEC) a diferenciação entre capital nacional e estrangeiro, limitando o poder discricionário do Executivo Federal para operar políticas industriais de cunho nacional-desenvolvimentista. Também aprofundou a autonomia do Banco Central através da virtual extinção do Conselho Monetário Nacional. E, por fim, acicatou ainda mais a autonomia dos Executivos das três esferas da Federação na gestão do orçamento e administração de dispêndios através da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A LRF – que ampliou o poder de fiscalização e jurisdição dos Tribunais de Contas – foi introduzida no último de seu segundo mandato, de forma a controlar os dispêndios dos futuros administradores, sem incidir sobre os oito anos de seus dois mandatos.
Conclusão
Para a surpresa de seus artífices, a “emasculação” e depressão da capacidade e autonomia de gestão e planejamento do Executivo não foi suficiente para impedir quatro eleições consecutivas do PT para a gestão nacional. Dilma teve que ser derrubada por um golpe e Lula teve que ser preso e silenciado para que Michel Temer e Jair Bolsonaro fossem guindados à presidência na tentativa de “completar a obra de FHC”, com novas privatizações, aprofundamento das circunscrições legais à administração fiscal e aprofundamento da autonomia do Banco Central. E, mesmo assim, Lula foi eleito em 2022, impediu o golpe de 2023 e, muito provavelmente, assumirá um novo mandato em 2026.
Não é difícil explicar o sucesso das gestões petistas: elas colocaram os pobres no orçamento, promoveram a distribuição da renda e, por extensão, ampliaram o multiplicador da economia, com impactos positivos sobre a renda e o emprego global. Mas não foram capazes de reverter a fragmentação do Estado, as privatizações e a autonomização do Banco Central, que retiram controle efetivo do Executivo sobre a política econômica e, por extensão, impedem a retomada de uma política desenvolvimentista e industrialista eficaz, eficiente e efetiva.
Um tal movimento só seria possível se, para além da base popular, os governos do PT pudessem contar com um segmento do empresariado que desse sustentação efetiva ao projeto de reindustrialização nacional. Esse segmento deixou de existir desde o momento em que a (antiga) periferia passou a contar com um mercado externo crescente para sua produção agropecuária e mineral excedente.
É possível reconstruir um bloco histórico desenvolvimentista? Sim, é. Mas, para tanto, seria necessário desatar o nó górdio da economia nacional: a inflação. A verdade é que o Plano Real não colocou a inflação interna sob controle efetivo. A inflação em monitorados e em não-tradables é exorbitante para os padrões internacionais. E a depressão da inflação média se faz pela exposição competitiva que está destruindo a indústria. Aqueles que clamam pela queda da taxa de juros estão certos.
Mas também estão certo aqueles que afirmam que, com juros menores, haverá desvalorização do real e a inflação em tradable voltará a emergir. E isso não só porque com um menor diferencial nas taxas de juros interna e externa o ingresso de hot money para cobrir o déficit crescente em transações correntes iria diminuir. O ponto central é de ordem expectacional: aqueles que apostam numa fuga para o dólar fugiriam primeiro. Levando ao efeito manada, tão típico de nosso sistema financeiro (nada) nacional.
*Carlos Águedo Paiva é doutor em economia pela Unicamp.