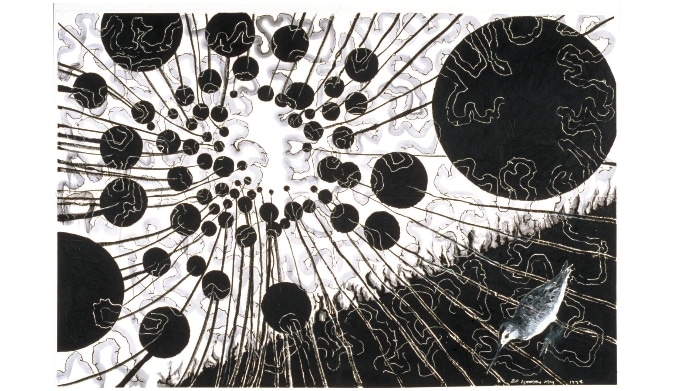Por GEDER PARZIANELLO*
O modo como significamos o sofrimento do outro é um sintoma de nossa frequente incapacidade de exercermos a alteridade
Diante da devastação da vida pelo neoliberalismo, como quando milhares de cidadãos brasileiros morreram em razão do atraso na compra de vacinas pelo governo federal na pandemia da Covid-19, das disputas mesquinhas e criminosas por propinas de um dólar a dose de imunizantes, conforme evidências da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), em 2021, bem como do cenário inacreditável de hospitais que orientaram, oficialmente, a prescrição da cloroquina a internados e a suspensão do tratamento recomendado internacionalmente, por razões de custos, levando à morte inumeráveis vítimas com diagnóstico de contaminação pelo coronavírus, fica mesmo muito difícil acreditar que sujeitos possam aprender com a dor do outro.
Em muitos aspectos e, infelizmente, para um contingente ainda considerável de pessoas, a pandemia não ensinou absolutamente nada, sobretudo, em relação a como colocamos interesses privados ainda acima das questões coletivas. A nova onda de contaminados no Brasil com a Covid-19 neste começo do inverno e o flagrante de que as vítimas fatais são absolutamente dentro da população não vacinada ou com imunização incompleta, reacende o debate sobre o quanto ainda iremos demorar para compreender a relação entre informação e empatia.
A insana posição de negacionismo da ciência e contrária ao trabalho do Instituto Butantan, em São Paulo, as injustiças que dali se seguiram, os lutos inaceitáveis e a falta absoluta de empatia associada à discursividade em favor dos CNPJs e não da vida, reforçam o cenário de episódios atropelados na inépcia deliberada do Estado, na falência estratégica da gestão em saúde pública pelo governo federal e num diálogo neurotizante nas esferas públicas, sobretudo digitais, fechadas ao sofrimento do outro e carregadas de discursos de ódio e indiferença.
O mês de maio de 2022 foi estarrecedor para quem tem um grau, por menor que seja, de humanidade. O assassinato como em câmara de gás de um cidadão por policiais no Sergipe, a execução de dezenas de pessoas em “operação de inteligência” no Rio, o fuzilamento de crianças, agravado pela demora de mais de uma hora para uma ação efetiva de policiais, e tantos outros acontecimentos são atos horrendos e com forte determinação social e que se encontram sustentados por uma lógica de extermínio sumário via orientação de que mesmo suspeitos recebam “um tiro da cabecinha” (lembram?) retroalimentada por um comércio de armas flexibilizado, associado a uma necessidade patológica de demonstração de força e de poder, notadamente marcada pela cultura de reafirmação da masculinidade, de ânsia pela dominação e do controle ostensivo.
O neurocientista e professor emérito da UFRJ, pesquisador do Instituto D’Or, Roberto Lent, chama a atenção para o fato de que é preciso que, ao lado de determinantes políticos e sociais, se dê maior atenção aos cérebros psicóticos, investigando razões para que certas pessoas matem e torturem com absoluta frieza, com sinais de adoecimento mental como as psicoses. Ainda mais porque essas psicoses já aceleram processos estruturais de violência a nossa volta em nossos cotidianos.
Lent destaca uma pesquisa recente de pesquisadores chineses os quais examinaram a dinâmica entre redes cerebrais e funções neuropsicológicas. Descobriram sinais diferentes entre psicopatas (que são, geralmente, mais violentos) e os esquizofrênicos (que sofrem com alucinações porque interpretam a realidade com total anomalia). Precisa haver, segundo Lent, uma melhor seleção para que policiais com diagnósticos assim não sejam autorizados a exercer a atividade, colocando em risco a vida de outras pessoas. Obviamente, as instituições de segurança pública possuem contingentes muito profissionais, altamente preparados em outros tempos e capacitados para as funções que desempenhavam. Não se pode generalizar, demonizando a figura do policial. Mas há excessos e eles precisam ser punidos.
É profundamente constrangedor como o discurso social em defesa de posturas mais sensíveis a uma comunicação balizada por pontos de vista universais (polis) tem sido rechaçado por participantes de um diálogo marcado por desejos particulares (oikós) nas atuais esferas públicas, onde fizeram predominar o ódio, a intolerância e o desrespeito, escrachando total egoísmo e banalizando a morte.
A dor do outro só pode ser percebida quando passamos das emoções aos sentimentos. Emoção é algo privado: ela é objetiva e momentânea, circunstancial e passageira. Já os sentimentos são subjetivos, se potencializam na coletividade, dão sentido a mundos em profundidade e não se consegue teatralizá-los. Emoções nós demonstramos e podem ser encenadas. Sentimentos não. Lutas como a dos direitos humanos, por exemplo, buscam atravessar a linha do emocional para atingir a subjetividade que injustiças significam. Não é suficiente nos comovermos com violências e com a desumanidade que ignora direitos humanos: é preciso que se possa percebê-las sentimentalmente porque só isso nos move da complacência espectadora com o que é inadmissível em nossas condições, como “humanos”.
Críticos a formações discursivas em torno dos direitos humanos vêm dizendo-se cansados do que chamam de narrativas melodramáticas que desgastaram, na sua visão, pelo uso excessivo, o termo ‘empatia’, ligeiramente marcado na produção de sentidos com um viés claramente ideológico e no qual a percepção que predomina é a de proteção a bandidos. De outro lado, nos sentimos cansados com a cruel indiferença à dor alheia, com a intencional naturalização do sofrimento e das mortes que poderiam ter sido evitadas (na pandemia e fora dela, nas violências de todos os dias) e com o espectro da necropolítica e sua retórica nefasta de isenção à responsabilidade cívica e à falta de integridade moral enquanto que as práticas de destruição e de aniquilamento figuram como valores naturais e o mal é sempre, de novo, simplesmente banalizado. Uma necropolítica na forma do que definido por Mbembe de um poder que decide quem vai viver e quem vai morrer.
Espaços públicos
A comunicação praticada nos espaços públicos tem teatralizado também, muitas vezes, a capacidade de indignação real em relação à dor do outro e feito aumentar a sensação de nulidade da compreensão empática. Nossa capacidade reativa e de demonstração de sensibilidade, hoje, dura ainda um tempo bem menor que os curtos minutos de cobertura jornalística em mídia de referência sobre brutais acontecimentos como a morte de cidadãos periféricos ou de minorias, o assassinato de cidadãos inocentes na vida urbana pela mão da polícia, como balas perdidas vitimando crianças dentro de casa ou as injustiças e desumanidades numa lógica perversa em torno da diversidade e da intolerância às diferenças. Suspiramos segundos de revolta quando uma bala “perdida” mata uma criança. E praticamos uma cômoda consternação diante do mundo que se segue à emoção representada no convencional de nossa cultura. A matriz cultural econômica nos faz pensar que é “vida que segue”. Mas, para quem?
Nossa contrariedade dura o tempo, hoje, da passagem por um post em redes sociais na rolagem frenética de nossos dedos em telas de tecnologia móvel de nossos smartphones e tablets: a percepção na ponta dos dedos. Poucos caracteres simulam denúncias e solidariedade que julgamos suficiente numa demonstração de nosso pressuposto humanismo, manifesto desde o lugar dos nossos confortáveis sofás em nossas casas e ainda dizemos “tamo junto” como se isso confortasse de fato alguém no momento da dor. Nos dizemos solidários ao sofrimento de famílias que perderam tudo, em decorrência de deslizamentos de terra e da lama que cobriu partes urbanas de bairros inteiros porque vimos cenas na televisão ou nas redes sociais. Militantes por justiça social na clausura de nossas individualidades extremas, achamos que a tela nos aproxima. A utopia dos primeiros idealistas da leviana promessa da tecnologia digital não se confirmou.
Somos, de fato, cada vez menos capazes de um gesto político de acolhimento. Notas de repúdio não são mais suficientes (jamais foram) e se tornaram tão ineficazes quanto a reprodução de clichês nos discursos de resistência no universo digital e que apenas criam e reforçam estereótipos de uma humanização aparente que serve mais ao conforto de nossas consciências que ao dever de se estender aos sentimentos do outro e fazer-lhe alguma substancial diferença prática. Já não produzem sentidos as diversas palavras de força nos contradiscursos circulantes. Significantes vazios.
O modo como significamos o sofrimento do outro é um sintoma de nossa frequente incapacidade de exercermos a alteridade, conceitualmente, na tradição grega do termo, como o exercício de colocar-se no lugar do outro, de perceber o outro como uma pessoa singular e subjetiva e de fazer, através dela, que o sofrimento alheio seja, ao mesmo tempo, amenizado por alguma sensação efetiva de justiça e que possa promover algo distante de apenas nossas reações comunicativas protocolares nas esferas públicas digitais.
O sofrimento pela alteridade também tem um risco de aprofundar a violência à medida que aumenta a vulnerabilidade do outro, conforme soube definir, objetivamente, Iris Young, em 2001, filósofa e cientista política norte-americana, ao publicar Comunicação e o outro: além da democracia deliberativa. É preciso alguma dosagem como a busca de um equilíbrio, mas nessa disputa, talvez, estejamos perdendo com larga desvantagem, por não sabermos criar uma comunicação nas esferas públicas que de fato contemple transformações do espaço da polis com efeito nas instâncias decisórias e de mobilização da opinião pública virtualizada.
Iris Young, em trabalho publicado postumamente, trouxe importante contribuição também para a teoria da justiça social a partir do conceito de responsabilidade. Nosso estágio evolutivo não traz, para o campo social da comunicação vivida nas esferas públicas digitais, a responsabilização que cabe a quem promove a violência. Há muitas lutas legítimas em torno delas, suas visibilidades são, sem dúvida, necessárias, mas não podem sombrear o essencial: é preciso apontar o dedo para o problema mais profundo ainda que as injustiças sociais todas como o racismo estrutural, ou o feminicídio, o genocídio de minorias ou a aniquilação de sujeitos cujos corpos julgam-se incredulamente como corpos sem dignidade sejam lutas necessárias e urgentes.
É preciso ver em todas as formas de violência o caráter desumano e inaceitável à própria espécie. Não há como compreender a psiquê de um sujeito que, em sua condição de policial rodoviário federal, considere circunstancial e justificável o tratamento de violência que busca asfixiar um outro (um sujeito da mesma espécie) a quem submete num estágio de outremização e que promova a prática de uma dedetização humana, como aconteceu recentemente em Sergipe, tirando a vida de outra pessoa por deliberada restrição do oxigênio, num ato de tortura que não se suporta imaginar sequer contra uma vida animal quanto mais contra um mesmo ser humano.
Selvageria brutal inacreditável, ainda mais vinda de policiais rodoviários federais. Quem é este ser que se julga superior por sua farda a agir sobre outro que considera inferior a ponto de tirar-lhe a vida com gás lacrimogênio e spray de pimenta, forçando-o a tentar respirar em um local fechado, submetendo a pessoa a uma tortura de buscar pela vida em meio à falta de oxigênio enquanto o policial pressiona a tampa do porta-malas da viatura diante da agonia do outro em busca desesperada por ar, na ânsia de sobrevier à tortura por asfixia, agitando suas pernas para fora do porta-malas?
Desumanidade
É a desumanidade do tratamento policial que deve ser o tema a ser debatido. Só que não estamos sabendo usar as esferas públicas para levantar a real causa do problema. São lutas diferentes: aquela da consciência em torno dessas injustiças todas como a luta antirracista e profundamente necessária e a do preconceito contra a condição social associada a uma presunção de hierarquia de forças, movida por uma total falta de preparo dentro das instituições de segurança pública e uma formação desumana com falsas noções de autoridade.
Ambas convergem num ponto que de fato nos interessa em favor de uma sociedade evolutiva: não é uma batalha somente contrária a fundamentalismos e crimes sejam eles raciais, de classe, de orientação sexual, ou de gênero: há policiais negros que já submeteram mulheres não brancas à agonia de um joelho forçado contra o pescoço, por exemplo, impondo a força do controle da vida numa posição agonística inaceitável contra outra pessoa.
Estes episódios precisam ser vistos enquanto desumanos e inaceitáveis para além de preconceitos ou racismo. São pais matando filhos, filhos matando pais, são violências para além das fenotipias e das condições sociais econômicas, de classe, de gênero ou de qualquer outra rotulagem classificatória, ainda que estas sejam lutas igualmente urgentes e que de fato a incidência de vítimas por razões de pele ou gênero sejam mais frequentes que outras. O que estamos vendo acontecer são adoecimentos. São humanos matando aos seus, e esta é uma percepção que precisa ser levantada. Que precisa ser levada no debate familiar, nas escolas, mas, sobretudo, nas forças policiais em seus treinamentos, nos cursos de formação e em procedimentos diários de abordagem aos cidadãos, criminosos ou não. A polícia não tem que ser menos rigorosa no enfrentamento à violência porque alguém é gay ou negro, pobre ou de qualquer que seja a sua etnia. Mas porque somos todos humanos.
Assistimos quase complacentes a cenas diárias de flagrante violência e assombroso desrespeito à vida e à dignidade da pessoa. Os policiais rodoviários que sufocaram até a morte Genivaldo dos Santos, em Sergipe, no final de maio deste ano, detido porque dirigia uma moto sem uso de capacete, achavam que faziam seu trabalho devidamente. Genivaldo foi tratado como suspeito de um crime porque não usava capacete. Nada lhe aconteceria se ele fosse o presidente. Alguns corpos são vistos como dignos de respeito, de estima e consideração, mas na estética do preconceito, não há lugar de dignidade a quem comete uma infração de trânsito se estiver de bermuda e camiseta, usando chinelos, e se a moto que estiver dirigindo não for nem nova nem cara, a sua pele não for branca, nem seus olhos forem claros para que a abordagem da autoridade policial seja branda e sem exageros. A fenotipia e o CEP de um cidadão continuam definindo seu tratamento e prescrevendo seu destino. Nascer mulher tem sido também uma condição cada vez mais afetada diante do crescimento de crimes de feminicídio. Mas, a violência é ainda mais generalizada. Não é mesmo circunscrita a rotulagens identitárias ou de orientação. É preciso descolonizar também o que entendemos por identidade.
Emocionalidades twitadas e consternamentos em Facebook ou descrições no TikTok e no Instagram, assim como compartilhamentos em redes a exemplo do Telegram, do WhatsApp ou do Signal, já não expressam sentimentos de nossa humanidade: apenas figuram no campo das percepções, com emoções reguladas, contidas, ritualizadas e passageiras, culturalmente já determinadas, e colonizadas, portanto. Reproduzem discursividades igualmente ideológicas como as que elas próprias condenam. Mandela discursou pelo sonho de uma humanidade em que não houvesse mais a diferença entre brancos e negros não só na África, mas no mundo. Ele tinha consciência de que uma luta pela via da endogenia da raça pode criar sectarismos ainda mais violentos.
Não é por outra razão que nos Estados Unidos, onde se está, comparativamente, muitos anos à frente na luta travada no resto da América contra o preconceito racial, ainda sejam tão visíveis hoje em dia as marcas de racismo e de segregação, como bairros separados por fenotipias, cidades e regiões marcadas por diferenças étnicas e fronteiras dividindo o direito de humanos a uma vida em paz e segurança. Recolhemos há pouco tempo nos braços crianças que morreram nas águas da costa da Grécia, quando suas famílias tentavam atravessar o mar em direção à Turquia, na condição de refugiados da Síria. Aquelas cenas impactantes pareceram ser uma prova histórica contundente de que talvez a luta por uma sociedade mais equitativa em direitos não deva construir-se por uma perspectiva diferenciadora e que nos separa, brancos de um lado, negros de outro, heteronormativos, e pessoas de diferentes identicações e orientações sexuais e muito menos nacionalidades ou fronteiras geopolíticas.
Somos todos humanos. Enquanto não compreendermos isso, toda luta será apenas uma bandeira endógena de uma minoria no alcance de seus direitos e de afirmação identitária que leva, compreensivelmente, ao cansaço. As lutas precisam ser coletivas, mas os coletivos são revolucionários apenas quando todos unidos, como foram os grandes momentos revolucionários da história, como o maio de 1968, na França: “Etudiants, enseignants, travailleurs, tous unis”.
Uma infração de trânsito como a cometida por Genivaldo não é um crime, nem deveria ser justificativa para que o cidadão pagasse com a própria vida por uma desobediência a leis de trânsito. O recalcamento e a frustração da vida de agentes de segurança, sob estresse diário, não explicam a estupidez e a bestialidade dessas condutas. Não houve resistência por parte de Genivaldo, ele não se mostrou violento nem estava armado, embora um boletim interno da PRF, segundo relatos na imprensa, descreveu o contrário, ao mesmo tempo em que qualificou a morte de Genivaldo como um “mau súbito”. Mas há imagens. E precisamos cada vez mais delas para que narrativas não desvirtuem a verdade, nem falseiem os fatos.
Corporações policiais estão voltando a adotar a câmera em viaturas e nas fardas. Elas são uma garantia, sobretudo, aos próprios agentes da segurança pública. Uma polícia despreparada e que baniu de sua formação as aulas sobre direitos humanos, que não avalia as condições psicológicas de agentes em suas corporações, permitindo que suas frustrações e recalcamentos sejam canalizados na expressão de poder nas ruas, na dominação que julgam ter sobre a vida dos outros e no excesso de erros de conduta de abordagem, nos fazem desacreditar que cidadãos estejam de fato protegidos por aqueles que têm, justamente, o dever constitucional de fazê-lo.
Não se trata de politizar o argumento com um falso silogismo, como se a ideia fosse fazer crer que estamos querendo defender que a polícia seja suave com bandidos perigosos. Mas é sempre contra quem não oferece nenhum perigo que esta valentia se ensaia, enquanto não se tem coragem de enfrentar milícias, nem o crime do narcotráfico e tampouco se mostra valentia alguma contra quem, de fato, anda armado, comete delitos graves e ameaça pessoas. É incrível que ainda estamos num Brasil que pune quem furta comida e absolve quem comete crimes muito piores, conforme o Código Penal. Não dá para entender porque essa necessidade de demonstração de força para a opinião pública quando se sabe que nem a polícia pode entrar em certas áreas de algumas cidades. A imagem pública dos agentes de segurança foi muito mais destruída por eles próprios e suas ânsias de mostrar valentia, coragem e determinação, só que contra pessoas erradas. É fácil ser corajoso contra quem não oferece perigo.
Emoção dramatizada
Choramos mais pela emoção dramatizada na teledramaturgia que nas cenas do cotidiano que superam qualquer enredo de ficção. Estamos como que vacinados para o universo das notícias. Na sociedade desorientada de nossa cultura-mundo, como descreve Gilles Lipovetsky, vamos perdendo referências de significado e de sentido.
Neurotizamos a audiência televisiva e deletamos de nossas bolhas sociais tudo o mais que afete o imperativo categórico da retórica pela nossa felicidade. A agudeza da crueldade e a perversidade do mundo que nós próprios consentimos se agigantaram na superação a qualquer previsibilidade e a lucidez se tornou insuportável, como descreveu o cineasta espanhol Pedro Almodóvar. Nas diversas plataformas de espaços públicos virtuais, alimentamos uma comunicação meramente constatativa acerca da brutalidade, da desumanidade e de tudo que fere nossa condição humana a ponto de preferirmos, por saúde mental e autosobrevivência mesmo, nos resignarmos ao papel de sabê-las sem efetivamente senti-las, como que se emocionalizadas, elas estivessem resolvidas em nossas consciências. Afinal, precisamos ser felizes. Se não os outros, pelo menos nós. É o que inacreditavelmente pensamos no individualismo exacerbado de nossa era. A individualidade imperiosa numa época de incertezas, como denunciara Zygmunt Bauman.
Vinte anos de tragédias se sucedem nas cidades brasileiras com deslizamentos de encostas, corpos soterrados na lama: famílias que perderam tudo. O horror de desumanidade se repete. E nos tornamos telespectadores das esferas públicas digitais reproduzindo a audiência massiva na televisão aberta com seus rituais de emocionalidade. Nos impactamos. Mas muito pouco fazemos. Nossa capacidade reativa é domesticada pelo imaginário da superindústria, com o capital transformando nossa sensibilidade e capacidade de olhar, “se apropriando de tudo que é visível”, como diz Eugênio Bucci.
Phillip Schlesinger (2022), pesquisador pela Universidade de Glasgow, reforça que a esfera pública é ainda o principal locus da comunicação política e das estratégias e táticas que caracterizam este tipo de comunicação social. Subestimamos, a todo tempo, a potencialidade real das mídias sociais, do uso das redes e de sua força mobilizadora. Habermas, ao propor o conceito de esfera pública como algo que está ao redor, como espaço do logos e de instâncias decisórias, nos anos 1960, admitiu (embora só no final da década de 1990) que havia sido muito pessimista e, por muito tempo, com o potencial crítico de resistência dessas esferas públicas não episódicas nem presenciais, pela maneira como pensou essas mídias enquanto esferas públicas, erroneamente tomadas noutro sentido no começo e não como sinônimos de comunicação mais ampla, com suas trocas simbólicas.
Efetivamente, Jürgen Habermas nunca se colocou como um teórico de mídia, mas como autor de uma teoria da comunicação e do discurso, o que faz com que não faça mesmo muito sentido criticá-lo por esta limitação por ele propriamente assumida. Seguidor da tradição de Adorno e Horkheimer pela Escola de Frankfurt e da teoria crítica, além de uma das mentalidades mais vigorosas entre intelectuais vivos que logo mais completam um século de vida (em 2029, ele fará cem anos) e ainda hoje nos impressiona por sua capacidade de pensar o futuro para muito além de seu tempo. Pude assistir algumas de suas aulas e conferências na Alemanha, no começo dos anos 1990, e dialogar com ele, ainda que rapidamente, quando soube que como brasileiro e fluente em alemão, eu estava entre seus alunos naqueles imensos auditórios.
Os colegas pesquisadores da Comunicação Luis Martino (ESPM) e Ângela Marques (UFMG) resgataram essa condição habermasiana, lembrando que o próprio Habermas assinalara, em 2004, que somos dependentes da condição moral de nossa apreensão e capacidade de reconhecimento (empatia) em relação ao sofrimento do outro, sendo preciso sentir “com o outro”, conforme apropriação que o filósofo alemão fez de George Herbert Mead a respeito das interações comunicativas. “Trata-se de um trabalho ético de compreensão dos motivos e das razões”, dizem Martino e Marques (2021), para assumirmos a dor do outro como nossa. Axel Honneth e Nancy Fraser darão prosseguimento a reflexões sobre como construímos esse reconhecimento.
A empatia não pode ser vista/percebida como resposta que ameniza as assimetrias e desigualdades que definem as condições de reconhecimento e não reconhecimento de sujeitos e de grupos (YOUNG, 2001). Ela precisa ser dimensionada como parte do estágio de fato evolutivo de nossa condição humana e de reiteração dos valores universais e de coletividade.
Podemos nos perguntar, com Habermas (2014), em que medida uma esfera pública dominada pelos meios de comunicação de massa (ou das massas) fornece a oportunidade real de mudança. E a isso acrescentarmos: quanto ainda nos falta em capacidade comunicativa para que possamos aprender o uso de esferas públicas como a internet e as mídias digitais enquanto espaços de reforço a valores universais e de coletividade e não mera liberdade de nossa dimensão privada e de uma expressão opinativa?
Esferas públicas digitais
Opinião todo mundo acha que tem. A maioria nem enxerga que nunca somos, de fato, donos de nossas próprias ideias. Somos produto de discursos que nos atravessam na materialidade histórica, como compreendera Pêcheux e toda tradição da análise do discurso francesa. No jogo de tensão inevitável que instaura a linguagem por discursos em disputa, a conformidade de mundo nos vai sendo dada. O dizer e o dito nos interpelam em formações discursivas cada vez mais mediatizadas.
Ao pensarmos se temos, de fato, feito com que as esferas públicas digitais favoreçam a uma produção de sentidos na direção de uma humanidade mais evoluída ou se apenas estão sendo usadas como mídias em favor de distopias, acabando por reforçar ideologias destrutivas, de retrocesso e desencantamento, aniquiladoras da esperança e, sobretudo, negacionistas, simbolicamente marcadas por gestos de “arminha” com as mãos, pela ideia estúpida de que se deva armar a população quando a segurança pública não consegue enfrentar o crime real. É o Estado buscando eximir-se cada vez mais do seu dever. É o neoliberalismo valorizando o comércio de armas, não importando as graves consequências disso, haja vista a facilidade de aquisição de armamento pela população civil e o aumento histórico nos crimes por esta facilidade de acesso. Não houve diminuição da criminalidade nos Estados Unidos com a facilidade no comércio de armas e não há razões plausíveis porque o seria no Brasil.
Talvez as esferas públicas digitais tenham servido demais para reforçar consciências ilusórias de que é preciso matar para resolver, que mortes por violência são naturais, que fins justificam os meios e que quando não se consiga combater o crime estruturado, nem enfrentar as milícias, os guetos e as áreas urbanas onde sequer a polícia pode entrar, como no narcotráfico, o Estado possa lavar as mãos por inépcia absoluta e buscar isentar sua responsabilidade nessas mortes.
Sem saber agir frente ao problema social da cracolândia, por exemplo, nossa segurança pública e nossos governos projetam como inimigos aqueles que podem enfrentar e usam suas fraquezas para reafirmar sua força combatente, aquela que não possuem, tentando construir com isso uma imagem diferente junto à opinião pública. Só fizeram reforçar o contrário.
Algemar e asfixiar Genivaldo é fácil, não é prova nenhuma de ação de combate da polícia à violência. É, ao contrário, a confirmação de um treinamento débil e de uma condição bestial com que agentes de segurança organizam suas sinapses descontroladas, afetados pela matriz do pensamento populista em que o inimigo é sempre o outro. Mais importa parecer que ser. Nem que para isso, se aniquilem vidas como se fossem desnecessárias, descartáveis ou as mortes decorrentes dessa mentalidade sejam ditas como naturais.
A dor de dizer essas coisas não é maior que a dor de silenciá-las. Quando uma patrulha do Exército brasileiro dispara mais de 200 tiros contra um carro de uma família negra no Rio de Janeiro, como aconteceu em abril deste ano, porque supostamente os confundiu com bandidos e as mídias sociais não souberam e nós não soubemos fazer através delas, com que a questão do despreparo e da desqualificação na formação militar fossem tema devidamente levantadas na opinião pública, temos uma equação a ser revisada. Usamos muito mal as esferas públicas digitais.
Precisamos forçar a que a sociedade exija a revisão de procedimentos e condutas dos militares, transparência e visibilidade de seus treinamentos, reorganização de suas cartilhas de ação, até que violências dessa extensão não aconteçam. Porque elas não são acidentais, elas são marca indelével de seu despreparo. Não são um “incidente”, porque ninguém pode alegar confundir criminosos com cidadãos inocentes quando dispara 200 vezes. Nossas forças militares estão usando bazuca para matar mosquito. Porque se mostram corajosos e valentes para atacar civis trabalhadores, honrados, pais de família e inocentes.
Mas não enfrentam os reais inimigos da Lei como deveriam. Aceitam que não possam entrar em certas áreas urbanas das cidades ou da própria Amazônia, como algo inevitável, convivem com o crime territorializado, com a imposição de quem decide onde a polícia e o Exército possam ou não entrar. Foi esta mesma segurança seletiva que fez com que mandantes do assassinato do jornalista inglês e do ambientalista, Dom e Bruno, esquartejados no começo de junho na Amazônia permaneçam aparentemente protegidos no anonimato.
As esferas públicas digitais apenas repetem o que se repele nesses episódios. Poderiam e deveriam mobilizar bem mais, exigir mudanças que são necessárias e urgentes. Erguerem-se como vozes empoderadas, deslocando a audiência passiva e apenas comovida com a desumanidade a um novo papel, protagonista, ativo, de cidadania plena e na consciência informativa de que juntos podemos muito mais.
*Geder Parzianello é professor de jornalismo na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).