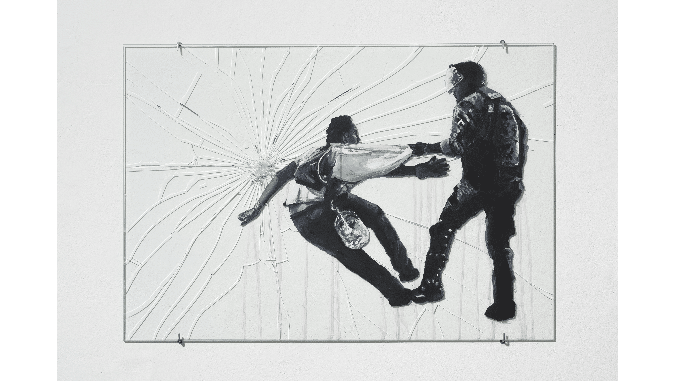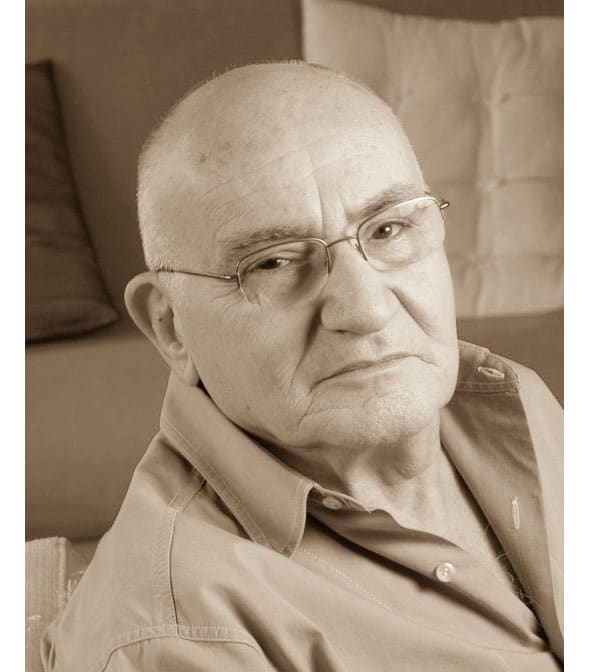Por OSVALDO COGGIOLA*
No período renascentista, os universais do pensamento se reformularam através de um caminho tortuoso dentro do processo histórico convulsivo que modelou o mundo moderno
1.
Nossa condição histórica nos impõe pensar o passado a partir do presente: assim conseguimos “ler” o Renascimento e o Iluminismo como antecedentes ou impulsionadores da sociedade burguesa e do capitalismo, estabelecendo um vínculo invisível para seus protagonistas. O risco envolvido nessa operação é o do anacronismo, vinculado à acusação de “presentismo”: a utilização de uma grade contemporânea para interpretar a história, identificando apenas sua tendência de continuidade com o presente, que certamente existe, mas que representa apenas uma das suas dimensões possíveis.[i]
A vantagem, que é também uma obrigação, é a de se distanciar da ilusão ou pretensão universalista e atemporal das ideias do passado.
Pierre Fougeyrollas se referiu à “modernidade que nasceu com o Renascimento, a Reforma e a conquista das Américas”, caracterizada por cinco paradigmas: (i) A economia de mercado dominando a velha economia de subsistência; (ii) o progresso das ciências e das técnicas objetivando a dominação da matéria não-viva e viva; (iii) os esforços seculares da opinião pública para controlar o poder político, do quadro municipal ao quadro estatal-nacional; (iv) o indivíduo, e não mais o grupo, como valor supremo da vida social; (v) a proclamada preeminência das culturas europeias sobre todas as outras.[ii]
Esses paradigmas resumem a transição para a modernidade. Isolar, porém, a “revolução moderna”, a partir de seus principais processos (o Renascimento, a Reforma Protestante, o ressurgimento do Estado – do qual o Estado absolutista por direito divino seria um passo em direção da emancipação da sociedade do Céu – as revoluções democráticas), incluindo suas causas econômicas e sociais como um fator complementar; isolá-la do contexto mundial caracterizado pelo colonialismo e a escravidão, pode traçar uma história das ideias na Europa,[iii] mas também perder o quadro de conjunto da emergência de uma nova sociedade.
A transição do feudalismo em direção de uma economia mercantil dominada por uma nova classe, baseada em relações sociais diversas e opostas àquelas do Antigo Regime, implicou transformações políticas e jurídicas que agiram como instrumento das transformações econômicas e sociais, sem as quais estas não teriam acontecido. A mesma impossibilidade teria se verificado sem mudanças nos quadros intelectuais (ou “mentais”).
Essas mudanças dariam fim ao Ancien Régime, uma sociedade “caracterizada por um sistema de status, nitidamente delineado, que traçava firmes distinções entre as pessoas, e que fazia umas superiores e a maioria inferiores”,[iv] e pela dispersão do poder. A transição para uma nova sociedade abrangeu etapas transcorridas ao longo de séculos. A fragmentação política feudal começou a ruir com Otto I, o Grande, que restabeleceu um império europeu, onde começou a se verificar um tímido “renascimento” cultural. O reinado do primeiro imperador romano-germânico se iniciou em 962: desde o começo, pretendeu ser o sucessor de Carlo Magno, os últimos herdeiros deste na França Oriental haviam morrido em 911.
Possuía o apoio da Igreja alemã, com seus poderosos bispos e abades; pretendia dominar a Igreja e usá-la como instituição unificadora das terras alemãs, lhe oferecendo poder e proteção contra os nobres. A Igreja, do seu lado, lhe oferecia bens, poder militar e seu monopólio da educação:[v] “A ideia romana de unidade dos povos civilizados e cristãos sob uma única autoridade se firmou com o Imperador Otto. Ao mesmo tempo, as últimas invasões bárbaras eram repelidas, os bandos de sarracenos expulsos, os normandos se estabeleceram de maneira estável no Norte da França, os húngaros, os poloneses, os boêmios e os escandinavos receberam, por volta do ano 1000, o batismo e se juntaram à grande família dos povos que haviam recebido os germes da civilização romana ao abraçar o cristianismo. Uma certa ordem, resultante da estabilização das famílias mais importantes, se introduziu na feudalidade; os primeiros sintomas que anunciavam a próxima constituição das comunas começaram a se manifestar”.[vi]
A constituição de uma precária “ordem continental” prenunciou o declínio do particularismo feudal. Esse fenômeno se imbricava com outros menos visíveis. A base das mudanças se encontrava na esfera da produção da vida social, onde se produziam lentos câmbios: “Preparados por uma evolução obscura, os sinais de um despertar e de um progresso geral se tornaram visíveis a partir de meados do século XI. Camponeses mais numerosos aprendem a tirar melhor proveito do solo, conquistando vastos territórios em cima da floresta, da pradaria e do pântano.
As antigas cidades crescem com periferias, e aparecem centenas de povoados novos. A sociedade se diversifica, algum bem-estar se difunde. A instrução e a cultura progridem, os campos são cobertos por uma admirável série de santuários. Nas fronteiras de Espanha e do Oriente europeu se desenha uma expansão vigorosa. Estados são organizados, a segurança avança. Esses sintomas se manifestam até o final do século XIII, anunciando uma mutação decisiva na formação da Europa”.[vii]
A vida intelectual não permaneceu alheia a isso, no âmbito quase exclusivo em que ela existia na Idade Média, a Igreja. Com base na nunca totalmente eclipsada cultura clássica, nas abadias e monastérios se manifestaram teólogos que começavam a tentar alicerçar as verdades da fé nos imperativos da razão, o que significava, para os defensores da fé pura, conferir à Razão mais importância do que à Revelação.
2.
De modo geral, as mudanças ideológicas formam um todo orgânico com câmbios no conjunto das esferas do agir humano.[viii] Na transição para uma sociedade individualista, dominada pelo mercado e emancipada do domínio da fé religiosa, essas mudanças tiveram pontos de partida definidos, mas suas raízes e raio de ação foram muito mais amplos. Reconhecer seu início na Europa não implica adotar um ângulo eurocêntrico. Foi ainda na Alta Idade Média que se manifestaram, dentro do onipresente cristianismo medieval, os primeiros debates e cisões que levariam para uma nova era.
A polêmica religiosa correu paralela às primeiras manifestações de crise do sistema feudal, e às lutas sociais que evidenciaram essa crise. Por volta do ano 1000, o debate de ideias começou a deixar de ser patrimônio exclusivo das abadias. Os pensadores cristãos se dividiram: uns começaram a manifestar sua confiança na razão para compreender as verdades da fé, outros continuaram a apelar para a autoridade das escrituras, dos santos e dos profetas, limitando a tarefa do pensamento à defesa das doutrinas reveladas.
Entre os primeiros se destacou Berengário de Tours (1000-1088), mestre-escola na catedral de Chartres, que se notabilizou por pregar o uso da razão e da lógica nos domínios da fé, pois essas seriam um presente de Deus, afirmando que quem não recorresse à razão, graças à qual o homem é imagem de Deus, abandonaria sua dignidade. O frei Pier Damiani, em contraposição, negou valor ao raciocínio, afirmando que Deus seria superior às regras da razão.
O vírus racionalista, porém, estava lançado: as novas ideias e comportamentos penetraram, sem volta possível, as instituições cristãs. Situada no século XII, a tragédia amorosa e intelectual de Pedro Abelardo (um clérigo e notável professor, considerado um dos mais importantes pensadores do seu tempo)[ix] e Heloísa, sua aluna brilhante de 22 anos mais nova, que conceberam ilegitimamente um filho e concluíram separados pelo púlpito, pelo convento e a perseguição religiosa, limitando-se a trocar apenas correspondência ao longo de suas últimas décadas de vida, simbolizou em todos os planos (o físico e o espiritual, até então separados por uma barreira intransponível) a nova era que se abria.
O questionamento da ordem feudo-medieval surgia em suas próprias instituições, mas não só nelas. A razão e os estudos científico-filosóficos encontraram uma poderosa corporificação institucional que nasceu na Igreja, mas tendeu a se tornar independente dela.
O movimento das universidades se desenhou no século XI, com a fundação da Universidade de Bolonha (1088); antes delas a base dos conhecimentos estava na Bíblia (os livros pagãos estavam no Index do Vaticano); as únicas instituições comparáveis às universidades eram os mosteiros que se dedicavam ao estudo da teologia, filosofia, literatura e eventos naturais, sob o ponto de vista da religião: “As escolas, mantidas e controladas pelos bispos, atingiram maior desenvolvimento no século XI e se libertaram de sua tutela. De modo semelhante aos burgueses nas cidades, mestres e estudantes se associaram reivindicando para sua ‘universidade’ o direito de se administrar. Em 1221, a Universidade de Paris tinha seu selo, ao modo de uma comunidade”.[x]
As universidades se originaram como extensões dos colégios episcopais, eram organizadas como corporações de estudantes e professores que obtinham seu reconhecimento pela Igreja na forma da licentia docendi[xi] (as universidades da França surgiram a partir de associações de professores, as da Itália compostas por alunos). Organizaram um currículo básico, com as “sete artes liberais”, divididas em Trivium (gramática, dialética e retórica) e Quadrivium (aritmética, geometria, astronomia e música). As primeiras universidades foram as de Paris, Bolonha, Oxford e Cambridge.
Antes da constituição das universidades já existiam escolas de preparação de médicos, como a de Salerno, criada no século X, mas foi somente no século XIII que esses cursos passam a integrar universidades, como também fizeram os de Direito.[xii] Nas palavras de Juan Beneyto, “as universidades nasceram nas catedrais e seu desenvolvimento se vinculou à vida política da cristandade”. A subtração da obediência ao Pontífice determinou, na Espanha, a proibição de frequentar universidades inglesas que, como a de Oxford, se arrogaram liberdades em matéria de ensino da teologia. No meio dessas tensões, que eram as da sociedade toda, as universidades testemunharam do renovado papel dos intelectuais no Medievo; “nunca esteve essa classe social (sic) tão bem delimitada e com tanta autoconsciência como na Idade Média”.[xiii]
Os elementos de dissolução da ordem senhorial fervilhavam em seu próprio interior, e começavam a investir também a produção cultural. A invenção medieval atingiu seu auge ao dobrar-se a metade do século XIII: “No final do século XIII, a Europa tinha tomado a liderança científica global das mãos vacilantes do Islã”.[xiv] Já no século XIV, Filippo Brunelleschi revolucionou a engenharia e a arquitetura, fusionando arte, artesanato e matemática para construir a cúpula do duomo de Florença. O pensamento filosófico não permaneceu alheio a essa onda transformadora.
O racionalismo cristão encontrou seu defensor mais importante em Anselmo da Cantuária (canonizado como Santo Anselmo), um dos fundadores da escolástica medieval; ele expôs um argumento ontológico para provar a existência de Deus, defendendo a ideia de um ser absolutamente perfeito, demonstração de si próprio. Nenhum ser poderia surgir do nada: subjacente a todos os seres contingentes deveria existir um ser necessário.
O argumento de Anselmo seria retomado por outros pensadores cristãos, mas também por alguns dos maiores filósofos modernos, como Descartes, Spinoza e Leibniz. Anselmo distanciou-se de Santo Agostinho,[xv] argumentando que a liberdade fora preservada pelo homem apesar do pecado original, que fez com que o homem perdesse sua liberdade, mas não a capacidade de ser livre, condição que poderia alcançar (ou recuperar) com o apoio da graça divina. A liberdade do homem, portanto, não seria limitada pela presciência divina: Deus preveria o que o homem faria, mas preveria também que o faria livremente.
No escolasticismo, antecipado no século XII, floresceram os maiores vultos do racionalismo cristão, como São Tomás de Aquino (1225-1274), qualificado como ideólogo de uma “revolução passiva”, para quem filosofia e fé cristã eram distintas, mas também harmônicas. A teologia era a ciência suprema, fundada na revelação divina, e a filosofia sua auxiliar, à qual cabia demonstrar a natureza da existência divina em harmonia com a razão. A alma era a forma essencial do corpo, responsável por dar vida a ele, subsistente, imortal e única; o homem tenderia naturalmente para Deus.
Tomás de Aquino é tido como o maior intérprete medieval de Aristóteles e o maior filósofo da Idade Média. Nicolau de Oresme (1320-1382),[xvi] um século depois, teve destaque entre os pensadores do escolasticismo, que “representa uma ortodoxia em teologia e uma aceitação da filosofia e das ciências gregas e muçulmanas, recém-descobertas, especialmente as de Aristóteles; reconciliou a fé e a razão e organizou todos os conhecimentos dentro da teologia, autoridade suprema. Usou um método dialético e um raciocínio silogístico para apresentar suas doutrinas.
Em economia, codificou as leis e regras temporais que serviram durante séculos de guia para as transações comerciais”.[xvii] Esses avanços coexistiram com o embate entre racionalistas e fideístas cristãos: as polêmicas teológicas intramuros antecipavam transformações que trincariam, e finalmente derrubariam, esses mesmos muros, não precisamente com argumentos ou motivos teológicos.
Os sintomas de crise no cristianismo foram se transformando num abalo sísmico: na fase final da Idade Média, o parto de uma sociedade baseada no reconhecimento da individualidade e autonomia de seus membros, na dissolução das ordens corporativas e no ataque ao universalismo eclesiástico, foi possível graças a uma série de mutações que tinham antecedentes políticos.
O italiano Marsílio de Pádua (1270-1342), no seu Defensor Pacis,[xviii] esteve entre os primeiros a postular que o poder do Estado deveria ser delegado e exercido em nome da vontade popular. Soberania popular, princípio de representação e princípio majoritário eram, em Marsílio de Pádua, o arcabouço de uma nova concepção da sociedade e de sua estrutura política. Marsílio afirmava que o poder legislativo pertencia ao povo, considerado como Universitas Civium, depositário da soberania popular.
A autoridade política não decorria de Deus ou do papa, mas do povo; Marsílio de Pádua defendeu que os bispos fossem eleitos por assembleias eclesiais e que o poder do papa fosse subordinado aos Concílios. Foi um dos primeiros estudiosos a distinguir e separar a lei da moralidade, declarando que a primeira se relacionava com a vida civil e a segunda com a consciência.
Um novo conceito de Estado, independente da autoridade eclesiástica, e implicitamente laico, começava a aparecer.[xix] Ele se abriu passo buscando sua legitimação em práticas pretéritas, se apresentando, como costuma acontecer nas revoluções, como uma restauração (ou “renascimento”) de um passado mais ou menos longínquo, que teria sofrido uma degradação no passado imediato. Nesse quadro político mutante, originou-se o Renascimento.
3.
O termo foi cunhado no século XIX, designando uma ruptura histórica: “A Renascença, pela sua concepção antropocêntrica em contraste com o dualismo medieval, pela sua percepção orgulhosa e otimista de um mundo a ser inteiramente conquistado, representou a primeira ruptura radical com a Idade Média, onde não havia espaço cultural para a consciência do valor universal e criador da liberdade, oferecida unicamente sob a forma de privilégios”.[xx]
A separação entre corpo e alma, consagrada na Idade Média, devia ser derrubada. O tecido imanente do individualismo humanista foi o afastamento da demonização da vida e do prazer, e de toda concepção vital determinada pela intervenção mundana da Divina Providência. Essa ruptura foi identificada principalmente com a Itália, pois foi inicialmente nesse país que surgiram estímulos inéditos para a originalidade no pensamento e o ceticismo em relação às velhas tradições e autoridades, assim como os meios para divulgar e discutir essas mudanças.
No século XV, em Florença, o movimento cobrou forma definida, quando, nas palavras do arquiteto, comerciante e mecenas Leon Battista Alberti, os homens passaram a se considerar os mais graciosos dos animais e semelhantes a deuses imortais. A partir daí, o Renascentismo se expandiu pela Europa, com a mesma força das obras de arte e dos ímpetos comerciais dos florentinos. O vínculo do movimento com as novas classes emergentes se evidenciava através do mecenato das novas tendências (em especial das artes plásticas) pelos ricos comerciantes, que vinham firmando uma posição social sólida e independente nas cidades enriquecidas pelo comércio e o desenvolvimento das manufaturas.
A renovação/revolução artística agiu como um poderoso aríete social. A arte renascentista atuou como uma ferramenta para a nova classe ascendente, a burguesia comercial, e sua concepção de mundo, baseada numa ideia do ser humano desvinculada da intervenção divina e de seus representantes na Terra. O indivíduo passava a ter valor fora do corpo social fechado ao qual pertencia, “a criação da individualidade foi a contribuição do Renascimento e ficou, sem dúvida, como a verdadeira contribuição da sociedade italiana à era subsequente da civilização moderna”.[xxi]
Essas mudanças tiveram, como veremos, influências e antecedentes extra europeus, e um longo percurso na própria Europa. Ernst Cassirer sublinhou a importância e significado das formas simbólicas na arte e na filosofia do Renascimento, a transferência dos motivos de Adão para aqueles de Prometeu, como expressões de um novo ideal de humanidade.[xxii] O Renascimento e o humanismo foram situados como “uma filosofia de novos estratos sociais”, que desaguou na recriação da ciência política.[xxiii] Os teóricos escolásticos haviam submetido a política à religião, buscando estabelecer as bases da melhor ordem para um mundo cristão baseado nos Evangelhos.
Os humanistas, do seu lado, passaram a buscar os meios para construir a cidade ideal dos filósofos. Francesco Guiccciardini foi simultaneamente historiador (o maior da Itália renascentista) e homem de Estado. Nicolau Maquiavel conseguiu unir sua experiencia política e diplomática com a reflexão ampla (uma “leitura ininterrupta”) acerca do passado: O Príncipe foi o resultado dessas leituras e dessa reflexão. Um novo realismo, “materialista”, mas não ainda democrático, irrompia no cenário das ideias.
O aspecto elitizado (e elitizante) do humanismo renascentista foi observado por Antonio Gramsci: “Uma das maiores fraquezas das filosofias imanentistas consiste exatamente em não ter sabido criar uma unidade ideológica entre o baixo e o alto, entre os ‘simples’ e os intelectuais. Na história da civilização ocidental este fato se verificou em escala europeia, com a falência do Renascimento, e inclusive da Reforma [protestante], em confronto com a Igreja Romana”.[xxiv] Antes de “falir”, porém, o Renascimento revolucionou setores e áreas decisivas da sociedade. Ele tinha raízes múltiplas, que remontavam ao início do renascimento comercial europeu e às Cruzadas. Estas, concebidas como empresa militar em defesa e expansão do mundo cristão, contribuíram a minar as bases desse mundo, pondo em questão o provincianismo da velha ordem senhorial: “O mundo ocidental, até então enclausurado, se achou reintegrado à área do Mediterrâneo, novamente transitável e vínculo de união de todas suas costas. O mundo bizantino e o muçulmano começaram a exercer influência intensa no âmbito do cristianismo [romano], que achou recepção favorável ao confluir com certas direções do espírito adormentadas, mas não destruídas. No plano da vida real, o fato mais significativo foi a renovação da vida econômica e ascensão acelerada da burguesia. As cidades cresceram e prosperaram… Os velhos ideais, heroísmo e santidade, começaram a ser substituídos por outros: trabalho e riqueza, através dos quais se chegava também ao poder (enquanto) declinava acentuadamente a ideia da viabilidade de uma ordem ecumênica. Durante mais de dois séculos haviam combatido pela proeminência os dois poderes que a encarnavam, o Império e o papado; no começo da Baixa Idade Média o espetáculo era desolador nos dois”.[xxv]
Dois séculos e nove Cruzadas se passaram: François Guizot constatou que “em finais do século XIII, nenhuma das causas das Cruzadas sobrevivia. O homem e a sociedade tinham mudado de tal modo que nem a impulsão moral nem a necessidade social que tinham precipitado Europa sobre Ásia se faziam sentir”. Acontecera entre as primeiras e as últimas Cruzadas “um intervalo imenso que revelou uma verdadeira revolução no estado dos espíritos… Esse foi o principal efeito das Cruzadas: um grande passo em direção da emancipação do espírito, um progresso no sentido de ideias mais amplas e mais livres”. No início da investida cristã sobre o Oriente árabe, os muçulmanos viam os cruzados “como bárbaros, os homens mais guerreiros, mais ferozes e mais estúpidos que jamais tinham visto. Os cruzados, de seu lado, ficaram impressionados pela riqueza e a elegância de costumes dos muçulmanos. A essa impressão seguiram frequentes relações entre os dois povos”.[xxvi]
Essas relações teriam forte influência nas mudanças culturais que se seguiram – somando-se à influência que a sabedoria e as traduções dos clássicos vindas do Oriente oriental já exerciam sobre os monastérios cristãos – quando na Europa se travou uma luta para deixar atrás as “trevas medievais”. Uma luta que teve raízes “orientais”, embora finalizasse consagrando o Ocidente como portador único de humanismo, liberdade e modernidade.
Resumindo julgamentos difundidos no século XIX, para Friedrich Engels o Renascimento foi “a maior revolução progressiva que a humanidade experimentou até agora… (ela) convocou gigantes e produziu gigantes em poder de pensamento, paixão e caráter, em universalidade e aprendizado”. Desse modo, “os homens que fundaram o domínio moderno da burguesia tinham tudo menos limitações burguesas”.[xxvii] Isso fica provado pelo fato desses homens abrirem também um novo campo de ideias e combates em direção de uma sociedade igualitária. A contradição dinâmica da nova era histórica se encontrava presente na sua própria origem, quando surgiram “as duas grandes utopias do século XVI, as de Thomas Morus e a de [Tommaso] Campanella [A Cidade do Sol], que fundaram realmente o socialismo moderno, na medida em que na base de sua visão do mundo se encontrava uma crítica profunda da sociedade de seu tempo, em especial das consequências da ascensão do capitalismo para as classes deserdadas”.[xxviii]
As teorias comunistas remontam ao século XVI, simbolizadas na Utopia de Thomas Morus (1516), que chegou a chanceler da Inglaterra de Henrique VII, na qual defendia que “a menos que a propriedade privada seja completamente abolida, não é possível haver distribuição justa de bens e nem a humanidade pode ser governada adequadamente. Se a propriedade privada permanecer, a grande e melhor parte da humanidade continuará oprimida por um fardo pesado e inevitável de angústia e sofrimento”.[xxix]
Francis Bacon, no romance A Nova Atlântida, descrevia uma sociedade ideal governada pela ciência e a solidariedade, e James Harrington criticava, em Oceana, a desigual distribuição da propriedade e dos bens; Tommaso Campanella, em La Città del Sole defendia um comunitarismo radical. Todas essas utopias imaginárias eram situadas em pontos longínquos de um mundo ainda em grande parte desconhecido.
Também antecipavam a crítica social moderna, com “suas propostas positivas relativas à sociedade futura, a supressão da distinção entre cidade e campo, a abolição da família, do lucro privado e do trabalho assalariado, a proclamação da harmonia social e a transformação do Estado numa simples administração da produção e o desaparecimento do antagonismo entre as classes, que esses autores conheciam de forma imprecisa… Essas propostas tinham um sentimento puramente utópico”.[xxx]
Eram antecipações ainda carentes de bases materiais para sua realização, mas abriram a via para se pensar um futuro baseado na posse coletiva dos meios de produção. A conexão e as contradições entre as ideias surgidas na Europa no século XIII e a ascensão política e social da burguesia não foram, porém, a principal preocupação da maioria dos historiadores. Os homens do Renascimento não só não tinham limitações burguesas; não as tinham tampouco do passado que invocavam, pretendendo revivê-lo e revivificá-lo, quando na verdade estavam criando algo novo, embora “sua sociedade e modo de produção não eram ainda a sociedade e o modo de produção burgueses (e) estavam longe de se transformar em ideologia consciente de toda a burguesia”.[xxxi]
4.
O Renascimento eclodiu num período em que as condições de produção permaneciam ainda basicamente inalteradas, “entre o feudalismo e aquilo que se desenvolveria na sequência, um estado de equilíbrio entre as forças feudais e burguesas”.[xxxii] Já se verificava a tendência à acumulação de dinheiro em substituição do esbanjamento e da acumulação de valores de uso: “O capital acumulado era reinvestido para obter ganhos, numa mentalidade de lucro econômico, não de despesa, como era a da nobreza em tempos prévios… A sociedade renascentista estava dividida em estamentos levemente diferentes aos medievais, constituídos por grupos fechados, entre os quais eram difíceis as transferências”.[xxxiii]
Os Medici, italianos, os Welser e os Fugger, germânicos, acumularam e negociaram dinheiro ao ponto de ter grande influência na política continental. O dinheiro começava a se transformar na verdadeira base do poder político, e favorecia um novo tipo de ascensão social. A conjuntura do Renascimento foi definida como “uma poderosa revolução nas condições da vida econômica da sociedade (que) não foi seguida, entretanto, por qualquer mudança imediata correspondente em sua estrutura política. A ordem política permaneceu feudal, ao passo que a sociedade se tornava cada vez mais burguesa”.[xxxiv]
Isto alterava as relações entre pensamento e existência econômico/social, pois com “o aparecimento dos ciclos burgueses de acumulação, surgiu uma interação constante entre as necessidades criadas pelo desenvolvimento dos meios de produção e a evolução da ciência… os problemas científicos atingiram um tal grau de abstração e um caráter de tal modo técnico que passaram a estar para além da compreensão e da capacidade do pensamento humano cotidiano”.[xxxv]
Um pensamento ainda dominado pela fé e pela religião, que no final do século XII aguçou seus instrumentos de dominação, criando Santo Ofício da Inquisição para combater movimentos cristãos “heréticos”, como os cátaros e valdenses. A partir da década de 1250, os inquisidores passaram a ser escolhidos entre os membros da Ordem Dominicana, substituindo a prática de utilizar clérigos locais como juízes de tribunais inquisitoriais cuja vigência se estenderia até meados do século XV.
No período do Renascimento, o conceito e o alcance da Inquisição foram significativamente ampliados em resposta à Reforma protestante e em correlação com a Contrarreforma católica. A revolução renascentista conviveu com sua negação militante; Vassili Grossman propôs assim a correlação entre ambos os fenômenos: “Quando o Renascimento irrompeu no deserto do catolicismo medieval, o mundo das trevas foi iluminado pelas fogueiras da Inquisição. Suas chamas iluminaram o poder do mal e o espetáculo da destruição”.[xxxvi]
A Inquisição era a resposta do complexo católico/feudal às crescentes ameaças contra usa própria existência. O historiador tcheco Josef Macek definiu o locus histórico do Renascimento no quadro da crise do feudalismo, no “desenvolvimento geral da produção de mercadorias, a emergência de relações de produção capitalistas, a acelerada acumulação de capital usurário e mercantil, a abolição da servidão da gleba, as vitórias populares nas repúblicas, o esfacelamento da Igreja e a decadência do poder papal, as possantes revoltas populares nas cidades e no campo (que) caracterizaram a primeira crise do feudalismo”.[xxxvii]
O século XIII teria sido o período de máximo desenvolvimento do modo de produção feudal, com Frederico II,[xxxviii] levado à sua crise com as invasões dos mongóis, sendo o século XIV já dominado pela crise do feudalismo. No esteio dela, o final da Idade Média testemunhou, na Igreja, a “disputa dos universais”,[xxxix] evidência de uma situação de transição que viu a emergência da ordem dos franciscanos (“o franciscanismo antipapal, ponta de lança do platonismo em direção ao Renascimento”), a obra de João Duns Escoto e a crise da ideologia dominante, com William de Ockham (1285-1347) realizando sua completa crítica.
O frade franciscano, conhecido como Doctor Invincibilis, propôs a separação da Igreja do Estado, defendendo um absolutismo secular que respeitasse os direitos de propriedade. Os papas não teriam nenhum direito ou motivos para tratar o governo secular como sua propriedade: o governo deveria ser unicamente terreno, podendo até acusar o Papa de crimes. Ockham foi também filósofo: seu sistema lógico ternário, com três valores da verdade, seria retomado na lógica matemática dos séculos XIX e XX. Politicamente, defendeu a tese de que a autoridade do líder religioso era limitada pelo direito natural e pela liberdade dos liderados, afirmada nos Evangelhos, afirmando que um cristão não contrariaria os ensinamentos evangélicos ao se colocar ao lado do poder temporal em disputa contra o poder papal.[xl]
A “navalha de Ockham” foi transformada em princípio lógico universal, afirmando que a melhor solução de um problema seria aquela que apresenta a menor quantidade de premissas possíveis. Uma navalha “filosófica” deveria ser usada para eliminar opções improváveis: o princípio postula que de múltiplas explicações adequadas e possíveis para o mesmo conjunto de fatos, deve-se optar pela mais simples, a que conter o menor número possível de variáveis e hipóteses com relações lógicas entre si: “Em igualdade de condições, a explicação mais simples é geralmente a mais provável”. A regra está associada à exigência de reconhecer, para cada objeto analisado, apenas uma explicação suficiente. Ockham foi chamado de “pensador-dobradiça”, “filósofo transicional”, o último escolástico e o primeiro moderno,[xli] atuante numa era em que os questionamentos à autoridade religiosa se multiplicavam, ao ponto de pôr em causa o valor ou a realidade da presença divina na vida mundana; Étienne Gilson chegou a definir o Renascimento como “a Idade Média sem Deus”.[xlii]
A “revolução renascentista” teve lugar dentro de uma longa transição, com limites aquém e além de sua conjuntura, ao ponto de Jean Delumeau questionar sua validade conceitual: “A nossa compreensão do período que vai de Filipe o Belo até Henrique IV ficaria muito facilitada se fossem suprimidos dos livros de história dois termos solidários e solidariamente inexatos: ‘Idade Média’ e ‘Renascimento’. Com isso se abandonaria todo um conjunto de preconceitos. Ficar-se-ia livre da ideia de ter havido um corte brusco que veio separar uma época de luz de um período de trevas. Criada pelos humanistas e retomada por Vasari, a noção de uma ressurreição das letras e das artes graças ao reencontro com a Antiguidade foi fecunda como fecundos são todos os manifestos lançados em todos os séculos por novas gerações conquistadoras”.[xliii]
Para historiadores franceses, a própria noção de Renascimento foi produto do nacionalismo e até do “racismo” (sic) italianos, dos quais teriam sido vítimas: “Divisão da história humana em três épocas, sendo a segunda uma era de trevas e de barbárie, concepção de uma Renascença das letras latinas e da Antiguidade, hegemonia italiana nas coisas do espírito, eis três partes fundamentais do conceito de Renascimento, que depois se impuseram à Europa e aos historiadores, vítimas de um mito gigantesco”.[xliv] Vítimas certamente ilustres, como Jules Michelet (1798-1874), ou Jacob Burckhardt (1818-1897), cujas obras foram decisivas para consolidar a noção de Renascimento na historiografia.
5.
Jacob Burckhardt sublinhou que o Renascimento não foi, pelo seu conteúdo, uma ressurreição da Antiguidade, em que pese assim se representar a si próprio:[xlv] “O Renascimento dissimulou sua profunda originalidade e seu desejo de novidade por trás de um hieróglifo que causa enganos: a falsa imagem de um regresso ao passado… Graças ao seu contato com o patrimônio antigo, os humanistas adquiriram duas convicções fundamentais: que sua atividade não poderia se exercer verdadeiramente senão ao preço de um conhecimento rigoroso e inteiramente renovado dos antigos; e de que a humanidade dos antigos era válida por si mesma, apesar das características que a diferenciavam dos ideais cristãos”.[xlvi]
Quanto à sua extensão, Jacob Burckhardt advogou por “uma vasta paisagem que se estende do fim do século XIII até a aurora do século XVII, e que vai da Bretanha à Moscóvia”. O impacto do humanismo renascentista foi diferenciado. Nos países ibéricos, “o entusiasmo pela descoberta e conquista das Índias deu lugar a que a valorização dos modernos se impusesse à da Antiguidade clássica, transformando profundamente o aspecto do humanismo renascentista”.[xlvii]
Em Portugal os descobrimentos trouxeram um manancial de informações e noções da mais variada ordem. Através dessas fontes “sobretudo nos que as viram ou viveram em ação ou pensamento, emergia uma consciência intelectual, intuitiva e prática, que não raro afetava a cultura teórica”.[xlviii]
Na Itália, onde o desenvolvimento comercial e industrial ficou atrofiado, diferentemente, houve uma “refeudalização” que deu poder a um novo tipo de nobreza, a “aristocracia mercantil”. Nicolau de Cusa percebeu o perigo que o “ockhamismo” (de Ockham) representava para a teologia cristã. Embora considerado um dos maiores matemáticos de seu tempo, ele se contrapôs à docta ignorantia, o conhecimento erudito afastado de Deus: “De Cusa examina as diversas ciências para concluir que nenhuma chega à formulação perfeita da verdade. A ciência, mesmo a matemática, é o domínio do aproximado, do relativo… A criatura reúne em si duas coisas inconciliáveis: sua origem no absoluto e sua imperfeição. A criatura não é Deus, nem o nada. Acha-se como que entre Deus e o nada. Não se pode dizer que ela existe, porque de si mesma não existe, nem que não existe. A conclusão é que seu ser é ininteligível. Nossa inteligência não pode vencer essa contradição”.[xlix] De Cusa tentava conciliar o avanço das novas ideias com a teologia da religião institucionalizada, suprema e baseada na Revelação e na[UX1] Fé, embora ele advogasse a independência do saber científico. Em polêmica com sua tentativa de articular o ideal humanista com a religião, Giordano Bruno (1548-1600), o mártir do Renascimento (Bruno foi vítima do Tribunal da Inquisição) defendeu um ideal de humanidade “que encerrava em si o ideal de autonomia, e quanto mais se fortalecia este último tanto mais se solapava o terreno do círculo religioso”.
Para Ernst Cassirer, os termos da controvérsia entre Nicolau de Cusa e Giordano Bruno resumiram “a totalidade do movimento de ideias dos séculos XV e XVI (com) a progressiva transformação do problema da liberdade e o avanço cada vez mais seguro e vigoroso do princípio de liberdade no interior do ideário religioso do Renascimento”.[l] Uma luta pela liberdade que Giordano pagou com sua própria vida.
Em favor da ideia de uma “revolução renascentista” milita um conjunto de razões. Um doutor de Chartres escrevia: “A autoridade tem um nariz de cera que pode se mover em todos os sentidos; é preciso dirigi-lo com a razão”.[li] Não só era preciso desafiar a autoridade, era também possível. Jack Goody, incluindo outras civilizações nesse panorama geral, alertou para a variedade espacial (não só europeia) “dos Renascimentos”.
Caberia fazer o mesmo quanto à sua temporalidade, que reconheceu dois momentos: “Um primeiro Renascimento liga-se aos séculos XIV e XV; a influência do neoplatonismo eleva o homem à criatura de maior poder de intervenção no mundo… um momento radical quando se fala em liberdade e autonomia (que) desenvolve um individualismo que o faz possuidor de desejos, vontades e interesses”. A nova cidade seria a grande obra e o grande local dessa fase.
A segunda fase, “a do século XVI, é quase o oposto. Liberdade e autonomia saem da esfera individual e são absorvidas pelo Estado; é o Estado e não mais a cidade que passa a conferir sentido aos homens, que agora não se conhecem mais e nem mesmo vivem as experiencias dos homens no mundo. A experimentação livre é reprimida como exagero e desordem”.[lii] Eugenio Garin também usou o plural para se referir aos “renascimentos”: “Não comparável com a noção de ‘revolução científica’, a de Renascença foi um ideal e um programa que alcançou uma renovação profunda em nome de um retorno à o passado. Ao longo dos séculos em que o mito funcionou, ele não permaneceu o mesmo”.[liii] Eugênio Garin se referiu ao choque europeu com as civilizações orientais (chinesa especialmente) e americanas como fator decisivo do repensar a experiência do gênero humano desse período.
As contradições do Renascimento exprimiam novas realidades econômico/sociais. Europa se encontrava em crise. Havia um forte aumento demográfico com uma provisão estagnada de terras para cultura, o que provocava crises econômicas, revoltas e abalos sociais: a sociedade feudal começava a tremer nos seus fundamentos.
A exploração de novos habitats humanos deu vazão parcial a esses abalos: “O Renascimento tem sido apropriadamente caracterizado como a ‘Era do Reconhecimento’, pois por trás do renascimento do interesse pela cultura clássica estava o derramamento de energia na Europa ocidental que veio da criação de nova tecnologias e novas formas de organização. Melhorias no projeto de navios e na navegação, juntamente com a aplicação de homens e capital, permitiram à Europa explorar as profundezas dos oceanos e alcançar as costas da maior parte das terras habitadas do globo”.[liv]
No seu estilo pouco afeito às sutilezas históricas, Eduardo Galeano escreveu: “Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos de América Latina, se especializou em perder a partir dos remotos tempos em que os europeus do Renascimento se precipitaram através do mar e lhe cravaram seus dentes na garganta”.[lv] No tom abrupto da frase se desenha uma realidade incontornável.
No resumo de Prabir Purkayastha: “A história convencional do Ocidente – escrita pelo Ocidente – é o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, produto do Iluminismo europeu, que renasceu na Europa Ocidental depois de ter estado adormecido durante mil anos. Este foi o Renascimento, sendo o iluminismo o seu produto. O Iluminismo conduziu ao pensamento científico, que por sua vez conduziu à revolução industrial e à preeminência da Europa. Neste quadro, o domínio europeu foi apenas a consequência de uma revolução mental e as suas raízes remontam à Grécia clássica, que renasceu ao fim de mil anos. Não importa que a Grécia e a Europa Ocidental estejam geograficamente nos dois extremos do continente e que tenham muito pouco em comum. Os historiadores sérios aceitam que a Idade das Trevas na Europa não afetou os outros continentes, que não assistiram a esse declínio. A Ásia prosseguiu o desenvolvimento do conhecimento e da produção, tanto na agricultura como na indústria transformadora. Os centros de aprendizagem situavam-se na Ásia Ocidental, designada pelo Ocidente como Médio Oriente, e na Turquia, novamente designada como Próximo Oriente, bem como na Ásia Central, na Índia e na China, que não foram perturbadas pela chamada Idade das Trevas na Europa”.[lvi]
6.
A polêmica se estende à teoria da história. O que em Eduardo Galeano não passava de recurso imagético-literário, em um ensaio popular anti-imperialista e anticolonial, se transformou em teoria nos autores da chamada “decolonialidade”, que chegam até afirmar que as novas formas europeias de pensamento e expressão estiveram no cerne da colonização do Novo Mundo; os ameríndios estavam em desvantagem ao enfrentar os invasores europeus porque as culturas nativas não empregavam o mesmo tipo de “textos” (comunicação) que os europeus.
O Renascimento dos séculos XV e XVI teria tido uma face esquecida e invisibilizada: a colonização das Américas e a destruição das culturas locais.[lvii] Para a versão mais radical, os “universais” do pensamento simplesmente inexistiriam; seriam, quando expostos, só um instrumento de dominação cultural, o que colocaria um problema não para alguma “cultura”, mas para todo o gênero humano. Diversos autores criticaram a ideia de que o colonialismo europeu e a destruição de povos e sociedades coloniais tivesse sido um “confronto de discursos” ou um embate de culturas.
Neil Larsen qualificou essa teoria de improcedente e “reacionária” (“Não se pode pensar, teorizar ou criticar sem a categoria do universal”), baseada, como o pós-modernismo, em uma mudança de prefixos (“de”, “pós”, etc.) para conceitos já existentes, e na falta de conteúdo metodológica ou cientificamente válido.[lviii] No período renascentista, os universais do pensamento se reformularam através de um caminho tortuoso dentro do processo histórico convulsivo que modelou o mundo moderno.
*Osvaldo Coggiola é professor titular no Departamento de História da USP. Autor, entre outros livros, de Teoria econômica marxista: uma introdução (Boitempo). [https://amzn.to/3tkGFRo]
Notas
[i] Perry Anderson questionou a “acusação – se não o termo – de ‘presentismo’, como a abstração de ideias do passado de seu contexto histórico para usá-las erroneamente no presente”, lhe opondo o trabalho de aqueles que não tiveram “dificuldades em estabelecer conexões direitas – e antitéticas – entre os conceitos de esfera pública próprios do Iluminismo e as candentes preocupações relativas à contemporaneidade: os perigos do totalitarismo, a cultura dos meios de comunicação mercantilizados e a democracia delegativa”: “O significado de uma ideia política só pode ser entendido em seu contexto histórico – social, intelectual, linguístico. Retirá-lo desse contexto é um anacronismo. Não obstante… significado e uso não são o mesmo. As ideias do passado podem adquirir relevância contemporânea — inclusive, em certas ocasiões, maior do que possuíam originariamente — sem ser mal interpretada” (Perry Anderson. Escola de Cambridge — contra o presenteísmo. A Terra é Redonda. São Paulo, 30 de outubro de 2024).
[ii] Pierre Fougeyrollas. La Nation. Essor et déclin des sociétés modernes. Paris, Fayard, 1987.
[iii] Cf. por exemplo: Marcel Gauchet. La Révolution Moderne. Paris, Gallimard, 2007.
[iv] Peter Laslett. O Mundo que Nós Perdemos. Lisboa, Cosmos, 1975.
[v] Matthias Becher. Otto der Grosse: Kaiser und Reich. Munique, C.H. Beck, 2012.
[vi] Gaetano Mosca e Gaston Bothoul. História das Doutrinas Políticas. Rio de Janeiro, Zahar, 1975.
[vii] Philippe Wolfff. L’Éveil Intellectuel de l’Europe. Paris, Seuil, 1971.
[viii] A ideologia tem um caráter não circunstancial ou local, mas universal: os seres humanos vivem regidos por relações sociais e ideológicas, não há relação social que não seja também ideológica. A ideologia permite uma relação imaginária que concede coerência às relações com o mundo material e com outros indivíduos. Não há prática humana que não se baseie, nas palavras de Althusser, em “um sistema de ideias representadas em palavras, que constituem a ideologia dessa prática”.
[ix] A principal obra de Abelardo, a Dialética, foi a obra de lógica mais influente da cristandade até o final do século XIII. No Vaticano, foi usada como manual escolar. Para Abelardo a dialética (diálogo composto de contradições) era o único caminho da verdade, desfazendo preconceitos e encorajando o pensamento livre: nada, exceto as Escrituras, era infalível, nem mesmo os apóstolos e os padres. Abelardo identificava o real ao particular, e considerava o universal como o sentido das palavras, rejeitando o nominalismo; o significado dos nomes permitiria esclarecer os conceitos, de forma a emancipar a lógica da metafísica (Miguel Spinelli. A dialética discursiva de Pedro Abelardo. Veritas, Porto Alegre, vol. 49, nº 3, 2004).
[x] Claude Delmas. Historia de la Civilización Europea. Barcelona, Oikos-Tau, 1970.
[xi] Para manter sob controle a Universidade, a Igreja se reservou a concessão da permissão para ensinar nelas, instituindo também os salários para os mestres, que se tornaram funcionários eclesiásticos ou principescos.
[xii] Christophe Charle e Jacques Verger. História das Universidades. São Paulo, Edunesp, 1996.
[xiii] Jacques Le Goff. Los Intelectuales en la Edad Media. Buenos Aires, Eudeba, 1965.
[xiv] Jean Gimpel. A Revolução Industrial da Idade Média. Rio de Janeiro, Zahar, 1977.
[xv] Agostinho de Hipona (354-430) codificou as linhas mestras do cristianismo medieval, depois de se converter e aceitar o batismo. Com base na premissa de que a graça de Cristo era indispensável para a liberdade humana, ajudou a formular a doutrina do pecado original. Quando o Império Romano do Ocidente começou a ruir, Agostinho desenvolveu o conceito de Igreja Católica como uma “Cidade de Deus” espiritual distinta da cidade terrena e material, e intimamente ligada ao setor da Igreja que aderiu ao conceito da Trindade como postulado pelos Concílios de Niceia e de Constantinopla. Na Igreja Católica Agostinho passou a ser venerado como santo e proeminente Doutor da Igreja.
[xvi] Nicolau de Oresme, clérigo e homem de ciência, foi economista, filósofo, matemático, físico, astrônomo, biólogo, psicólogo, musicólogo, teólogo e tradutor, bispo de Lisieux e conselheiro do rei Carlos V de França. Um dos pensadores mais originais da Europa medieval, é considerado um dos fundadores das ciências modernas.
[xvii] John Fred Bell. História do Pensamento Econômico. Rio de Janeiro, Zahar, 1982.
[xviii] Marsilio de Padua. El Defensor de la Paz. Madri, Tecnos, 1989 [1324].
[xix] Felice Battaglia. Marsilio da Padova e la Filosofía Política del Medio Evo. Bolonha, CLUEB, 1987.
[xx] Nicola Matteucci. Liberalismo. In: Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino. Dicionário de Política. Brasília, Editora UnB, 1986.
[xxi] Franco Lombardi. Naissance do Monde Moderne. Paris, Flammarion, 1958.
[xxii] Ernst Cassirer. Indivíduo e Cosmos na Filosofia do Renascimento. São Paulo, Martins Fontes, 2001 [1927].
[xxiii] Giancarlo Zanier. Umanesimo e ‘Rinascimento’: una filosofia di nuovi ceti sociali. In: Nicolao Merker. Storia della Filosofia. L’epoca dela borghesia. Roma, Riuniti, 1984.
[xxiv] Antonio Gramsci. Quaderni del Carcere. Turim, Einaudi, 1975 [1929-1935].
[xxv] José Luis Romero. La Edad Media. México, Fondo de Cultura Económica, 1987 [1949].
[xxvi] François Guizot. Historia de la Civilización en Europa. Desde la caída del Imperio Romano hasta la Revolución Francesa. Madri, Alianza, 1968 [1828].
[xxvii] Karl Marx e Friedrich Engels. On Literature and Art. Moscou, Progress Publishers. 1976.
[xxviii] Jacques Droz. Storia del Socialismo. Vol. 1, cit. Droz fez remontar as origens do socialismo até os grandes utopistas do século XVI, enquanto nos enfoques tradicionais essas origens contemplam três vertentes posteriores: os herdeiros da Revolução Francesa – igualitários, utópicos, saint-simonianos, blanquistas, anarquistas; os economistas ingleses, críticos da Revolução Industrial – ricardianos e owenistas; e finalmente os filósofos alemães, até chegar à síntese de Marx (Cf. George Lichtheim. Los Orígenes del Socialismo. Barcelona, Anagrama, 1975, considerado por Eric J. Hobsbawm o melhor livro sobre o tema).
[xxix] Thomas Morus. Utopia. Brasília, Universidade de Brasília, 2004 [1516].
[xxx] Karl Marx e Friedrich Engels. Manifesto Comunista. São Paulo, Cidade do Homem, 1980 [1848].
[xxxi] Agnes Heller. O Homem do Renascimento. Lisboa, Presença, 1982.
[xxxii] Paula Bandovintti Serpa. Renascença: aurora feroz da modernidade. História & Luta de Classes nº 15, Cândido Rondon, março 2013.
[xxxiii] Álvaro L. Franco, Miguel V. Carrasco e Gala Y. Narváez. El Renacimiento. El espíritu de una nueva época. Barcelona, Salvat, 2018.
[xxxiv] Friedrich Engels. Anti-Dühring. São Paulo, Boitempo, 2015 [1878].
[xxxv] Agnes Heller. O Homem do Renascimento, cit.
[xxxvi] Vassili Grossman. Vida y Destino. Barcelona, Debolsillo, 2007.
[xxxvii] Josef Macek. Il Rinascimento Italiano. Roma, Riuniti, 1974 [1965].
[xxxviii] Imperador do Sacro Império Romano e Rei da Itália de 1220 até sua morte, além de Rei da Sicília a partir de 1198 e Rei de Jerusalém entre 1225 e 1228, em direito de sua esposa a rainha Isabel II. Era filho do imperador Henrique VI e de sua esposa a rainha Constança da Sicília.
[xxxix] Escoto valorizava a experiência, rejeitando a preocupação exclusiva da filosofia com as essências universais e transcendentes: os homens, como seres criados, não poderiam ter certeza sobre as características conceituais de Deus, mas poderiam ter certeza que Ele existe. Universais como “verdade” e “bondade” existiriam na realidade. William de Ockham e Pedro Abelardo, ao contrário, afirmavam que os universais só existiam dentro da mente, sem possuírem realidade externa ou substancial: as formas universais seriam apenas construções mentais.
[xl] Nicolás López Calera. Guillermo de Ockham y el nacimiento del laicismo moderno. Anales de la Cátedra Francisco Suárez nº 46, Universidad de Granada, 2012.
[xli] John Losee. A Historical Introduction to Philosophy of Science. Londres, Oxford University Press, 1977.
[xlii] Etienne Gilson. A Filosofia na Idade Média. São Paulo, Martins Fontes, 1998.
[xliii] Jean Delumeau. La Civilisation de la Renaissance. Paris, Arthaud, 1967.
[xliv] Roland Mousnier. Os Séculos XVI e XVII. São Paulo, Difel, 1973.
[xlv] Jacob Burckhardt. A Cultura do Renascimento na Itália. São Paulo, Companhia de Bolso, 2009 [1860].
[xlvi] José Luiz Ames. Poética da Virtù. Tempo de Ciência Vol. 8, nº 15, Toledo, CCHS / Unioeste, janeiro-junho 2001.
[xlvii] José Antonio Maravall. Antiguos y Modernos. Visión de la historia e idea del progreso hasta el Renacimiento. Madri, Alianza, 1986.
[xlviii] José Sebastião da Silva Dias. Os Descobrimentos e a Problemática Cultural do Século XVI. Lisboa, Presença, 1982.
[xlix] Lívio Teixeira. Nicolau de Cusa. Revista de História, São Paulo, Universidade de São Paulo, vol. II, nº 7, julho-setembro 1951.
[l] Ernst Cassirer. Indivíduo e Cosmos na Filosofia do Renascimento. São Paulo, Martins Fontes, 2001 [1927].
[li] Eustachio Paolo Lammana. Historia de la Filosofía. Vol. 2: El pensamiento en la Edad Media y el Renacimiento. Buenos Aires, Hachette, 1960.
[lii] Francisco Falcon e Antônio E. Rodrigues. A Formação do Mundo Moderno. A construção do Ocidente dos séculos XIV ao XVII. Rio de Janeiro, Campus-Elsevier, 2006.
[liii] Eugenio Garin. Rinascite e Rivoluzioni. Bari, Laterza, 2007.
[liv] Woodrow Borah. Renaissance Europe and the population of America. Revista de História, São Paulo, Universidade de São Paulo, LIII (105), julho-setembro 1976.
[lv] Eduardo Galeano. As Veias Abertas da América Latina. Porto Alegre, L&PM, 2010 [1971].
[lvi] Prabir Purkayastha. A ascenção sangrenta do Ocidente. O Comuneiro nº 39, Lisboa, setembro 2024.
[lvii] Walter Mignolo. The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, & Colonization. Ann Arbor, University of Michigan Press, 2003.
[lviii] Sarika Chandra e Neil Larsen. Postcolonialism: a historical introduction. Cultural Critique nº 62, inverno de 2006, University of Minnesota Press; Neil Larsen e Ignacio Corona-Gutiérrez. Posmodernismo e imperialismo: teoría y política en Latinoamérica. Nuevo Texto Crítico, Ano III, nº 6, segundo semestre de 1990, Stanford University Press.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA