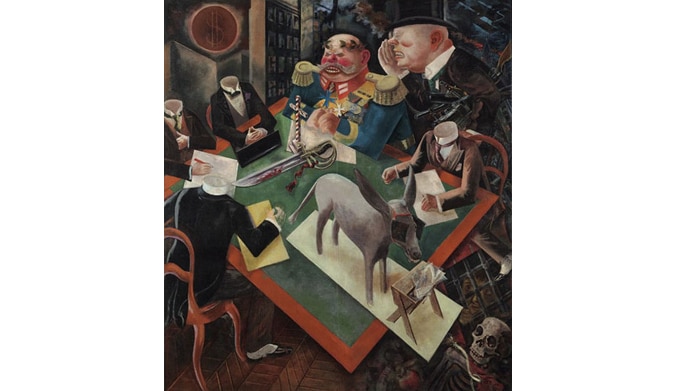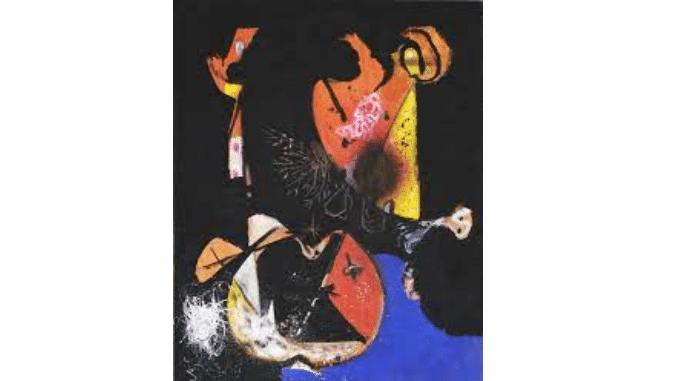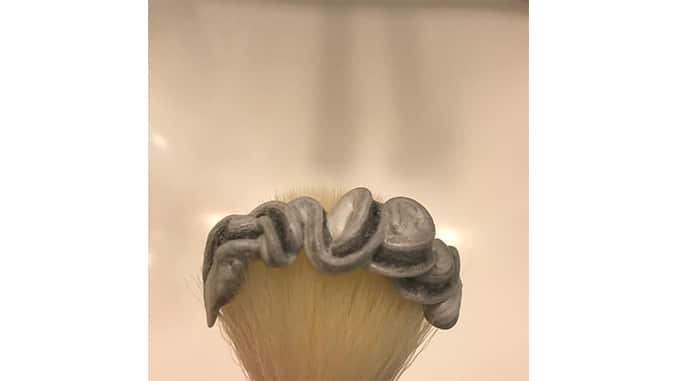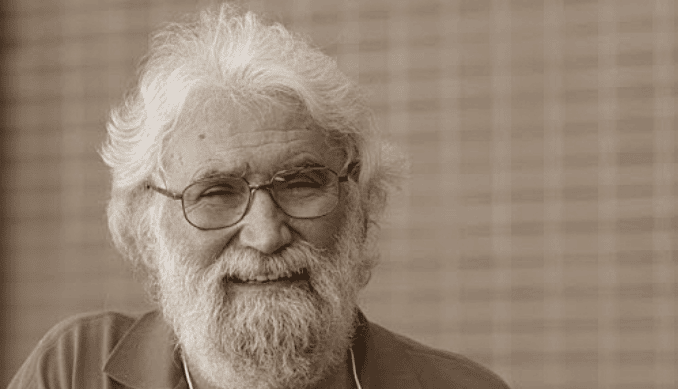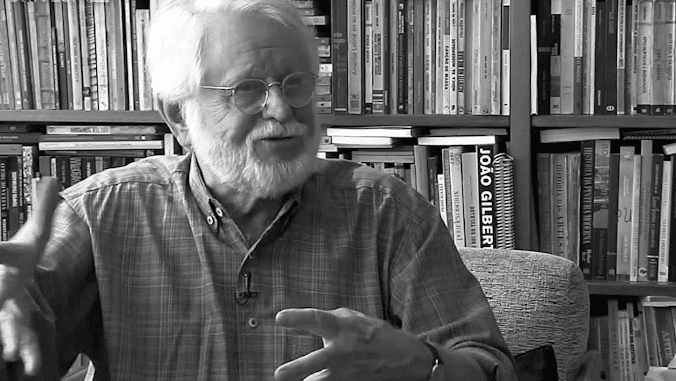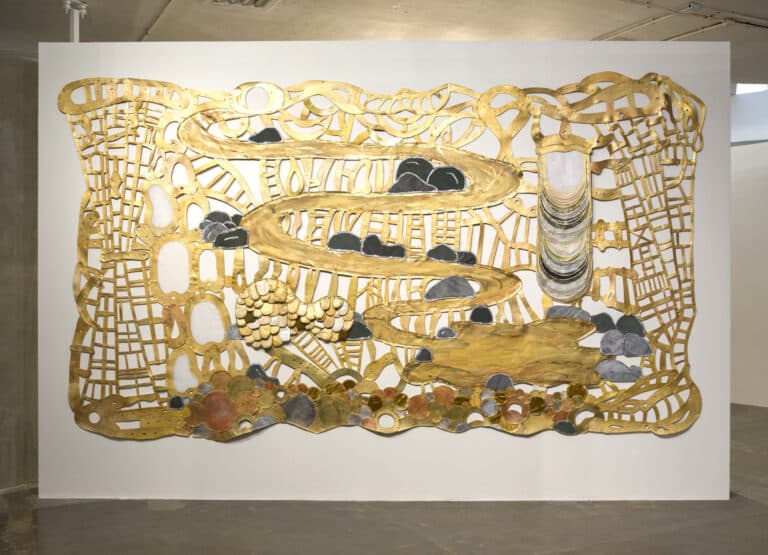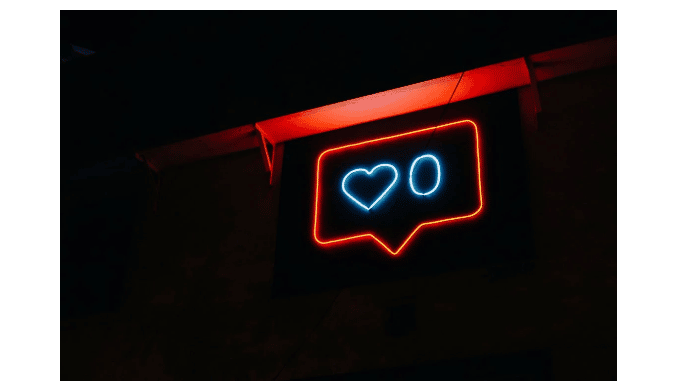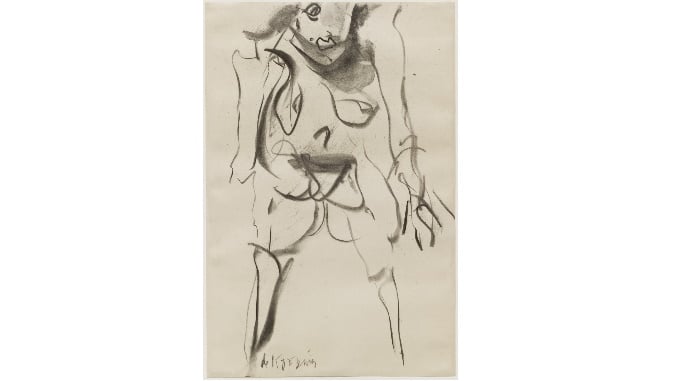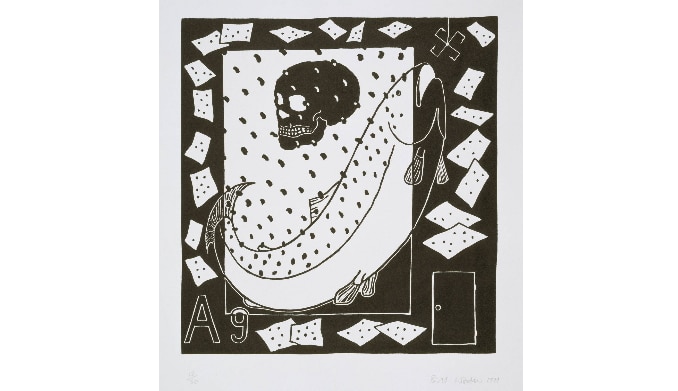Por THIAGO BLOSS DE ARAÚJO*
Considerações sobre a violência simbólica de Chris Rock e a física de Will Smith
No final do século XX, quando finalmente a violência passou a ser vista como um problema de saúde pública, as políticas públicas de inúmeros países começaram a se estruturar a partir da premissa de que esse fenômeno estaria para muito além da chamada “violência física”.
A definição da Organização Mundial de Saúde (OMS) contemplou essa nova perspectiva, ao entender a violência como “o uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação” ¹.
Nesse sentido, passou-se a entender que “violência” seria um fenômeno muito mais amplo do que o ato físico que produz materialidade, que incide sobre o corpo físico e que produz efeitos imediatos no indivíduo. Estaria em seu conceito agora a violência imaterial, invisível, simbólica, que não necessariamente produz efeitos imediatos, mas que pode se tornar devastadora a longo prazo. Trata-se de uma violência produzida pelo simples exercício do poder, que pode ser tão ou mais grave que a violência física.
Apesar dessas definições e de todo o debate sobre as distintas manifestações da violência estrutural que constitui o racismo, o machismo e demais sistemas de dominação, a tendência ainda hegemônica é a supervalorização da violência física em detrimento da simbólica. Tende-se, conforme o contexto e a conveniência, a formar o juízo de que a violência física, que produz materialidade, seria muito mais grave do que a violência psicológica, moral, simbólica, que são responsáveis pela negação da dignidade da pessoa e, na maioria das vezes, mais naturalizadas e invisíveis.
É justamente a partir dessa perspectiva hegemônica que tendemos a distorcer a real expressão do fenômeno, ora dando uma visibilidade hiperbólica à violência física, ora invisibilizando de forma conveniente a violência simbólica. A evidência disto está no nosso cotidiano.
No início desse ano, muitas pessoas do dito segmento progressista revelaram seu gosto pelo Big Brother Brasil da Rede Globo. Algumas, inclusive, coadunaram com o discurso de que a atual temporada está entediante por não apresentar conflitos exacerbados e, mais, que a tentativa dos participantes do programa de amenizar as relações conflituosas seria um absurdo, tendo em vista a natureza daquela atração televisiva.
Eis que, em determinado momento do reality show, durante uma atividade que estimulava o confronto entre os participantes – solicitando que despejassem água na cabeça de seus rivais –, uma mulher bateu com o balde na cabeça de sua colega, após atacá-la verbalmente. Essa agressão física imediatamente foi repudiada pelos telespectadores, resultando na expulsão da participante. Contudo, em nenhum momento foi questionada a humilhação presente nessa atividade, em que pessoas tomaram banhos de balde de água após serem atacadas verbalmente.
Outro exemplo: nas duas últimas semanas, o mesmo programa fez as chamadas “provas do líder”, que obrigou participantes a ficarem quase 24 horas de pé, sem comer, beber, dormir e, ainda por cima, recebendo jatos de água e ar. Essas situações explícitas de tortura não causaram indignação. Pelo contrário, muitos inclusive torceram pela vitória da travesti que passava por aquela tortura. Tais violências são extremamente naturalizadas pela sociedade em sua totalidade, assim como pelo reality em questão. O que se torna hegemonicamente condenável à consciência não é tortura, a objetificação simbólica do outro, mas exclusivamente a violência física.
Com efeito, essas questões devem ser postas no caso de violência de Will Smith contra o comediante Chris Rock no Oscar desse ano. Há muitas avaliações absolutizadoras sobre a irracionalidade da violência física de Will Smith e que condenam qualquer tipo de relativização do caso. Por outro lado, há muitas avaliações relativistas da violência simbólica perpetrada pelo comediante que, não sem novidade, utiliza-se de piadas para humilhar pessoas já socialmente inferiorizadas. A avaliação de que a violência física é pior do que a violência simbólica novamente se tornou absoluta.
Exemplo disto é o artigo publicado no site A terra é redonda por Julian Rodrigues “Não, tapa na cara não pode (nunca)” ², em que o autor avalia a violência de Chris Rock e a de Will Smith da seguinte maneira: “uma piada fraca, com certeza. De mau gosto, mesmo. Até aí, faz parte. O que tem de piada ruim e constrangedora circulando… O que não faz parte é a reação de Smith. Não, gente, não pode. Não é bacana. Não é cavalheirismo. Não é legítimo”. Mais à frente, contextualiza a piada do humorista: “piadas de bom, e sobretudo de mau gosto são recorrentes, sobretudo no tipo de humor hegemônico nos EUA – que, aliás, tem influenciado sobremaneira os estandapeiros e novos humoristas aqui no Brasil”.
O mais simbólico é a frase que encerra o texto: “Não normalizem a violência. Não normalizem as agressões físicas”. Conforme o que está escrito – e certamente esta não é a ideia do autor – a violência que não deve ser normalizada é a agressão física. Ou seja, reproduz-se essa visão dominante de que a violência se restringe à sua materialidade física.
Em atendimentos psicossociais a mulheres vítimas de violência, infelizmente vemos com muita frequência a reprodução dessa ideia. Muitas vivem por anos em um relacionamento abusivo permeado por controle, vigilância, tortura psicológica e que, entretanto, nunca se materializou em violência física, o que as induz a reproduzir um dito do senso comum: “mas ele nunca me bateu”. O que perdemos de vista é que, apesar da violência simbólica estar mais distante de um possível feminicídio em comparação a violência física, o seu poder de desintegração da subjetividade do outro pode ser exatamente o mesmo. É por isso que mulheres tentam se matar muito mais que homens. É por isso que mulheres negras se matam mais que mulheres brancas.
Enfim, ambas as violências são condenáveis e irracionais. Disso não há dúvida. Entretanto, torna-se extremamente perigoso a relativização da violência simbólica, pois ela é o fundamento de qualquer violência estrutural que incide sobre os marcadores de gênero, classe, raça e capacidade. Basta lembrarmos que antes da concretização dos campos de concentração na Alemanha nazista houve forte propaganda negando simbolicamente os judeus, através de charges e chacotas sobre o sentido de suas existências.
A violência simbólica é a responsável pela naturalização de todas as formas de violência não materiais, invisíveis, presentes diariamente nos programas da indústria cultural e que para elas normalmente estamos cegos. Ela, inclusive, prepara a naturalização da violência física, que muitas vezes se manifesta a posteriori.
Chris não fez apenas uma piada ruim. Isso é moralizar a violência do agressor e negar a profunda estrutura de dominação presente naquele ataque sublimado à dignidade de uma mulher negra que possui uma doença.
É urgente não perdermos de vista que a violência está fortemente presente tanto na tortura e na humilhação programada de realitys shows, quanto no tapa espontâneo e impulsivo em um evento de gala do cinema. É necessário que não nos tornemos apenas observadores atentos da violência física e cegos por conveniência da violência não física, invisível.
*Thiago Bloss de Araújo é doutorando na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da UNIFESP.
Notas
[1] World Health Organization. Global consultation on violence and health.Violence: a public health priority. Geneva: WHO; 1996.
[2] https://aterraeredonda.com.br/nao-tapa-na-cara-nao-pode-nunca/