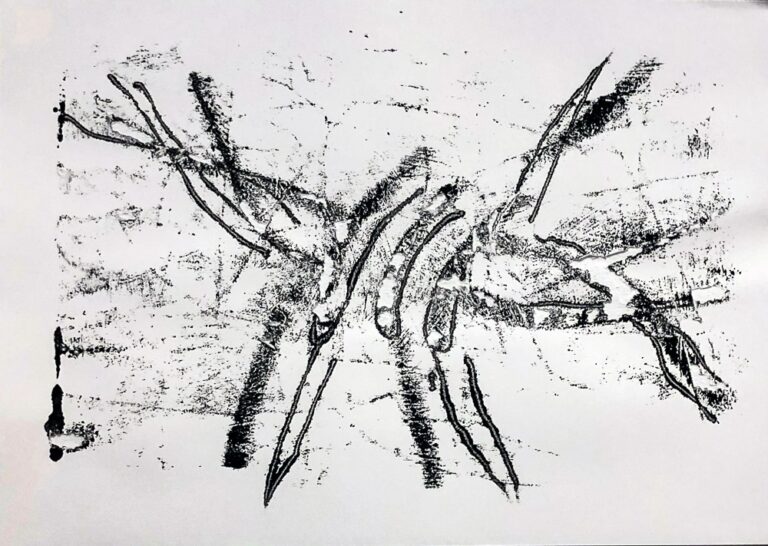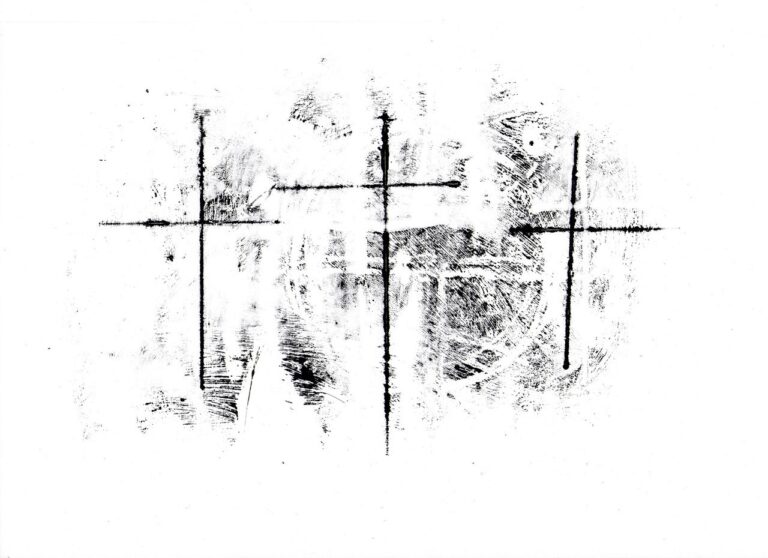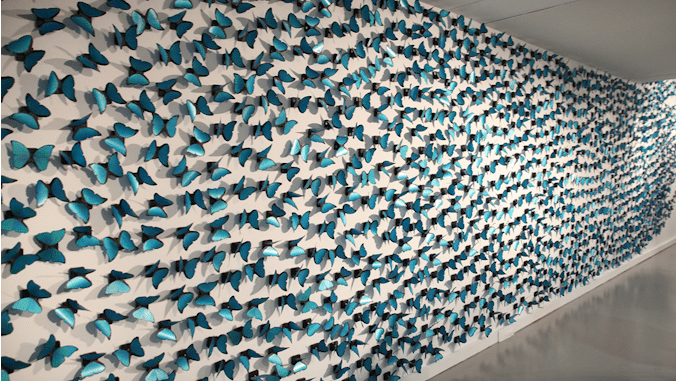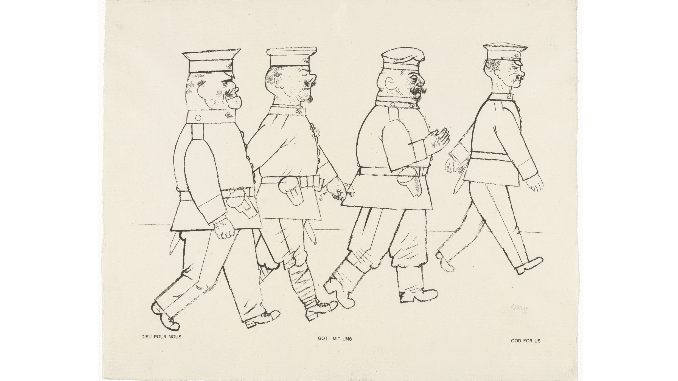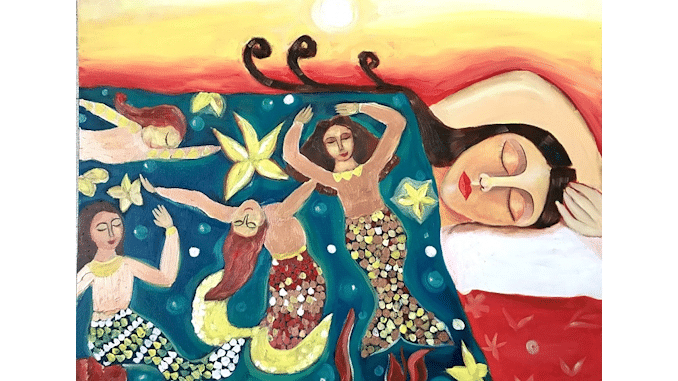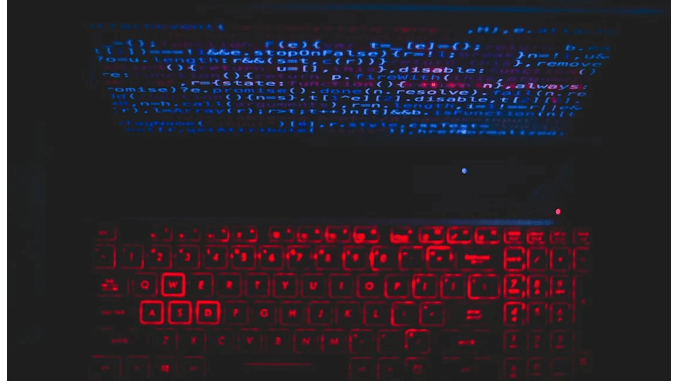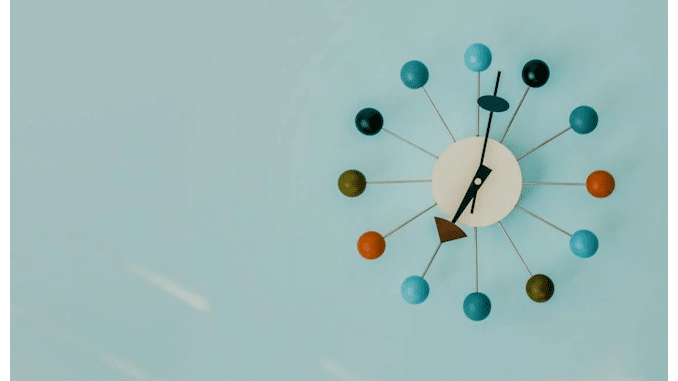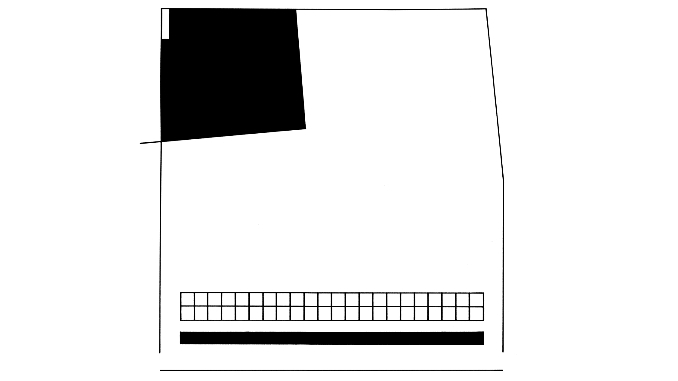Por GABRIEL COHN*
A atualidade do conceito criado por Theodor Adorno & Max Horkheimer
Há pouco mais de setenta anos o conceito de “indústria cultural” foi publicado pela primeira vez, em Dialética do esclarecimento, livro que marcou toda uma área do pensamento europeu da época. Vale ainda a pena usar esse conceito na acepção original, segundo a teoria crítica da sociedade da chamada Escola de Frankfurt, e não nas versões puramente descritivas e neutras, para não dizer insípidas, que surgiram depois?
Considerando a polêmica que sempre o cercou e as grandes mudanças que ocorreram na sua área de aplicação, a questão é oportuna. Na busca de resposta, procederei em três passos. Primeiro, farei uma reconstrução sumária da corrente de pensamento que deu origem ao conceito. Depois, tratarei dele próprio, ao reconstruir seus traços fundamentais. Finalmente, tratarei da questão da sua relevância nas condições atuais.
Já por estas primeiras palavras deixo claro que estou partindo da premissa de que a dimensão da realidade social a que se refere a ideia de indústria cultural sofreu mudanças tão consideráveis dos anos quarenta do século passado para cá que um conceito como este, construído naquela época, está hoje exposto à suspeita de obsolescência. Isto não é tão trivial quanto parece, mesmo numa área de estudos tão marcada pela historicidade quanto a das ciências sociais.
Afinal conceitos tão fundamentais como os de poder e de autoridade resistem há séculos ou milênios de uso; e poucos contestarão a atualidade de conceitos como a anomia durkheimiana ou a ação racional weberiana, construídos no início do século passado. Claramente o conceito de indústria cultural tem um caráter mais conjuntural. Está aí mais para marcar uma inflexão nas tendências de desenvolvimento de uma época histórica do que para caracterizá-la como um todo. Na realidade, não se propõe caracterizar este ou aquele objeto social, e sim fundamentar um exercício crítico: exatamente aquele voltado para assinalar mudanças onde elas não são registradas pelo pensamento dominante, e para expor tendências que esse mesmo pensamento está propenso a ignorar ou ocultar.
1.
As primeiras referências à “indústria cultural” aparecem no livro que Max Horkheimer e Theodor W. Adorno escreveram entre 1942 e 1944 no seu exílio americano e publicaram em 1947 numa pequena editora de Amsterdã, sobre a “dialética do esclarecimento” (ou do “iluminismo”, Aufklärung)). Livro desconcertante, cujo impacto no cenário cultural do pós-guerra ninguém poderia esperar na hora do seu modesto aparecimento. Nele, nada de plano rigoroso, nem de capítulos bem ordenados e articulados. Trata-se, explicitamente, de “fragmentos”, peças dispersas que exprimem, no que têm de inacabado e cheio de arestas, um mundo estilhaçado. Mundo do qual se busca caracterizar, sempre a contrapelo daquilo que ele exibe como seus traços básicos, a unidade por detrás da divisão e a divisão que se oculta na unidade. Trata-se, desde a origem, de fragmento no interior de uma obra inacabada. Um aguilhão para ferir o pensamento convencional mais do que uma lupa para ampliar o que está à vista.
Está em jogo, na dialética do esclarecimento, uma crítica imanente da razão. Sem abrir mão da razão historicamente associada ao esclarecimento, muito pelo contrário. “Para nós é indubitável que a liberdade na sociedade é inseparável do pensamento esclarecedor”, dizem Horkheimer e Adorno, para completar: “mas o conceito desse mesmo pensamento, assim como as formas históricas concretas, as instituições em que ele se inserem já contêm em si o germe dessa regressão que hoje ocorre por toda parte. Se o esclarecimento não incorpora em si a reflexão sobre esse momento regressivo, então ele sela seu próprio destino”.
Trata-se de levar essa razão a sério, nas suas promessas e nos seus limites. Vale a pena, pois, lembrar que o conceito de indústria cultural não foi construído originalmente como artefato analítico para servir à pesquisa em algum aspecto pontual, mas faz parte de um esforço intelectual para discutir as vicissitudes da razão no mundo moderno. E isso sem cair no puro e simples abandono irracionalista nem na arrogante prepotência racionalista que ignora os seus limites, não apenas os externos, mas os que traz dentro de si.
Aqui reside aquele que é talvez o ponto fundamental da tentativa desses autores, e do conjunto daquilo que se convencionou denominar Escola de Frankfurt (os membros do grupo preferiam identificar-se pela sua atividade, como teoria crítica da sociedade). Tratava-se de formular uma crítica imanente da razão; uma crítica racional da razão, portanto. Significa isso introduzir no pensamento racional crítico aquilo que a esquerda, a que pertencem, tende a evitar: a face sombria da história. Ou seja, aquilo que se opõe ao otimismo irrefletido das ideias do racionalismo iluminista europeu a partir do século XVIII, daquilo que entre nós ficou conhecido como Esclarecimento, e lança uma sombra, que este busca apagar mediante a ideia de progresso.
Está envolvida nisso a ideia de que a história não é só avanço linear mas traz consigo, intrinsecamente, a possibilidade de regressão. Tema básico entre os que a teoria crítica reivindicou para tratar ao seu modo e que Adorno em outro momento diria já estar presente em Marx (talvez ele pensasse em análises como a do 18 Brumário, “a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa”). Claramente, porém, a ideia de regressão traz a marca de Freud, fonte bem diversa das invocadas pelo campo irracionalista, que tem na figura da decadência (no limite, o tema da degeneração, como se viu no nazismo) a versão própria ao pensamento de direita.
Essas formulações um tanto altissonantes são necessárias para lembrar que a primeira exposição do conceito de indústria cultural faz parte de um esforço bastante ambicioso e ao mesmo tempo fragmentário de fazer frente a um traço do momento histórico em que foi concebido. Trata-se da regressão de uma razão concebida instrumentalmente, como mera instância de controle eficaz do mundo, ao seu oposto, o mito, concebido (em registro diferente daquele da Antropologia) como expressão narrativa da subordinação irrefletida ao mundo.
E isso na medida em que a própria razão inadvertidamente carrega em si o mito, desde o momento em que acreditou poder dominá-lo pela sua mera eficácia, irrefletidamente. Essa regressão, claro, assume formas históricas concretas: o nazismo e o fascismo, no caso. Mas não só estas. O próprio campo antifascista estava minado pela vulnerabilidade a formas regressivas a que estava sujeita uma razão iluminista na sua vertente liberal, marcada pela incapacidade de aplicar a si própria a crítica supostamente eficaz que dirigia à irracionalidade explícita. Enfim, a crítica de inspiração dialética a que se dedicou especialmente Adorno empenha-se em voltar o pensamento contra si próprio, leva-lo a interrogar seus fundamentos (ideais e materiais) e seus limites, exercer a reflexão da maneira mais implacável, descobrir a carência reflexiva tanto no mito quanto na ciência (por isso denominada “positivista”, meramente afirmativa).
Naquelas circunstâncias as grandes linhas de confronto político-ideológico não alcançavam captar com a finura devida os percalços da razão, que se exprimiam nas formas mais abertas da barbárie, mas não unicamente nelas. A crítica da economia política de Marx apresentava-se como uma referência fundamental para pensar a questão em todo o seu alcance, desde que livre da carapaça economicista que a ela aderira.
Uma questão que esses teóricos críticos da sociedade tinham que enfrentar desde logo era, portanto, a de exercitar formas mais finas de percepção da dinâmica ideológica do que os clássicos do marxismo tinham chegado a fazer. Décadas antes de Hannah Arendt e por outros caminhos e outro registro, Horkheimer e Adorno voltaram seus olhares para aquilo que ela viria a denominar “banalidade do mal”, para a necessidade, como diria Adorno em outro momento, de “erguer a pedra sob a qual se encuba o monstro”.
É portanto para as formar aparentemente mais inofensivas de condução da vida no mundo contemporâneo que se deveria dirigir a atenção, em busca do que nelas possa haver de regressivo – especialmente quando se apresentam como formas progressivas de satisfação dos desejos mais espontâneos de homens e mulheres livres para escolher. Isto significava, na prática, que os problemas que esses representantes do pensamento racional e crítico haviam deixado para trás na Europa ameaçada pela expansão do nazismo e do fascismo reapresentavam-se, em formas menos virulentas, no seu exílio norte- americano. E a questão imediata era a mesma que também preocupava o pensamento conservador na sua vertente mais civilizada (Ortega, Huxley, mesmo o Mannheim dos anos quarenta) e do qual cumpria, portanto, distinguir-se: como enfrentar uma situação histórica em que a sociedade e a cultura não mais se apresentam organizadas em grupos reconhecíveis, mas se difundem na indistinção das grandes massas?
Onde melhor se poderia fazer isso senão naquilo em que o ímpeto controlador da razão instrumental aparece dissimulado no que se apresenta como seu oposto: na produção simbólica, na forma da cultura ou como mero entretenimento? Na primeira formulação dos seus autores a indústria cultural aparece vinculada ao processo de esclarecimento pela sua condição de “engodo das massas”. Essa ligação deve ser levada a sério. Numa primeira aproximação o termo indústria remete, neste contexto, ao seu sentido mais arcaico, de astúcia e engano. Isto já permite entrever que o termo indústria cultural não foi inventado por esses autores para descrever, ainda que num registro negativo, um estado de coisas dado à observação direta.
Serve, isso sim, para caracterizar a associação de duas formas de regressão: a da cultura (tema central em Adorno) e também a da indústria (tema importante em Horkheimer), e não apenas a da primeira quando submetida aos ditames da produção industrial. É claro que isso também se dá, e é importante no conceito: as formas de expressão cultural veem-se submetidas à lógica da produção industrial em grande escala, em detrimento dos seus requisitos próprios. Mas convém destacar desde logo que, se o conceito de indústria cultural é de índole crítica isto é levado até o fim, envolvendo ambos os seus elementos: na indústria cultural nem a indústria é inteiramente indústria (não se trata simplesmente de “cultura industrializada”) nem a cultura é inteiramente cultura (porque fica comprometido o que tem de autônomo na sua produção).
O desdobramento analítico mais importante do conceito de indústria cultural consiste na ideia de que, assim como no componente mais acabado do processo cultural, a obra de arte, encontra-se também nos produtos da indústria cultural a organização em múltiplos níveis. Com uma redefinição decisiva, todavia. O que na obra de arte seriam níveis de significação converte-se, nos produtos da indústria cultural, em níveis de efeitos, cada vez mais univocamente planejados e direcionados para outros tantos níveis de recepção dos consumidores, chegando às suas dimensões inconscientes.
A incorporação pela análise de uma concepção não linear de configurações significativas que tanto para seus defensores quanto para seus críticos conservadores parecem simples e unidimensionais é um avanço notável. Ela suscita a questão, no âmbito das concepções de Adorno, das dificuldades para se pensarem nesses múltiplos níveis as formas assumidas por essas configurações. O problema envolvido é difícil, e permanece como um desafio na análise dos processos culturais. É que Adorno leva muito a sério a primazia do momento da produção na análise da indústria cultural, ao passo que muitos dos seus críticos insistem em enfatizar a recepção (mais exatamente, o consumo) para assinalar as diferentes modalidades de “decodificação das mensagens” (para usar termos de jargão que lhe causavam calafrios) lançadas no mercado.
O argumento vai no sentido de que formas diferenciadas de recepção das mensagens podem neutralizar em grau apreciável o poder de imposição de modelos de conduta, de percepção e de formação de referências pela indústria cultural. Os partidários do uso ortodoxo do conceito têm à sua disposição o argumento de que o importante não é tanto o conteúdo, porém o modo como aquelas mensagens são sistematicamente estruturadas por efeito da própria organização da produção. Nesse processo formam-se padrões e núcleos temáticos, cuja eficácia se deve à sua reiteração.
Esta, por sua vez, ganha primazia sobre a variação dos conteúdos. Esse argumento pode ser levado mais adiante, no sentido de que a descoberta de variações na recepção das mensagens (que seria função de repertórios específicos, socialmente definidos) não nos leva longe em termos explicativos, até porque elas podem ser detectadas quase que ao infinito, se examinadas com lentes suficientemente poderosas até o nível individual.
Claro que variações sistemáticas correspondentes a segmentos e agregados sociais podem ser detectadas, e normalmente o são pelos próprios produtores, para fins do ajuste da própria produção (não se faz pesquisa de audiência, também qualitativa, à toa). No limite, isso tem a ver com a tendência intrínseca ao desenvolvimento da indústria cultural (em conformidade, nisso, à lógica industrial), de não mais operar com vistas a um mercado de massa indiferenciado e, em consequência, estratificar sua produção conforme os segmentos do mercado a serem atingidos.
A questão importante, no caso, diz respeito aos limites do planejamento dos efeitos daquilo que lançam no mercado os detentores do controle da industrial cultural. Por isso, a variação que realmente desafia o conhecimento é a que se dá em profundidade, segundo níveis cada vez mais recônditos da própria organização psíquica dos consumidores, e não apenas horizontalmente, segundo as diferenças superficiais de consumo. Haveria, como o próprio Adorno aventou, descompassos entre esses níveis de efeitos, que poderiam mobilizar resistências insuspeitadas nos consumidores? No plano da pesquisa empírica este era, para Adorno, um tema fundamental no que concerne à análise da indústria cultural. Claro que não se pode eliminar, por medo de ser “apocalíptico”, a hipótese de uma tendência ao planejamento em profundidade desses efeitos, rumo a algo como um achatamento dos níveis de recepção e de resposta a produtos culturais difundidos em grande escala.
Mas, se isto se dá ou não é questão empírica, não se resolve no plano da reflexão teórica. O problema consiste em destrinchar, em suas análises da indústria cultural, as sentenças relativas a processos mais amplos e que articulam vários níveis de profundidade do objeto daquelas que se dirigem a aspectos pontuais desse mesmo objeto. Muitas afirmações de comentaristas sobre supostas mudanças de posição de Adorno aplicam-se na realidade a referências a níveis diferentes do objeto, especialmente quando ele está preocupado em assinalar pontos relevantes para a pesquisa empírica.
De modo geral a leitura linear de Adorno tem como efeito mais comum atribuir-lhe uma espécie de positivismo a contrapelo, no qual ele aparece como afirmando (de modo “pessimista”, “elitista” ou similar) o caráter inaceitável de tal ou qual estado de coisas, quando na realidade há negação. Para ele importa expor a negatividade intrínseca às condições que critica, ao levá-las aos seus limites. Assim, dizer que algo é impossível nas condições dadas não significa para Adorno simplesmente afirmar a impossibilidade, mas assinalar os limites das condições que a engendram.
Temos, nisso, um típico exercício da teoria crítica da sociedade. Crítica significa, aqui, negação. Não no sentido de negação direta do objeto, mera repulsa ou afastamento em relação a algo indesejável ou insuportável (como faria a crítica cultural conservadora). No sentido, porém, de negação como recusa a considerar um estado de coisas como dado objetivo sem mais, a ser visto tal como se apresenta à observação e a ser reafirmado nela. Significa tomar aquilo de que se trata (que exatamente não é mero “objeto”, coisa posta) como processo, com tendências que apontam tanto para suas possibilidades quanto para seus limites, sempre buscando pensar essas possibilidades e limites até o fim.
Um frankfurtiano zen (categoria que acabo de inventar) diria que a negação crítica consiste em distender o arco ao limite porém sem esforço, porque o alvo visado é simultaneamente muito preciso e inatingível. A negação incide sobre as consequências que adviriam do desenvolvimento linear das possibilidades do objeto (no caso da cultura, a sua transformação em mero instrumento de lucro na esfera econômica e de controle na esfera social e política) e sobre as condições que definem os seus limites (no caso, a organização capitalista da produção e do consumo). Também aqui não se trata de negação como mera repulsa, mas sim como recusa a reafirmar o que já está dado. E isto se faz em nome de potencialidades histórico-sociais concretas, cuja efetivação precisamente as condições e tendências dadas bloqueiam.
Claro que entre aquelas condições avulta essa dimensão básica da sociedade burguesa que é a ideologia. A ideologia aparece, neste ponto, como a expressão mais acabada, e socialmente mais eficaz, da afirmação sem mais do dado, da simples reiteração do que está presente na experiência social sem questionar-se a natureza e os condicionantes dessa experiência mesma. Na ideologia aquilo que é produto, resultado mediado por um processo, apresenta-se como dado sem mais, imediato quando não originário. Na linguagem de Adorno a ideologia dá como garantido aquilo que não tem como cumprir, a efetivação plena do seu conceito pela coisa. Assim, fala-se de cultura como se ela estivesse aí, dada, como um objeto (ou, pior, como mero atributo de objetos).
Mas a cultura não é isso; cumpre pensá-la na sua intrínseca dimensão crítica. Cultura não se traduz diretamente em livros, artefatos, músicas; se o fizesse, sancionaria sua conversão em outras tantas mercadorias. É modalidade socialmente determinada de relação entre complexos significativos singulares e a sociedade como todo, ou, nesse sentido restrito, entre criador e receptor (seria melhor dizer realizador, pois há trabalho envolvido). E a determinação é negativa, porque a singularidade da obra não é dada, exige esforço específico. É relação antes de ser objeto; e, nos termos do pensamento de Adorno, relação de negação mútua, criador e receptor só se realizam como resistência mútua, que cada qual é levado a superar ao seu modo.
Em termos abrangentes, é negação de um estado de coisas dado, no qual a manifestação do particular (e, por extensão, da obra singular) encontra-se sob o império do geral. No caso, isto significa, em primeira aproximação, que as marcas da diferença, que distingue e especifica, estão subordinadas às marcas do que é comum e está inscrito numa única grande diferença, a do todo em relação ao que lhe é exterior. Uma diferença externa que esconde a identidade interna. Ocorre que há uma tradução social precisa para a identidade, que está no cerne mesmo da sociedade burguesa em condições históricas capitalistas: a equivalência, que reduz tudo ao denominador comum da permutabilidade, finalmente da mercadoria.
Na indústria cultural dá-se isso, o que aparece como cultura circula como mercadoria. Eis aí a marca do aviltamento da cultura, despojada que é da sua pureza espiritual pela pressão das contingências materiais mais subalternas, dirá o crítico conservador. Não é disso que se trata, responderão os mestres da teoria crítica. Não há aviltamento algum, porque o problema se situa em outro nível. É que cultura implica diferença, protesto do particular contra o geral, individualização no lugar do comensurável.
Os produtos da indústria cultural não representam, portanto, uma forma “amesquinhada” de cultura, mas simplesmente não têm como cumprir a sua promessa: precisamente a de serem cultura. E isto não porque lhes falte “espírito”, mas porque são produzidos e difundidos como se fossem mercadorias (vale dizer, comensuráveis entre si segundo um princípio geral de equivalência), ainda que com um rótulo muito especial. Como se fossem mercadorias: pois também seria precipitado dizer que, nas condições da industrial cultural, os produtos culturais se reduzam sem mais a mercadorias, anulando-se a especificidade cultural em proveito da especificidade industrial.
Há, é claro, no limite uma tendência neste sentido. Mas, enquanto ela se desenvolve, há uma tensão entre os dois polos que não têm como realizar-se plenamente: o da pura comensurabilidade mercantil, enredado na própria ideologia que difunde, do caráter inefável da cultura; e o da plena individualização do produto cultural como resultado de um trabalho que respeita a lógica da forma particularizada, mais do que a da equivalência dos “bens” produzidos.
Diga-se de passagem que a consideração disso recomenda olhar com reservas para a posição corrente, que atribui a esse pensamento, sobretudo a Adorno, uma posição “elitista” e “apocalíptica”, na qual meramente se estariam afirmando, e lamentando, supostos horrores provocados pela existência da indústria cultural. Na realidade, o que nele se faz é projetar como um cenário possível as consequências que adviriam do desenvolvimento linear de tendências realmente presentes na sociedade. Não, porém, para fazer afirmações catastrofistas e sim para abrir caminho para o que realmente importa: a negação do caráter inelutável da linearidade dos processos sociais e históricos.
2.
O conceito de indústria cultural foi criado como resposta direta ao de cultura de massa. Mas é significativo que, enquanto na expressão “cultura de massa” a cultura aparece como nome, na sua contrapartida crítica ela esteja na condição de predicado (poder-se-ia dizer, talvez com propriedade porém com a devida cautela, “indústria da cultura”). E a ideia é precisamente essa. Trata-se de contestar a afirmação, implícita na noção de cultura de massa, de que aí se tenha cultura sem mais, e de que ela pertença às massas. Ao invés de atribuir à cultura um sujeito (fictício) a visada crítica desloca a atenção para a sua condição de produto. E isto para enfatizar que não se trata de produto das ações ou vontades das massas, e que portanto elas não são sujeito desse processo.
E quem é então esse sujeito? Seria fácil responder: aqueles que controlam a produção cultural em grande escala, dirigida às massas na sua condição de consumidoras e não de produtoras. Mas talvez isso seja precipitado. O próprio Adorno mais de uma vez sugeriu que os controladores da indústria cultural são tão subordinados à sua lógica intrínseca (a lógica capitalista da eficácia lucrativa) quanto os próprios consumidores (claro que em posições decisivamente diferentes). Usando uma expressão arriscada seria o caso de dizer que se trata de um processo sem sujeito definido, no mínimo para advertir de que os supostos sujeitos (ou seja, aqueles capazes de dar início ao processo e gerir sua continuidade) estão a meio caminho entre os dois polos, o da cultura e o da indústria, sem se realizarem plenamente em nenhum deles.
Nisso de dá o processo efetivo, que produz ao seu modo os sujeitos em posições polares bem específicas, da produção como comunicação e do consumo como recepção. Sempre se pode argumentar que os potentados dos grandes conglomerados da indústria cultural agem, sim, como sujeitos, e de grande peso na distribuição e exercício de poder na sociedade. Para isso, contudo, não precisam apelar para a esfera cultural, bastando usar sua capacidade de controle da informação e formação de opinião (tanto que a parcela designadamente “cultural” da programação que difundem, e infundem, é para eles secundária ou mera fachada).
Nesses termos, a questão fundamental é a do modo de produção daquilo de que se trata. No caso, aquilo a que alude o termo indústria, ou seja, o capitalismo. Nessa perspectiva, a questão do sujeito do processo está aberta. Trata-se de algo a ser decidido nos embates ideológicos e políticos no interior da própria sociedade. O que se está negando, portanto, é que se possa identificar sem mais, como um dado posto objetivamente, esse sujeito. Mas, diria eu (e esta é uma interpretação temerária, já que isto não se encontra com todas as letras nem em Adorno nem em Horkheimer) também não é suficiente a mera inversão da perspectiva, que atribua a outra instância social particular que não às “massas” a capacidade de organizar conforme sua estrita vontade a produção e difusão cultural.
O essencial, neste caso, não consiste tanto em identificar quem é quem no jogo da indústria cultural quanto em recusar a perspectiva que reitera a visão dos dominantes, seja como forem nomeados; precisamente a visão que atribui essa cultura às massas. Ao fazê-lo, Horkheimer e Adorno (na Dialética do esclarecimento ambos, depois só Adorno) assumem, de modo inteiramente paradoxal para quem vê neles a pura encarnação de uma concepção elitista da cultura, a perspectiva das massas, se por essa expressão se entender a parte dominada (ainda que aparentemente soberana) do processo.
Há aqui uma concepção muito específica de democracia no campo da cultura. Consiste ela em sustentar que a posição democrática nada tem a ver com a adulação das massas com seus gostos e preferências, mas com o desmascaramento do engodo a que são submetidas ao serem postas ideologicamente como sujeitos de um processo que precisamente só se sustenta como tal porque elas não têm como contestá-lo e como disputar a condição de sujeitos de fato. Há, portanto, uma concepção democrática intrínseca ao conceito de indústria cultural. Consiste ela em insistir em que não são as massas a serem repudiadas, mas as condições que as tornam tais. Não se trata, contudo, de uma concepção de democracia que atinja o nível propriamente político, no sentido de que contemple explicitamente as instituições (partidos, representação etc.) que possam dar forma a algo que também é um ponto cego na teoria crítica da sociedade, as políticas culturais específicas (exceto naquilo que concerne às políticas educacionais).
Na realidade, a dimensão da indústria cultural que mais intimamente associa o ímpeto crítico à perspectiva descritiva do objeto é aquela que se traduz em duas teses decisivas na formulação desse conceito: a de que a indústria cultural forma um sistema (e de que, portanto, nenhum dos seus ramos pode ser considerado isoladamente, fora da rede de referências cruzadas que se constrói entre eles) e a de que o processo cultural que se dá sob o seu império é multidimensional (sobretudo no sentido de que atua em múltiplos níveis da percepção e da consciência dos consumidores de seus produtos). Isso, para além da sua dimensão descritiva, que não é negligenciável ao aludir à concentração e complementaridade de múltiplas modalidades de produção e circulação cultural em grandes complexos empresariais.
Assinala-se, assim, uma articulação crescente entre todos os ramos de um empreendimento produtor e difusor de mercadorias simbólicas sob o rótulo de cultura, de tal modo que o consumidor se encontra cercado de maneira cada vez mais cerrada por uma rede ideológica com crescente consistência interna. Essencial nisso é que a ideia de que ela constitui um sistema é de índole crítica. Nela transparece um dos temas básicos desenvolvidos por Adorno: a repulsa a toda totalidade fechada e portanto àquela forma histórica da racionalidade (burguesa, diria em especial Horkheimer, usando o termo em sentido muito lato) marcada pela ânsia de tudo encadear conforme uma lógica inexorável, de encerrar tudo em totalidades internamente consistentes. Para Adorno isso remete às afinidades profundas entre as representações míticas, as condutas obsessivas e a busca compulsiva das explicações exaustivas por uma ciência avessa à reflexão.
Já a ideia de multidimensionalidade dos produtos da indústria cultural permite retomar por um ângulo crítico uma concepção importante no campo da grande arte. Segundo essa concepção, a obra artística de alta qualidade contém múltiplos níveis de significado, que requerem um esforço específico para captá-la como totalidade significativa. A ideia envolvida é a de que, ao contrário do mero entretenimento, o contato com a obra de arte é uma atividade produtiva ao seu modo, que requer um investimento, consciente e portanto potencialmente racional, de esforço em todas as dimensões da percepção, incluindo a cognitiva.
Na realidade, está em jogo a ideia, só realizável no limite, de uma experiência de contato ativo com a obra de arte, em contraste com a mera fruição passiva que, também no limite, caracteriza o entretenimento e, por extensão, todas as modalidades de produtos da indústria cultural. O componente crítico básico consiste aqui, como vimos, na ideia de que nos produtos da indústria cultural os múltiplos níveis não são constituídos por significados intrínsecos aos requisitos formais da construção da obra, mas por níveis de efeitos, ou seja, de relações calculáveis entre determinados estímulos emitidos e as percepções ou condutas dos receptores. Não se trata, aqui, de mera “manipulação”. Trata-se de uma modalidade específica de entidades simbólicas multidimensionais, produzidas e difundidas segundo critérios prioritariamente (mas não exclusivamente, embora no limite o sejam) administrativos, relativos ao controle sobre os efeitos no receptor e não segundo critérios prioritariamente estéticos, relativos às exigências formais intrínsecas à obra.
Nesses termos, o problema da recepção (no caso da grande arte Adorno fala em reprodução, para frisar a participação ativa do receptor) não consiste tanto em que ela seja intrinsecamente ativa no polo da arte e invariavelmente passiva no polo do entretenimento. No caso da obra artística é verdade que ela perde inteiramente seu caráter quando recebida passivamente. Já o produto típico da indústria cultural sustenta-se bem, ou até melhor, quando consumido sem mais. Isto sem prejuízo de igualmente comportar formas de participação ativa na recepção, que nunca são reduzidas a zero, até o caso limite (nisso aparentado à música de concerto, com todas as suas ambiguidades) de certas formas musicais como o jazz mais sofisticado (não o swing comercial, que tanto irritava Adorno.[1]. Naquilo que concerne a um aspecto importante daquele processo, que é a relação entre inovação tecnológica e padrões de organização e funcionamento da indústria cultural, um caso contemporâneo que certamente atrairia a atenção de Adorno é o da música transmitida online, em todos os gêneros e de maneira muito peculiar na música de concerto.
Grandes orquestras sinfônicas de alta reputação internacional anunciam transmissões em altíssima definição, com “cristalina clareza” em todos os pormenores (nos dizeres de uma delas, a Filarmônica de Berlim). Isso significa que o espectador-ouvinte pode ver algo que nem a melhor sala de concertos permite, a face dos músicos e seus menores gestos com nitidez extrema. Isso muda toda a técnica de execução, especialmente o trabalho de direção orquestral, ao ponto de ir convertendo os intérpretes (claro que isso vale também para especialistas, como os pianistas) em peritos na arte cênica de expressão calculada e com marca própria, associada ao domínio estrito da técnica de execução impecável acima de tudo.
Mudanças como essa fazem parte de uma variedade de formas novas de emissão e recepção de configurações significativas em todos os domínios ao alcance da indústria cultural e colocam novas questões para os interessados nas relações entre vida cultural e organização da sociedade. Juntos, os temas do sistema e da multiplicidade de níveis de efeitos conduzem ao ponto em que a questão da atualidade do conceito de indústria cultural faz mais sentido, o da importância que nele assume a noção de complexidade.
3.
Na realidade, é no contexto do exame desse tema central na análise do mundo contemporâneo, o da complexidade, que se encontra a questão da atualidade do conceito de indústria cultural. Em primeiro lugar, é preciso considerar que as mudanças ocorridas desde meados do século passado afetam diretamente o alcance do fenômeno. Se na época da formulação do conceito ele se referia ao campo mais abrangente de produção e difusão de material simbólico na sociedade, no período mais recente a indústria cultural converteu-se em subsistema do sistema mais amplo das redes informáticas.
Claro que isso representa sobretudo uma diminuição relativa, embora certamente importante (seria preciso estudar até que ponto) do seu alcance. Em termos absolutos a dimensão institucional da indústria cultural, sob a forma dos grandes complexos empresariais que processam as mais diversas modalidades de produção e difusão simbólica (também aquilo que se costumava distinguir sob a rubrica de “alta cultura” ou “artes”), adquiriu dimensões que deixariam atônitos os velhos mestres de Frankfurt. Mas esse próprio aumento de escala envolve um acréscimo de complexidade, cujos efeitos não são unívocos.
É inteiramente possível sustentar que as grandes tendências apontadas na origem da formulação do conceito (a própria expansão de escala, o aumento de complexidade, a concentração do controle sobre o processo cultural no âmbito das exigências da produção rentável ainda que em nome da suposta soberania do consumidor, a prevalência de critérios empresariais e administrativos) foram amplamente confirmadas pelos fatos.
Entretanto, a própria sensibilidade ao caráter complexo e multidimensional do fenômeno que o conceito requer recomenda ficar atento ao intrincado jogo que se vai estabelecendo entre a concentração do controle sobre o processo global e a possível multiplicação de nichos diferenciados no seu interior. Há, portanto, limites intrínsecos, derivados do aumento de complexidade do sistema, à tendência, também intrínseca a esse processo, no sentido de se tornar integralmente fechado e sem lacunas (uma situação limite que, é bom lembrar, jamais foi invocada pelos frankfurtianos no registro afirmativo, mas como cenário possível, para fundamentar não só a caracterização como também, e principalmente, sua negação como tendência real).
Significa isso que esteja na hora de abandonar a ênfase da teoria crítica, de clara inspiração marxista, na primazia do momento da produção sobre o do consumo, também, e de modo muito específico, na esfera da circulação de artefatos simbólicos em grande escala? Será o caso de, mantendo-se talvez um tom crítico quanto a alguns aspectos disso, deslocar a prioridade da atenção para o âmbito do consumo, entendido como conjunto diferenciado de modalidades de recepção de material simbólico?
Neste caso, o argumento básico seria o de que nas condições contemporâneas seria equivocado não dar o devido relevo a uma dimensão desse processo que, sustenta-se, sempre foi subestimada pela teoria crítica. Isso porque os consumidores que a teoria crítica veria como meramente submetidos ao império das grandes organizações da indústria cultural estariam na realidade equipados, por diferenças de socialização e de inserções grupais, não só para efetuar seleções no interior da massa de material simbólico oferecido no mercado cultural como também, e principalmente, para submeter o material selecionado a interpretações eventualmente discrepantes daquelas esperadas pelos controladores da sua produção e difusão. Considerando-se que o alcance global das redes de comunicação em grande escala não elimina variedades locais e sob certos aspectos as reforça (como segmentos diferenciados do mercado) a diferenciação de padrões de consumo cada vez mais exigiria atenção naquilo que diz respeito ao seu peso no interior do processo.
Os defensores do conceito de indústria cultural têm à sua disposição uma resposta imediata muito plausível a essa reivindicação de mais cuidado com essa dimensão dos padrões de consumo, e da heterogeneidade que eles podem introduzir num mercado cultural em grande escala tendencialmente homogeneizado por uma organização fortemente concentrada na produção. É que os modos diferenciados de resposta aos produtos culturais que circulam em grande escala são incorporados pela própria indústria cultural na rodada seguinte do processo, sempre que se revelem de alguma importância.
Isto faz lembrar um aspecto essencial, o de que a dimensão essencial, no caso não consiste na capacidade de homogeneizar ou desdiferenciar o mercado. Consiste na capacidade de manter a iniciativa no processo, planejando cada etapa com base no que se observou na anterior; coisa que certamente só pode ser feita pelo lado da produção e do controle sobre a circulação dos produtos (principalmente mediante o monitoramento e a segmentação dos mercados). Nessas condições, certo nível de desvio e discrepância em relação às respostas padrão podem até ser desejável e mesmo incentivado.
Mas não podemos permitir que essa primeira objeção nos torne insensíveis aos problemas suscitados pela evidência de que nem todo mundo recebe do mesmo modo as mesmas mensagens. É claro que esse argumento da diferenciação das modalidades de recepção pode ser conduzido a pontos extremos e, por essa via, tornar-se trivial ou mesmo absurdo. Pois é no mínimo plausível sustentar que a recepção de todo material simbólico, por mais planejada (ou ritualizada) que seja sua produção e circulação social, passa por numerosos filtros, dos quais os mais finos integram o aparato psíquico individual (que, como o insuspeito Durkheim bem sabia, jamais é suscetível de integral socialização). Portanto, se formos fundo o bastante, a diferenciação de modalidades mais finas de recepção será da mesma ordem que o número de indivíduos receptores. Diga-se de passagem que dizer isso não significa meramente argumentar por redução ao absurdo.
Essas constatações são relevantes, e por sinal não escapavam à atenção de Adorno. Por exemplo, quando ele propunha o uso de imagens retiradas de produtos da indústria cultural (como histórias de amor em quadrinhos ou telenovelas) como se fossem testes psicológicos projetivos, nos quais os sujeitos construiriam relatos sobre o que lhes foi apresentado; ou quando, no seu importante estudo sobre lazer, discute o modo como são recebidos os relatos de revistas dedicadas a fofocas sobre “personalidades”.
Neste segundo caso o que lhe chamou a atenção é justamente que, sob um primeiro nível de aceitação pura e simples das mensagens (no caso, relativas a visita do xá da Pérsia, hoje Irã, então altamente propagado emblema do “mundo livre” nas cercanias da União Soviética malgrado o regime autoritário que o sustentava) revelou-se possível encontrar um segundo nível. Este seria marcado por um certo grau de dúvida quanto ao recebido, o que assinalaria possíveis descompassos no funcionamento da indústria cultural.
Argumento fraco, de resto, que dificilmente resistiria a exame mais sério, no mínimo acerca dos fundamentos dessas dúvidas (a começar pela circunstância de que elas se restringiam ao campo delimitado pelas mensagens recebidas, da vida privada do casal real). Adorno sabia muito bem disso, no momento em que fazia essa suposta concessão aos seus críticos, para ele tratava-se de indicar que a questão, vista na devida profundidade, merece mais pesquisa e reflexão. Nada disso, entretanto, anula a posição principal, da primazia do polo da produção, pois é nele que reside a capacidade de iniciativa e, por extensão, de controle nesse processo.
Essencial nisso tudo não é tanto que se reconheça ou não o caráter internamente diferenciado desse processo (na realidade ninguém sustenta a sério que ele seja pura e simplesmente monolítico), mas sim o modo como isso é feito. E neste passo a contribuição básica do conceito crítico de indústria cultural consiste na ênfase sobre duas (e não só uma) dimensões de complexidade: a horizontal (a indústria cultural como sistema) e a vertical (os produtos da indústria cultural como entidades organizadas em múltiplos níveis de significado, na dimensão dos efeitos).
Isto permite assinalar tanto a potência (ainda muito grande, sustento) desse conceito quanto seus limites. Estes têm a ver com a circunstância de que ele foi explicitamente construído para dar conta daquelas condições em que a modalidade dominante de produção e circulação de material simbólico é a da subordinação da lógica específica da dimensão cultural à lógica geral da produção de mercadorias no capitalismo. Fora desses limites históricos seu alcance se limita até a irrelevância. Evidentemente isso suscita de novo a grande questão que já atormentava, ao seu modo, os mestres da teoria crítica da sociedade há mais de meio século: se o modo de produção dominante no mundo contemporâneo é capitalista, como caracterizar com precisão esse capitalismo (e captar o que nele representa a circulação de mercadorias enquanto expressões do princípio da equivalência generalizada)?
Pois é possível sustentar que o conceito de indústria cultural é bastante diferenciado para dar conta de condições de alta complexidade em todas as dimensões da organização social, e que isto o torna atraente num mundo marcado em escala crescente pela complexidade das redes de relações. Mas a pergunta que está na origem da construção do conceito no seu momento histórico particular continua valendo, talvez mais do que nunca: qual é a precisa natureza dessa complexidade, quando examinada com um instrumental analítico cuja fonte é a crítica da economia política de raiz marxista?
Para demonstrar a obsolescência da teoria crítica da sociedade, e portanto do conceito de indústria cultural, seria preciso demonstrar a irrelevância das questões que a teoria e o conceito a ele pertencente propõem, nos seus níveis e âmbitos próprios. Para os adeptos da teoria crítica o desafio é maior. Trata-se de buscar formas novas para suas questões centrais sem abandoná-las no caminho. No caso do conceito de indústria cultural, isso significa aplicar às condições contemporâneas da produção, circulação e consumo (recepção) de material simbólico as propostas básicas da teoria acerca das duas dimensões de complexidade presentes nesse processo: a sistêmica e a da multiplicidade de níveis em profundidade, com tudo que isso tem de fecundo e instigante, junto com a premissa maior, da primazia da produção, tudo isso referido a uma configuração social concreta, o capitalismo na sua forma contemporânea.
*Gabriel Cohn é Professor Emérito da FFLCH- USP. Autor, entre outros livros, de Weber, Frankfurt (Azougue)
Nota
[1] Os manuscritos originais dos trabalhos de Adorno nos EUA são apresentados, junto com o artigo de Adorno sobre música popular, em livro de Iray Carone em vias de publicação pela Editora Azougue.