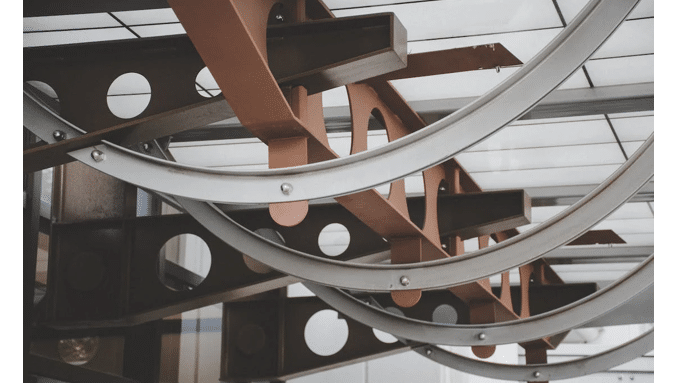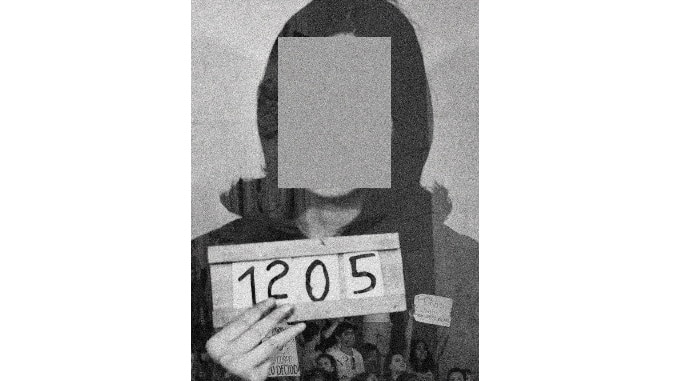Por LUIZ RENATO MARTINS*
À arte – desde que entendida enquanto ação de contrainformação – que se quer dissidente, senão revolucionária, cabe extrair lições de tática e de estratégia de tais ações
Negação em progresso (Pollock)
A pintura de Pollock (1912-1956) e seus companheiros foi inicialmente aproximada e comparada ao programa pictórico dos surrealistas. Contudo, ela não pretendia deixar marcas subjetivas, como era comum entre os últimos. Nesse sentido, a pintura de Pollock se distinguiu prontamente do surrealismo, a ponto de constituir a sua própria antítese pelo velamento das marcas subjetivas autorais. Com efeito, o movimento pictórico nova-iorquino assentava, entre outros fatores, na intuição histórica do esgotamento do poder semântico da figura.
Logo, a outra premissa associada à do poder figurativo – ou seja, a da verdade somática da linha e da forma –, validada em certa arte surrealista, também virou objeto de negação crítica. Logo, apesar de derivarem da ação corporal, linha e forma não foram utilizadas no âmbito do movimento nova-iorquino como alusões a sinais somáticos (a traços e indícios não conscientes) – à maneira, por exemplo, de sua utilização corrente nas pinturas e grafismos de André Masson (1896-1987) e Henri Michaux (1899-1984), dois exemplos da mais instigante pintura surrealista.
Ao contrário, os trabalhos de Pollock e da maioria de seus companheiros afastaram-se, pode-se dizer, da esfera subjetiva (decisiva, para os surrealistas) e configuraram-se como fenômenos quantitativos ou, em termos de fatura ou processo pictórico, em geral, mediante a acumulação de camadas de tinta. O processo envolvia sobreposições (para ser exato, postas antes como opacificações ou vedações do que como velaturas, buscando evocar flous ou nebulosidades) ou – para aludir a signos próximos à chamada “arte nativa” (native-american art), que muitos membros do grupo apontavam como um modelo ou influência originária – as superposições constituíam-se ao modo de “sepultamentos”[i] sucessivos.
Para além das alegações referentes ao imaginário, qual o sentido dessas operações fundamentalmente negativas? De um modo ou de outro, um processo coletivo de diferenciação, pode-se dizer, mediante o qual a pintura do grupo nova-iorquino, ao se especificar negativamente, qualificava-se como autônoma frente à pintura surrealista.
De fato, o surrealismo servira de início como referência e contraponto para os jovens artistas de Nova York de então, postos repentinamente, devido às circunstâncias, em contato direto com artistas europeus, dentre os quais inúmeros surrealistas. Estes últimos (fugitivos e exilados em condições difíceis, mas autores, não obstante, notos e prestigiados) exerceram pronta ascendência no novo ambiente, todavia sem tradições pictóricas consistentes e consolidadas.
Para exame de tal processo e percurso, tomemos o trabalho de Jackson Pollock, a muitos títulos precursor, como amostra de referência. Em resumo, este, ao não atribuir à figura após 1943 outro alcance senão aquele da significação idiossincrática (para fins terapêuticos), visou à revisão crítica ou à suspensão do poder autoral sobre a forma, nos termos de sua própria situação no contexto então posto.
Assim, no fim das contas, o “sepultamento” em questão, no caso de Pollock, era aquele da sua própria condição de autor (iniciante, mas já com um trabalho consistente e crítico) em face do processo plástico. Em suma, “que fazer?”, sem tradição ou parâmetro próprio, quanto à volúpia e possibilidade de pintar que lhe restava em mãos? Observemos a resposta pictórica fulminante que Pollock deu ao dilema acima.
Se a lentidão de Cézanne denotava, segundo vimos, a busca zelosa de uma verdade – extraída do processo fenomênico da consciência autoengendrada em situação –, em contraste, a rapidez do ato pictórico de Pollock veiculava, por sua vez, pessimismo crítico e ceticismo quanto ao poder e à validade de significação da espontaneidade subjetiva. Mais ainda, envolvia também a rejeição de novos modos de totalização compositiva.
Dessa forma, a rapidez crescente da pintura de Pollock logo após a guerra era crucialmente distinta daquela de Manet e de Van Gogh – dois paradigmas históricos de pintura veloz, na esteira da rapidez programática de Baudelaire.[ii] Com efeito, os trabalhos dos dois, ao priorizarem a totalidade dinâmica do processo produtivo para além de toda convenção ou signo, não se deixaram limitar pelo imperativo da forma acabada. Entretanto, à diferença desses artistas que o precederam no cultivo da integridade expressiva do ato vivo de trabalho, a aliança de Pollock com a instantaneidade era da espécie de quem nada mais tinha a esperar ou perder. Assim, sua ausência de compromisso com o futuro, ou seja, com o caráter exemplar e duradouro da forma, era distinta daquela de Manet, Van Gogh e Picasso.
De fato, no caso de Pollock, a tarefa ousada e trágica – realizada na situação de “novo bárbaro”, sublinhada pelo crítico Leo Steinberg (1920-2011) – consistia em anunciar que ele nada tinha a dizer e menos ainda a esperar.[iii] Noutros termos, como parte radicalmente atomizada de uma sociedade desde há muito pulverizada pela industrialização, Pollock já não esperava alcançar nem a si e nem tampouco ao todo. Restava-lhe o quê?
Na perspectiva do desespero (sincero) – e ademais maximizado naquela quadra pelo uso inédito e genocida da energia nuclear –, Pollock assinalou dialeticamente, como corolário da crise, a morte simbólica da pintura como ato de estilo ou gesto autoral, mediante a exasperação aparente e paródica dos aspectos de aleatoriedade da forma pictórica.
De modo geral, a falência da forma como qualidade e objetivo mental apresentou-se também, ressalvadas diferenças cronológicas e de grau, em trabalhos dos demais integrantes do grupo nova-iorquino. A crise da forma foi intuída também por certos pintores europeus do período. Tratava-se da quota de verdade histórica inelutável, inerente à objetivação da crise geral que se impôs aos autores, independentemente das particularidades de cada caso artístico.
Analogamente, noutro plano (o da reprodução social e das práticas da esfera cotidiana nos Estados Unidos então triunfantes), a atomização social e o volume excessivo de matérias à disposição de todo consumidor – marcas de um processo de produção hipertrofiado – causaram o aumento não só do volume de sobras e detritos, mas também a descrença em toda forma de composição e totalização como contraponto à administração total da vida.
Enquanto índices genéricos, não limitados à esfera da “alta cultura”, tais sinais indicaram também, numa escala macro, a nova hegemonia militar, econômica e política, alcançada em âmbito planetário pelas forças militares e econômicas norte-americanas (progressivamente durante a guerra[iv] e irretorquivelmente no período seguinte). Como cada artista reagiu a tal determinação – isto é, à crise terminal da concepção de forma – é questão de economia autoral, que não cabe ora especificar.
Forma sem sentido, mas estruturada: determinação quantitativa
Quanto a Pollock, frente à imediatez perdida (do sujeito como forma para si e poder autóctone de formalização), não lhe restava senão responder mediante a negação da condição de autor. Assim o fez, no caso, ao transferir imediatez ou “automatismo” aos materiais, atribuindo aos últimos, em aparência, quase um animismo.
Nesse sentido, no período do imediato pós-guerra, as pesquisas pictóricas de Pollock (incorporando detritos e alternativas ao uso do pincel) – e manifestando sempre descrença na forma – denotavam ceticismo ético e cognitivo. Assim, na série Sounds in the Grass (1946), em que incluiu, além de tinta, detritos e restos, não era mais possível distinguir a prevalência ou mesmo a elaboração de uma nova racionalidade produtiva da forma (ao contrário do verificado outrora com o cubismo). Não obstante, a situação e o resultado plástico eram evidentemente novos, mas e quanto à forma, de onde e como surgia, e como se dispunha?
De fato, nas circunstâncias dadas, a pura quantidade e a escala gigantesca dos materiais e dos meios pictóricos, inclusive das próprias telas, passaram a determinar a forma. Logo, tal como nos produtos da indústria para o mercado – em que a forma atende a critérios da economia de escala –, a forma final, na série subsequente de Pollock (aquela iniciada em 1947, dos chamados “drippings”), conservava pouco ou nada de razão própria ou sentido interno. No entanto – e paradoxalmente –, isso não a destituía, enquanto momento serial, de estrutura e significação objetiva; já veremos.
Entrementes, e de um outro lado, diante da inconsistência da dicotomia entre abstração e figuração, houve quem invocasse sincreticamente a figura de ocasião do “cogumelo nuclear” – como emblema híbrido de época –, a meio caminho entre a dissolução da forma e a figuração.[v]
De tal ponto de vista, entretanto, cumpre considerar também a hipótese figurativamente menos alusiva e sem traços de particularismo e sensacionalismo; aquela de uma paródia da “subjetividade automática” ou sem sentido interno. De um modo ou de outro, e particularmente no caso de Pollock, a forma sem sentido interno não aparecia isenta de sentimento trágico, como uma espécie de contraponto dialético ao vazio de si.
O mercado: um novo sublime?
Postos os termos, certos traços e o contexto histórico, tratemos de reconstituir os passos da obra de Pollock, um a um, pois são especialmente ilustrativos do estado terminal da condição autoral, então lançada numa espécie de vazio. Antes do fim da guerra, Pollock recebeu a encomenda de um mural para o apartamento da galerista Peggy Guggenheim (1898-1979). A escala gigantesca da encomenda era tal que forçou o casal de jovens artistas, Lee Krasner (1908-1984) e Jackson Pollock, a abater uma parede interna do próprio apartamento a fim de estender a tela conforme as dimensões especificadas na encomenda.
Operar em tais dimensões como que conferiu inteligibilidade ao enigma posto pelo caráter do novo poder ciclópico das forças produtivas, que explodia então medidas e escalas, hábitos e relações. Isso permitiu a Pollock descortinar a nova era de comércio sem fronteiras, vale dizer, do mercado como novo simulacro da totalidade, em curso de instalação segundo a forma de paz do pós-guerra.
Assim, a importância emblemática da encomenda burguesa – acentuada aqui por provir da galerista que empregava Pollock e exercia, a esse título, a prerrogativa monopolista de exclusividade quanto à sua produção – realçou o novo papel histórico da forma-contrato. Decerto, no caso, não o “contrato social” de Rousseau (1712-1778), mas o do assalariamento como nova totalidade – ou, para ser exato, da forma-mercadoria como novo paradigma simbólico geral.
Desse modo, essa encomenda apareceu para Pollock como o emblema próprio a uma arte sem o contraponto da natureza ou da ideia; em suma, sem origem e sem télos, sem sujeito nem forma como princípio ou finalidade, mas com a mediação do mercado como premissa ou forma a priori, por excelência (com efeito, Duchamp não estava longe, mas, de fato, muito perto, como vimos, e fora o responsável pela contratação de Pollock por Guggenheim).
A vida humana, impulsionada pelos novos processos, entrou numa era de fissão inédita das formas da subjetividade, ecoando a transformação geral inerente à hegemonia do mercado e à nova voragem produtiva – tal um novo sublime, ultrapassando a capacidade dada de sentir. Pollock avaliou e mediu as circunstâncias e os dados desse salto no abismo. Os drippings correspondem a tal cartografia.
Retrato de um artista quando jovem – na era dos monopólios
Para o produtor norte-americano de bens e serviços, o mercado mundial se tornou um dado praticamente de alcance direto. O imperativo numa economia em crescimento explosivo era expandir ou desaparecer. Como se ante uma espécie nova de ilimitado ou de “sublime”, o artista norte-americano não ficou imune ao megamercado ou à nova racionalidade inerente à expansão planetária da forma-mercadoria.
Ainda mais, vivendo em Nova York (logo, no vértice do furacão), o pintor, ainda que fosse um produtor individual atuando dentro da tradição artesanal do ofício, não pôde escapar ao sorvedouro da economia expandida massivamente pela voragem da guerra, da produção bélica e dos novos territórios redesenhados pela pax americana. Tampouco Pollock escapou do impacto da oferta de materiais inerente ao butim imperial abocanhado pelos Estados Unidos. Como se esquivar ao processo geral e vertiginoso e ao modo de produção serial? Logo, ao se “pôr à altura do momento” (Pollock dixit), o jovem pintor foi compelido – como membro de uma tropa de choque e assalto, de comandos paraquedistas numa operação de desembarque em praias estrangeiras – a protagonizar a entrada da arte na indústria cultural (bem antes da pop art).
As vias da pintura posterior de Pollock mostraram-no tragicamente ciente, ainda que subjetivamente não imune, ante os perigos e impasses próprios à nova condição histórica da arte: tratava-se de uma arte degradada de sua autenticidade aurática e na qual todo termo inerente ao projeto autoral individual emergia fadado já à pronta obsolescência. Comprovava-se singularmente afiada a intuição inicial que apartou o grupo de Nova York das premissas surrealistas (subjetivas e artesanais).
Práticas antiepifania e outras táticas contra-hegemônicas
A consciência histórica de Mark Rothko o conduziu à negação de todo aspecto individual da pintura. Da negação da expressividade subjetiva e da unidade orgânica da obra, passando pela superação das marcas do corpo como emblema de verdade, até alcançar a despersonalização deliberada da pincelada (brushstroke), a pintura de Rothko veio a negar também o teor monadológico da tela aurática e única que atendia à concepção metafísica da forma como epifania.
Desse modo, um processo próprio de radicalização crítica e materialista levou-o a considerar o quadro em termos de arquitetura, vale dizer, não como objeto único, mas sim como parte de um conjunto sequencial de telas. Veio a concebê-las, pois, feito série reflexiva ou elementos sintáticos dispostos consoante uma proposição espacial, como numa montagem fílmica.
Não obstante, Rothko não renegou em tal processo o princípio realista da arte como ato crítico-cognitivo, dotado de universalidade exemplar – conforme a moral formal de Kant (1724-1804) –, ainda que ao custo de uma aporia ou de um impasse paradoxal e exasperado.
A reconstituição da funcionalidade da pintura como teatro e como arquitetura dialógica, configurando uma arte cívica – reclamada por Rothko e, note-se, também pela maioria dos membros da Escola de Nova York –, realizou-se efetivamente, de modo intenso, mas também fugaz, nas obras (1965-1967) instaladas na chamada (após a sua morte) Rothko Chapel (1970-1971), em Houston, Texas.
Nesse ciclo de pinturas, a veemência maximalista do movimento pictórico da Escola de Nova York alcançou seu extremo e derradeiro desdobramento. A sua realização se tornou um paradigma pictórico e estético; signo trágico de um impasse histórico no interior de uma ordem social despedaçada, nessa altura, já cega e surda ao discurso ético e estético – exemplar e reflexivo – das telas da Rothko Chapel.
Ante a arte administrada
Só a extrema concentração bem como a mestria e o rigor de um pintor intransigente e de exigência ímpar tornaram possível a realização de tais pinturas. Isoladas e configuradas como uma totalidade – corporificada na miniágora da assim chamada Capela de Houston –, essas obras de Rothko, na intensidade de sua negação do discurso convencionalmente transitivo e comercial da arte, constituíram um anacronismo dilacerante, em contraste tanto com o cinismo programático (mesmo que ainda não isento de proselitismo) da pop art norte-americana, quanto com o profissionalismo frio e executivo da hard edge e da colour field painting.
A pintura ulterior de Rohtko, em tinta acrílica sobre papel, intensificou dramaticamente as leves estrias deixadas pelo pincel – ao modo de espasmos desesperados na parede intransponível de uma cela. Pungentes e intensamente expressivos – como só podia ser o testemunho final de um sobrevivente –, esses trabalhos resistiram (sobre simples folhas de papel) incessantemente e sem ceder, até o fim.
A verdade inapelável da nova hora já tinha sido anunciada por Pollock dois decênios antes: a arte moderna – como negatividade crítica totalizante; como guerra popular de resistência; como ato de provocação e guerrilha de uns poucos contra um exército camuflado e amplamente equipado para controlar e planejar todos os aspectos da vida – estava condenada a desaparecer. Ante a modernização triunfante, a arte moderna iria se tornar mero subsistema específico e uma prática avançada de positivação da indústria cultural. Fim?
Exemplo derradeiro
Em resumo, Rothko resistiu o quanto pôde e prolongou à exasperação a resistência agônica da poética moderna, levando-a a perdurar e a se desdobrar num contexto em que a negatividade dos valores poéticos da arte moderna já soava como exógena.
De algum modo, esse final constituiu um paralelo com o fim trágico e bravio do Che (1928-1967), pouco tempo antes. Assinalou também o termo de um projeto universalista visando à reestruturação das relações sociais, mediante a exemplaridade subjetiva do combate e do sacrifício em nome do todo. Com efeito, uma existência tão única e exemplar, consagrada à constituição de uma universalidade nova, propusera um paradigma congruente com o projeto da arte moderna. Tal como concebida por Baudelaire, a arte moderna forjou a exemplaridade prática da sensação e do instante subjetivo, eternizando-os num plano de objetividade simbólica; assim o fez, em antítese ao avanço da barbárie inerente à modernização capitalista.
De certo modo, o mito do Che alcançou também tal exemplaridade. Mas, ao mesmo tempo, a captura e execução na selva boliviana do indivíduo Ernesto Guevara, quase só e sem aliados, assinalou também o limite histórico de tal processo. Com efeito, leitor assíduo de Baudelaire e depois de outros poetas (portando sempre textos de poesia em sua mochila),[vi] o Che, médico e combatente revolucionário, encarnou um projeto histórico que era estruturalmente congênere, do ponto de vista ético, histórico e crítico, ao da arte moderna. Nesse sentido, constituiu uma perspectiva crítica e reflexiva universal – ainda que, enquanto paradigma de negatividade, uma perspectiva de exceção. O Che converteu a sensação em reflexão e exemplo radicalmente éticos, lançados na brevidade do momento, de modo a obter, a partir da sensação, uma síntese totalizadora a todo custo, vale dizer, às custas da própria vida.
Em suma, se é fato que o processo da arte moderna se alinhou com a nova correlação de forças estabelecida ao longo da sucessão de obras e ações de Rousseau, Diderot, Kant, David (1748-1825), Baudelaire, Daumier, Courbet (1819-1877) e Manet; se é igualmente verdade que tais autores, ao buscarem praticar simultaneamente crítica e arte crítica – ou arte como crítica –, consciente e concretamente livres de toda tutela, estabeleceram o compromisso de uma e outra com a interpretação do seu próprio tempo; e, por fim, se é fato também que a arte moderna desenvolveu um caráter explicitamente provocativo e negativo, ligado à ideia de arte como sensação universalizada, mediante a ação individual contra a devastação das formas de vida não capitalistas, então todas essas qualidades podem, enfim, ser tomadas como intrinsecamente críticas e inerentes ao projeto original da arte moderna, tributário da valorização estratégica da sensação por Baudelaire. Igualmente, pode-se inferir que essa linha – consoante o esquema da sensação ou da ação individual negativa fundada na apreensão reflexiva da irredutibilidade do momento fugaz e de sua elaboração ética e estética – ora exauriu-se.
De fato, essa linha encontrou seu fim emblemático nas derrotas em escala global dos movimentos anticapitalistas de 1968. Tais derrotas assinalaram um ocaso e não uma aurora: o termo final de um ciclo histórico de 180 anos, aberto pela Revolução Francesa.
Lógica do extermínio
Em suma, quaisquer que fossem suas dessemelhanças, as mortes do Che (por assassinato, em outubro de 1967) e de Rothko (por suicídio, em fevereiro de 1970) tiveram lugar de modo desigual, mas combinado, sob a lógica de extermínio inerente ao mesmo inimigo (o capitalismo avançado norte-americano). Logo, ambas as mortes assumiram, para além dos fatos e circunstâncias desiguais, sentidos convergentes e combinados.
A vitória capitalista e genocida, na Bolívia como em Manhattan, assinalou a impraticabilidade da ação revolucionária na escala direta da sensação individual; ou seja, de uma certa concepção de pensamento e de práxis como experiência ética, política e estratégica de luta individual direta.
Novos fronts: desiguais, mas combinados
Isso não implica absolutamente o bloqueio definitivo das chances revolucionárias, como vaticinam os execráveis arautos da petrificação da história, nem sugere que as possibilidades subjetivas e coletivas distinguidas em revoluções precedentes e na negatividade crítica e reflexiva da arte moderna tenham cessado de valer para o futuro.
Porém, significa sim o início de um novo ciclo histórico, caracterizado pela unificação dos modos de circulação, de controle e de administração, em escala global como também infinitesimal. Em relação à experiência subjetiva e estética nesta nova era (exceto em situações extraordinárias e sem importância estratégica), as possibilidades de contato primário, livre e direto entre o observador e a obra se apagaram. A forma de experiência que o sujeito, consoante a perspectiva de Rousseau, concebera outrora na forma da sensação, como prerrogativa ou como faculdade livre e desimpedida ante a natureza, não é mais possível. Um novo imperativo estratégico colocou-se.
Doravante, toda estratégia de dissidência e de luta trava-se muito além do limiar tido por imediatamente natural ou da suposição da liberdade e da natureza como dados gerais e fundamentais. Essas premissas foram confiscadas e privatizadas (pelo capital) como bens civilizacionais de uns poucos, e a crise se instalou noutro patamar e de modo permanente. Queira-se ou não, as relações contemporâneas no mercado mundializado são impulsionadas a partir da multiplicação das disparidades de classe em todos os níveis, e são colonizadas pela indústria cultural (ora interveniente na escala global do planejamento e da administração) – tudo isso ocorrendo sob a luz ofuscante do condicionamento totalitário das formas de intimidade, de intersubjetividade e de circulação, mediante o processamento industrial e a comoditização de praticamente toda sensação.
Desse modo, os limiares do humano e da natureza, traduzidos nas formas do cogito e do direito natural e definidos como princípios do mundo moderno, foram de fato pulverizados pelas trocas de informações digitais, assim como pelas formas de subjetivação narcísicas ativadas e exasperadas até a histeria pela expansão capitalista.
Contra tal ordem sistêmica e adversários dessa magnitude, o requisito prévio de toda negatividade crítica e práxis política radical, além de se fundar em juízos históricos sintéticos e reflexivos (de descortino amplo, senão totalizante), deve implicar estratégia e modos de ação em moldes necessariamente supraindividuais ou coletivos.
Alcançou-se assim, no âmbito da produção simbólica e da ação estética, o fim de um processo, cujo esgotamento – antevisto já por alguns como Kafka (1883-1924), Benjamin (1892-1940), Brecht (1898-1956), Duchamp (1887-1968) e Pollock, entre outros referidos – haveria de implicar o fim do ciclo da “autonomia estética” como forma ligada à liberdade do sujeito, assim entendida em termos ideais como bem tido por transcendental e fundamental.Terminou isso.
Em resumo, encontramo-nos no mercado mundial num novo ciclo estrutural, caracterizado pela absorção da arte enquanto bem suntuário, que circula como subsistema específico das finanças e fator de positivação da indústria cultural. Os processos estéticos e simbólicos, sem prejuízo de certas especificidades, deixaram de ter eficácia e sentido enquanto derivados da sensação e da ação direta ou da subjetividade autônoma e livre, umas e outras desde logo falsificadas, coisificadas e convertidas em formas esvaziadas no mundo administrado dos algoritmos e automatismos.
Para aqueles que pretendem continuar a resistir à barbárie valendo-se dos critérios postos pelo realismo crítico contemporâneo, é crucial levar em conta a novidade específica de tais condicionamentos, que implicaram a desnaturação e o esvaziamento de toda imagem, senão inclusive de toda sensação, pois a experiência sensível nos dias atuais aparece correntemente conjugada à fraude e à industrialização, em ritmo de galope digital.
É preciso considerar igualmente os fatores supraindividuais e heterônomos, sempre ativos. Estes, se não sobredeterminam totalmente a produtividade artística e inclusive a atividade da imaginação, atando-as permanentemente aos automatismos do mercado, têm no entanto sua hegemonia securitizada quanto à circulação e recepção de imagens, cujo controle e vigilância são permanentes. Sem essa constatação tática, nenhum projeto de transformação estrutural na contramão da ordem atual do capital poderá avançar.
Se na escala macro tudo está sob vigilância, restam sempre aberturas imprevistas e instantâneas, vulneráveis a estratégias dissidentes. Assim, apesar de todas as instâncias e formas novas de controle, blindagem e planejamento de segurança, a eficácia dos atos de Daniel Ellsberg (1931-2023), em 1971, e mais recentemente de Edward Snowden (1983), Julian Assange (1971) e Chelsea Manning (1987), tornando públicos segredos altamente sigilosos do complexo industrial-militar do Pentágono, demonstraram tanto o alcance planetário dos sistemas de segurança e de punição quanto as suas vulnerabilidades diante de estratégias críticas e dissidentes, ainda que baseadas na iniciativa de um único indivíduo, desde que bem concebidas, exercidas com habilidade e as ferramentas de base necessárias, incluindo uma rede coletiva de apoios. A priori nada é impossível.
À arte – desde que entendida enquanto ação de contrainformação – que se quer dissidente, senão revolucionária, cabe extrair lições de tática e de estratégia de tais ações. O planeta, encerrado sob relações de mercado, aparece como um todo sob formas desiguais, mas rigorosamente combinadas. À intelligentsia crítica, a busca estratégica pelos pontos vulneráveis; às maiorias, organizarem-se eficazmente.
*Luiz Renato Martins é professor-orientador do PPG em Artes Visuais (ECA-USP). Autor, entre outros livros, de The Conspiracy of Modern Art(Haymarket/ HMBS).
** Segunda parte do cap. 14, “Economia política da arte moderna II: balanço, modos de uso, lições”, da versão original (em português) do livro La Conspiration de l’Art Moderne et Autres Essais, édition et introduction par François Albera, traduction par Baptiste Grasset, Paris, éditions Amsterdam (2024, prim. semestre, proc. FAPESP 18/ 26469-9). Agradeço o trabalho ao longo do tempo de preparação do original por Gustavo Motta, Maitê Fanchini e Rodrigo de Almeida, e de revisão por Regina Araki.
Para ler a primeira parte deste texto clique em https://aterraeredonda.com.br/balanco-modos-de-uso-e-licoes-da-arte-moderna/
Notas
[i] Ver Michael LEJA, “The Mythmakers & the primitive: Gottlieb, Newman, Rothko & Still” e “Jackson Pollock & the Unconscious”, in idem, Reframing Abstract Expressionism: Subjectivity and Painting in the 1940s, New Haven and London, Yale University Press, 1993, pp. 49-120 e 121-202, respectivamente.
[ii] Ver “A conspiração…”, op. cit., pp. 27-44.
[iii] Ver Leo STEINBERG, “Pollock’s first retrospective”, in idem, Other Criteria: Confrontations with Twentieth-Century Art, Oxford, Oxford University Press, 1972, pp. 263-7; “A primeira retrospectiva de Pollock”, in idem, Outros Critérios: Confrontos com a Arte do Século XX, trad. Célia Euvaldo, São Paulo, Cosac & Naify, 2008, p. 311-6.
[iv] Ver Ernest Mandel, Sur la Seconde Guerre Mondiale: Une Interprétation Marxiste [1986], introduction d’Enzo Traverso, traduit de l’anglais par AdT, Paris, La Brèche, 2018.
[v] Para um recenseamento crítico preciso e histórico da “fortuna figurativa” atribuída a Pollock, ver M. LEJA, “Pollock & Metaphor”, in idem, Reframing…, op. cit., pp. 275-327.
[vi] Para uma antologia pessoal de poemas, copiados à mão num caderno verde, dentre outros pertences essenciais encontrados na última mochila de Che, ver Vv. Aa., El Cuaderno Verde del Che/ Pablo Neruda, León Felipe, Nicolás Guillén, César Vallejo, prólogo de Paco Ignacio Taibo II, México (DF), Seix Barral, 2007.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA