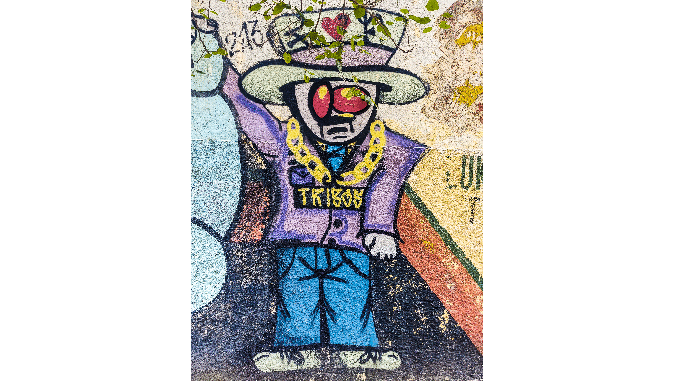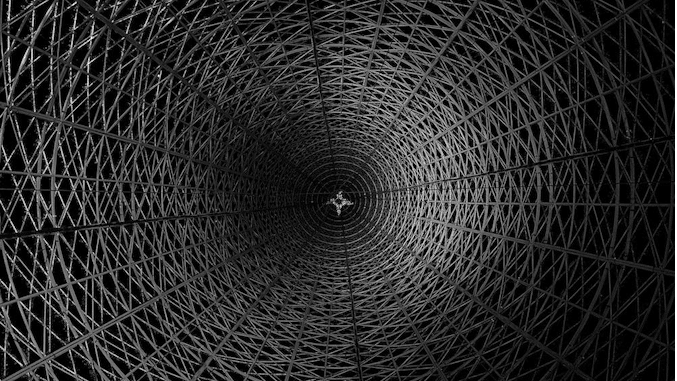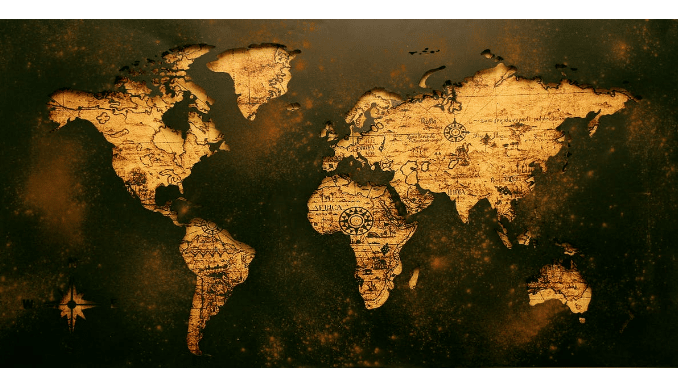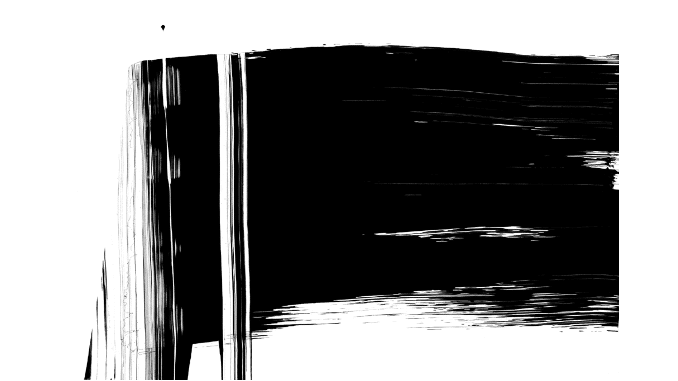Por RICARDO L. C. AMORIM*
O Brasil não é e parece nunca ter sido o país do futuro. É preciso entender as contradições do presente a fim de refundar a nação
“No past experience, however rich, and no historical research, however thorough, can save the living generation the creative task of finding their own answers and shaping their own future”. (Alexander Gerschenkron, Economic Backwardness).
Há muito tempo se promete aos brasileiros que este é o país do futuro e lá, em data incerta, será glorioso e os jovens serão felizes. A impressão para os brasileiros adultos que já ouviram essa ladainha escolar é de que o futuro já veio, já chegou, mas… Não aconteceu. De fato, o Brasil não é e talvez nunca tenha sido o país do futuro. A pobreza imensa, a desigualdade entre as maiores do mundo, o trabalhador obscenamente explorado, o racismo que se escancara, o medo do empoderamento feminino, a violência espraiada e mais outras tantas injustiças contrastam com lucros recordes, fila para comprar jatinhos privados, elisão fiscal e ricos superprotegidos pelo Estado.
Rapidamente, contudo, vozes gritarão: mas a indústria mudou o país. A população, hoje, vive nas grandes cidades, cosmopolitas e modernas. As escolas estão em toda parte e os serviços públicos nunca alcançaram tantos. Mais ainda, o acesso à tecnologia disponível no mundo, de um jeito ou de outro, já chega à maioria da população. Essa, no entanto, é parte da história e muito esconde quem conta apenas a metade.
O que se diz sobre o progresso brasileiro, por exemplo, oculta o caos urbano, marcadamente no transporte público, no custo da moradia, na favelização forçada, no desemprego, na pobreza, na violência das ruas, na truculência policial e outros. Não comenta a qualidade das escolas públicas, marcadamente na periferia, os salários dos professores, o risível acesso à cultura e ao lazer pelos pobres. A tecnologia acessível aos trabalhadores de baixa renda? Resume-se ao celular pré-pago e à televisão aberta. Logo, a riqueza para poucos e a pobreza espraiada continuam a imagem do Brasil, um país subdesenvolvido. Algo não muito diferente daquele retratado, há décadas, por Celso Furtado, Florestan Fernandes, Milton Santos e Lélia Gonzales. Mais recentemente, Djamila Ribeiro, Racionais MCs, Ana Fonseca e Conceição Evaristo apontam que, no Brasil, o capitalismo fundado nas desigualdades permanece infenso.
E não é difícil entender por que se chegou ao futuro trazendo apenas mais enfeites. Na formação do Brasil, a escravidão, em mais de trezentos anos de crueldade indizível, moldou as instituições e também as consciências dos “brasileiros”. O crime histórico produziu tipos sociais e terminou por rotular negativamente enorme contingente da população, hierarquizando a todos rigidamente. Sequer a Lei Áurea ‒ uma esperança ‒ logrou incluir os pretos, agora “libertos”, na sociedade. Pelo contrário. Foram ignorados e afastados quando sua força física não interessava aos fazendeiros ou à estiva. Assim, a pobreza e o raro acesso a benefícios públicos criaram uma massa sem chance de sonhar com o futuro.
A industrialização acelerada, a partir de 1930, foi ainda insuficiente para atenuar o drama desse contingente populacional. A imigração de brancos pobres, principalmente europeus, ofereceu a mão de obra que São Paulo e cidades do Sudeste precisavam para multiplicar as fábricas. A nova classe operária, contudo, também não recebeu parcela justa na repartição dos frutos do progresso. Se a emergência de uma classe média (predominante branca) nas grandes cidades deu a impressão de que a prosperidade aos poucos alcançaria todos, bastava observar a expansão acelerada das periferias, a favelização, o volume de empregos informais e a baixa remuneração dos incontáveis subempregados para descobrir que o crescimento econômico não implicou em desenvolvimento social. Na verdade, a desigualdade se agigantou por décadas em um país que modernizava sua estrutura produtiva, mas nada fazia para atenuar as diferenças sociais de todos os tipos entre ricos e pobres.
Não há incoerência em tudo isso. O Brasil é resultado da forma como foram processadas suas contradições sociais, redundando em elevados patamares de acumulação e desigualdade que foram amplificados a partir do golpe de 1964. A economia política, segundo a interpretação histórico-estrutural, permite conhecer esses processos e acessar as consequências da reprodução do subdesenvolvimento, sustentado em relações de dependência. Mas o cenário, hoje, é ainda pior.
Depois de duas décadas perdidas no final do século XX e alguma esperança no início do século XXI, um golpe jurídico-parlamentar derrubou uma presidenta eleita e deu azo a reformas constitucionais liberais e permitiu o aprofundamento de políticas econômicas pró-cíclicas iniciadas em 2015. Exatamente quando uma grave crise se instalava. Por causa disso, em 2022, conta-se oito anos desde o início da recessão, em 2015, e o Brasil ainda não recuperou o nível de renda per capita de 2014. Nunca, na história republicana, o país demorou tanto a retomar o crescimento econômico. Os números do desemprego, do salário médio real e o desperdício de mão de obra recém qualificada que não encontra ocupação compatível com sua formação escancaram o desperdício de capital humano e provoca alarmante histerese.
O problema pouco se deve a pandemia. A tragédia iniciada pelo SARS-CoV-2 apenas agravou tendências conhecidas. Por exemplo, o jornal O Globo, em 26 de janeiro de 2020, antes da pandemia, já destacava que o Brasil não criava empregos líquidos com remuneração superior a dois salários-mínimos desde 2006. Ou seja, havia mais de 14 anos. Ao mesmo tempo e sem nenhuma coincidência, dados do Banco Central sobre a balança comercial mostram que a participação de bens industriais nas exportações brasileiras diminui desde 1994, enquanto as vendas ao exterior de bens primários crescem sem parar.
Isso significa que, a contar de antes da pandemia, o Brasil já desgastava sua indústria, desfazendo o que foi construído a partir de Getúlio Vargas, perdendo competitividade exatamente no setor com as cadeias produtivas mais longas, gerador de maior valor agregado, mais capaz de criar empregos qualificados e indutor de inovações e produtividade em toda a estrutura econômica. Fez e continua fazendo isso para voltar a ser produtor de bens simples, agrícolas ou minerais. O oposto do que todos os países ricos fizeram e fazem.
Os números, porém, são conservadores para o tamanho da tragédia social em curso. Aparentemente superada a fase mais grave da pandemia no Brasil, a soma de desemprego, subemprego, fechamento em massa de pequenos negócios e reformas trabalhistas liberais produziu queda no salário médio da economia! Na mesma direção, a necessidade de sobrevivência e o excesso de oferta de mão de obra permitiram a precarização das relações de trabalho, destacada em relatórios de observatórios e organismos internacionais. Mais: entre os jovens cresceu o abandono escolar e o atraso no aprendizado.
Simultaneamente, verbas sociais e investimentos em infraestrutura e tecnologia são cortados frente ao olhar conivente da parcela mais poderosa da população: os ricos, a fração mais importante da elite do poder. Esse grupo não mostra qualquer contrariedade e, mais grave, parece apoiar a política econômica e de desmonte social dos últimos oito anos, rigorosamente o tempo desde quando o país entrou em recessão e ainda não se recuperou. Não foi à toa que, mesmo durante a pandemia, os lucros das grandes empresas pouco sofreram e aqueles alcançados pelas instituições financeiras, como bancos, cresceu (muito).
O que ocorreu recentemente e ainda ocorre é continuidade do que foram os últimos 40 anos: pequenos intervalos de esperança e prolongado fracasso econômico e social, justamente quando o Estado perdeu a capacidade de impulsionar o desenvolvimento industrial. Nesses anos, os mais ricos abandonaram a bandeira do desenvolvimento e escolheram obstinadamente defender suas fortunas no mercado financeiro. Ou seja, a elite do poder brasileira mostrou e mostra que, desde os anos 1980, renunciou a qualquer veleidade nacional e passou a comportar-se cada vez mais como rentista e desapegada da nação e do futuro do seu povo. Se isso for verdade, o problema, de fato, não é econômico. Situa-se na esfera política e a superação requer, inexoravelmente, democracia e seu fortalecimento.
Enquanto isso, nas periferias, os mais pobres sentem e sabem da injustiça, mas pouco entendem o “jogo”. A oposição e os intelectuais conhecem as grandes linhas que perpetuam o sistema, mas são incapazes de unir-se e querem catequizar a periferia que não entendem. Já a elite do poder prefere exatamente essa incapacidade de esclarecimento e a confusão para legitimar mais facilmente seus privilégios. Pouca coisa mudou também nesse quesito. O Brasil, em suma, não é e parece nunca ter sido o país do futuro. O eventual ufanismo verde-amarelo esconde, outro sim, que a nação não se desenvolve porque é injusta e é injusta porque uma parcela pequena, mas poderosa, dos brasileiros assim deseja. “Estranhamente” a mesma parcela que escolheria se identificar como estadunidense ou inglesa.
Ser o país do futuro implica, naturalmente, algo muito diferente. Distante da crise ambiental, da pobreza, da desigualdade, da violência, da misoginia e do racismo, a antiga promessa feita a colegiais implica na necessidade de desenvolver o Brasil. Mas, para isso, é preciso entender as contradições do presente a fim de refundar a nação e, portanto, torna-se inescusável saber que para construir uma nação, o futuro se faz. E agora. Nunca se espera. Felizmente, Celso Furtado já apontou o caminho: “(…) o mais importante não é que podemos autodirigir-nos, e, sim, que não nos resta outra saída senão fazê-lo” (A pré-revolução brasileira, 1962, p. 10).[i]
*Ricardo L. C. Amorim, doutor em economia pela Unicamp, é professor visitante na UFABC.
Nota
[i] O autor agradece os comentários do professor Alexandre Barbosa (IEB-USP).
⇒O site A Terra é redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.⇐
Clique aqui e veja como.