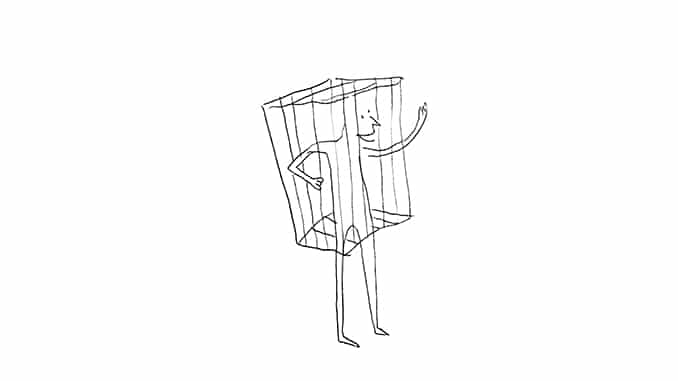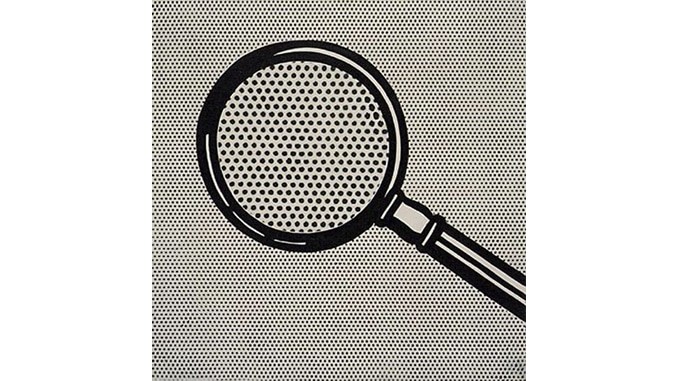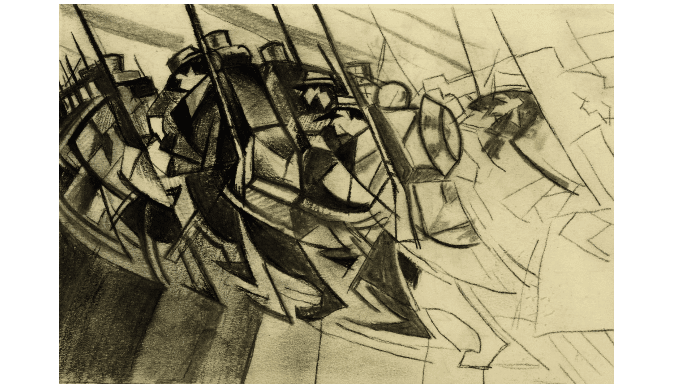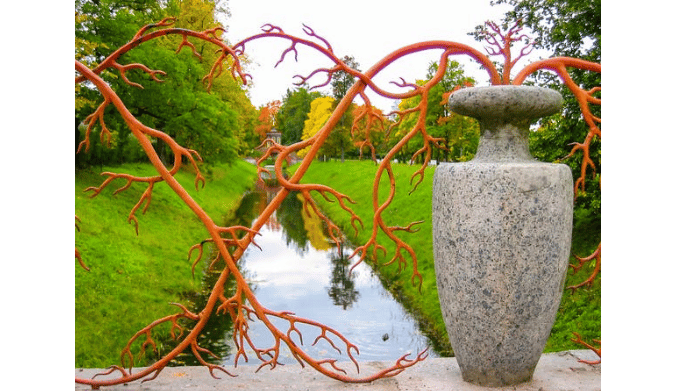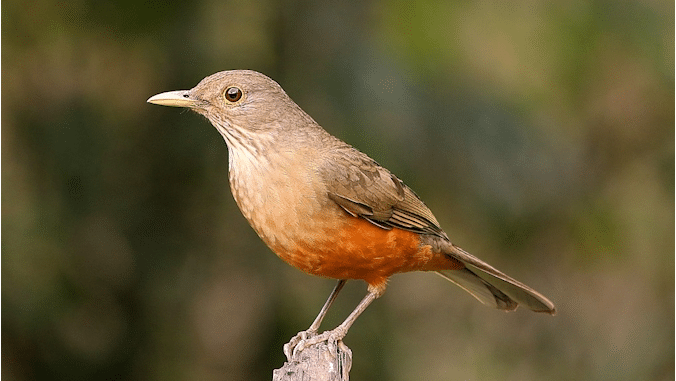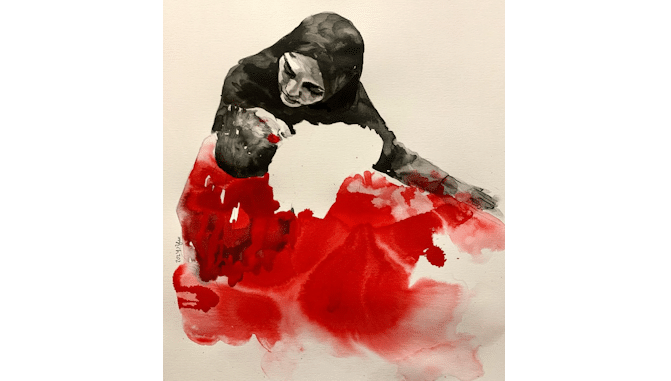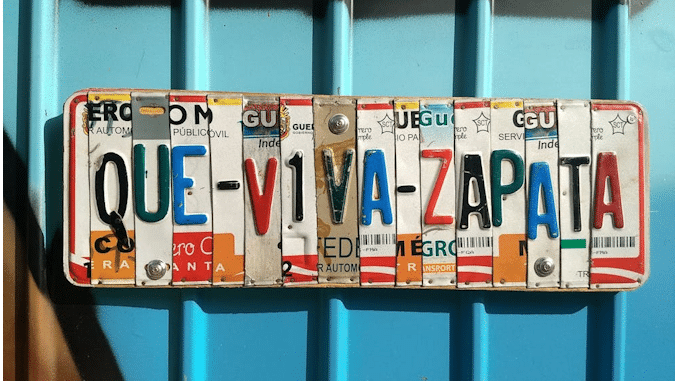Por ELEUTÉRIO F. S. PRADO*
Comentário sobre o livro “Austeridade: a história de uma ideia perigosa”, de Mark Blyth
Esta nota tem uma tarefa ingrata, qual seja ela, fazer a crítica de um livro de grande sucesso no campo da esquerda, que sustenta uma tese relevante na esfera do pensamento crítico: Austeridade: a história de uma ideia perigosa, de Mark Blyth. Além disso, ele é endossado por economistas como Luiz G. M. Beluzzo, Laura Carvalho, Pedro Rossi dentre outros, consagrados combatentes na luta pela civilização no atual estágio de desenvolvimento regressivo do capitalismo. Entretanto, ela se faz necessária – crê-se aqui – para aprofundar a crítica contida no próprio livro de Blyth.
No Prefácio da edição brasileira, Pedro Rossi resume um argumento central dos defensores da austeridade que – menciona – “dialoga com o senso comum”: o governo, assim como as pessoas e as famílias, tem de pagar as suas contas. Ora, adverte ele, “o apelo ao senso comum é uma falsificação da realidade: não existe uma conta a ser paga; a dívida pública não precisa ser reduzida. Papéis são pagos, outro serão emitidos. (…) dívida pública não se paga, se rola”.
Para comentar essa afirmação é preciso separar analiticamente as dívidas particulares e a dívida como um todo. É evidente, como diz o próprio Rossi, que as dívidas particulares do Estado, expressas em títulos detidos por agentes do setor privado, são pagas do mesmo modo que as dívidas particulares das pessoas e das famílias – e até mesmo com respeito mais firma aos prazos e com mais fidelidade à letra dos contratos.
Agora, dizer que a dívida não precisa ser paga como um todo, que ela pode ser rolada, é dizer algo verdadeiro, mas também não é dizer muita coisa. Pois, a dívida como um todo é capital financeiro que existe precisamente para extrair renda do “resto” da sociedade, para puncionar – sendo agora mais preciso – parte do mais-valor gerado no âmbito do capital industrial. Eis que ela pode, sim, ser rolada, mas não sempre e de modo total – e isto é uma decorrência incontestável da sociabilidade capitalista.
A dívida pública é uma forma de capital fictício, ou seja, de capital que não é valor em si mesmo e que não comanda a produção de valor, função exclusiva do capital industrial. No entanto, por ser ainda capital na sociedade fundada na relação de capital, implica num direito legítimo de apropriação de uma parte do valor produzido socialmente. A austeridade, em última análise, é o nome da política econômica que força a cobrança desse “tributo” na atual fase do capitalismo neoliberal e financeirizado. O direito de abocanhar valor, como bem se sabe, é intrínseco ao atual modo de produção e, por isso mesmo, tende a ser justificado com base em preceitos morais. A austeridade, justamente porque garante um direito “sagrado” de participar no resultado da exploração, apresenta-se publicamente como uma regra imperativa de moralidade. Torna-se assim, supostamente, de um dever do governante probo que não dissipa recursos.
Agora, o livro de Mark Blyth é muito útil para mostrar como esse direito iníquo nunca é defendido francamente; ao contrário, é protegido de modo disfarçado por meio de argumentos que se apresentam como científicos. Assim, costuma ser blindado por economistas “sérios e competentes” que pertencem ao campo da teoria econômica mainstream.
Por exemplo, Blyth acusa como desonesto o seguinte argumento capcioso de John Cochrane, da Universidade de Chicago: “Cada dólar de aumento da despesa do Estado tem de corresponder a menos um dólar de investimento privado. Os empregos criados pelo investimento em incentivos são compensados pelos empregos perdidos devido ao declínio do investimento privado. Podemos construir estradas em vez de fábricas, mas o incentivo fiscal não pode ajudar-nos a construir mais de ambas as coisas”.
Ora, qualquer estudante de graduação em Economia sabe que esse tecnocrata raciocina pressupondo que o sistema econômico está em pleno emprego, uma situação que de fato nunca ocorre na economia capitalista, mas que os economistas do mainstream gostam de supor como possível. E que, longe desse equilíbrio imaginário, quando há capacidade ociosa, o gasto público não só aumenta a demanda efetiva, direta e indiretamente, mas também, ao fazê-lo, pode elevar a taxa de lucro e, assim, o investimento capitalista. Ou seja, em resumo, é sim possível obter “mais de ambas as coisas”.
É evidente, Cochrane não faz ciência, mas apenas usa o seu cargo de professor da Universidade de Chicago para defender cinicamente os interesses do capital financeirizado. Para tanto, fala em nome de uma suposta “confiança empresarial” que se estabeleceria sempre que o governo se mantém austero. A austeridade enquanto uma política de cortar o orçamento para promover o crescimento – demonstra Blyth com muitos argumentos – é falsa. Segundo diz, ela é contraproducente: “é exatamente o que não se deve fazer porque produz precisamente os resultados que se quer evitar”.
Veja-se, no entanto, que o crescimento, como característica possível e desejável do capitalismo, é um pressuposto dessa crítica. Mas essa premissa não se justifica porque o crescimento não é a meta primordial do capitalismo. Esse modo de produção orienta-se pela busca da valorização do valor, ou melhor, por sua valorização incessante, sempre maior, sempre que possível – não, porém, de um modo bem coordenado, ou seja, de modo ex-ante. O movimento do capital, como se sabe, não está isento de contradições e elas laboram para torná-lo conflituoso. Tais contradições, no entanto, costumam ser recalcadas no plano do conhecimento por um discurso econômico que se pauta pela busca da coerência macroeconômica.
O crescimento se apresenta como um requisito da expansão do capital industrial porque essa expansão se baseia no aumento da produtividade do trabalho, na redução da quantidade de trabalho empregada para um dado nível de produção e, ao mesmo tempo, no aumento da capacidade de produção. Mas a elevação da produção não é, em absoluto, uma decorrência necessária da expansão do capital financeiro.
Este busca aumentar a extração de juros (grosso modo) mesmo se isto obsta eventualmente a expansão do capital industrial. É preciso aqui não confundir o capital financeiro como um todo, com aquela parte dele que financia as empresas do setor produtivo. Se o capital industrial é um vampiro que ainda precisa deixar vivas as suas vítimas, o capital financeiro não tem nem mesmo essa limitação.
Segundo Blyth, a austeridade como proposta teórica contraria aquilo que Keynes denominou de “paradoxo da poupança”, ou seja, está em conflito com a proposição segundo a qual “se todos poupam ao mesmo tempo, não há consumo que estimule o investimento”. Ora, diz ele, se todos são austeros ao mesmo tempo, conforme falta de investimento, ocorrerá não um aumento, mas uma queda da poupança total. Ora, tal “falácia da composição” não consiste num mero problema teórico, pois reflete uma situação que pode ocorrer no capitalismo realmente existente. E essa possibilidade, quando acontece, decorre de um desarranjo estrutural do próprio capitalismo. Pois, a sua coerência possível só ocorre por meio de uma constante incoerência. É bem sabido que esse sistema evolve de modo turbulento, por meio de crises recorrentes e de grandes trombadas.
Para Blyth, no entanto,a expansão do produto social é não só possível, mas também um dever moral. Assim, além de demolir a sua pretensão científica, quer opor outra moralidade ao caráter pretensamente ético da política de austeridade. O livro foi escrito sob o pressuposto de que não apenas o crescimento deve acontecer, mas que ele deve vir com uma elevação do bem-estar para amplas camadas da população: “o objetivo deste livro” – segundo ele – “é (…) ajudar a garantir que o futuro não pertença apenas aos poucos já privilegiados”. Ora, se esse tipo de alçamento ocorreu no curto período keynesiano, após a II Guerra Mundial e até quase o fim da década dos anos 1970, não significa que a produção de bem-estar seja uma virtualidade intrínseca e sempre possível do capitalismo.
De qualquer modo, Blyth apresenta bem em seu livro as consequências sociais da política de austeridade. Ou seja, abate a taxa de aumento da produção de mercadorias e amplifica a má repartição da renda. Eis como Rossi resume o argumento do livro em seu prefácio: “Ao gerar recessão e desemprego, a austeridade reduz pressões salariais e aumenta as margens de lucro; (…) tende a aumentar assim a desigualdade de renda. O corte de gastos e a redução das obrigações sociais abrem espaço para futuros cortes de impostos das empresas e elites econômicas. E, por fim, a redução da quantidade e da qualidade dos serviços públicos aumenta a demanda da população por serviços privados em setores como educação e saúde, o que amplia os espaços de acumulação de lucro pelo grande capital”.
Posto isso, chegou agora o momento de justificar o título provocativo deste pequeno artigo: a burguesia tem opção? E aqui é preciso distinguir analiticamente as pessoas postas socialmente como capitalistas e a própria classe capitalista. É evidente que as primeiras têm opção de se oporem à austeridade – e muitas o fazem até mesmo com prejuízo próprio. Entretanto, enquanto membros da classe, enquanto personificações e suportes do capital, elas estão obrigadas a defender – mesmo apelando à hipocrisia e ao máximo cinismo – o seu quinhão no butim capitalista. E, como se sabe, não deixam de fazê-lo.
Entretanto, ao afirmar que a austeridade se impõe à burguesia no capitalismo financeirizado, não se está caindo no economicismo. A política econômica que se estabelece em cada momento está condicionada pelo encontro e pelo conflito de forças políticas diversas. Ela depende das lutas sociais, dos modos com que as classes se põem na luta política, classes estas que se orientam pelas culturas, tradições e circunstâncias históricas vigentes. De qualquer modo, a condenação moral da austeridade não parece ir muito longe como crítica dos rumos do capitalismo contemporâneo. É a sua funcionalidade que precisa ser eliminada.
A austeridade não está aí à toa. É preciso ver que ela consiste numa característica central da política econômica adotada na segunda fase do neoliberalismo, iniciada em 1997 e que ainda não parece ter terminado, mesmo se o sistema globalizado do capital passou pela grande crise de 2007-08 e chegou à crise de 2020. Se na primeira fase, que vai de 1980 até 1997, a taxa de lucro se elevou na grande maioria dos países capitalistas, na segunda, ela voltou a cair tendencialmente.
Com essa inversão, houve um reforço no processo de financeirização.[1] Se na primeira fase, a acumulação de capital fictício deu uma saída para o capital industrial excedente, na segunda fase, ela passou a funcionar como seu último e necessário refúgio. O nível das taxas de juros, mantido alto no primeiro período, teve de cair no segundo. A austeridade, então, assomou como forma de garantir a continuidade da apropriação de renda por parte do capital financeiro em fase de exasperação histórica. Tanto no primeiro quanto no segundo período neoliberal ocorreu uma persistente erosão do poder da classe trabalhadora, uma destruição progressiva da proteção social da força de trabalho, ou seja, um enfraquecimento constante do “bem-estar” reclamado por Blyth.
Se o desenvolvimento capitalista em geral oscila sempre entre gerar mais civilização e/ou gerar mais barbárie, a austeridade privilegia sem dúvida a segunda possibilidade. Trata-se de um modo de governança inerente à hegemonia do capital financeiro. Mas esse protagonismo não decorre de uma “tomada de poder” por parte dos financistas em detrimento dos industrialistas – e muito menos de meras opções erradas de política econômica. Na verdade, surge como consequência do processo de superacumulação de capital, de um desequilíbrio estrutural em que ambas essas formas de capital estão intimamente imbricadas. De qualquer modo, essa desmedida é e sempre foi inerente ao próprio capital. Já ocorreu outras vezes na história. Manifestou-se mais uma vez já na década dos anos 1970, agora como uma onda de grandes proporções – e, a partir de então, passou a conformar o desenvolvimento capitalista nas últimas cinco décadas.
Nesse período, a sua supremacia se tornou cada vez mais forte e mais perigosa. Eis que assumiu proporções inauditas porque o mecanismo clássico de superação das crises de superacumulação, a destruição maciça de capital industrial e financeiro tem sido contida por uma intervenção salvadora do Estado. E esta ocorre porque é temida uma derrocada de grandes proporções do sistema que possa pôr em risco a supremacia do Ocidente ou mesmo a própria existência do capitalismo. Como contrapartida do travamento da reversão da acumulação – esta, quando ocorre aniquila parte do capital anteriormente acumulado,criando, ao mesmo tempo, as condições da recuperação– o capitalismo entrou num processo de estagnação que se torna insuperável e que tende, por isso, a durar indefinidamente.
Nessas condições, não há justificativa para manter uma esperança significativa de que seja possível trazer o capitalismo novamente para o caminho civilizatório. Essa esperança deve se concentrar, portanto, na possibilidade de transformá-lo. Ou por meio de uma forte repressão financeira, ainda nos marcos do capitalismo, ou por meio da mudança do próprio modo de produção – uma necessidade diante do colapso ecológico em curso.
Essa nota não poderia terminar sem uma consideração metodológica. A insuficiência da crítica de Blyth vem do fato de que ela é conjuntural, contenta-se em examinar as causas e efeitos das políticas econômicas, das interações macroeconômicas entre as classes sociais, as quais ocorrem na superfície da sociedade. O que é requerido, entretanto, não é o simples abandono desse tipo de preocupação analítica.
O que se precisa – crê-se aqui – é fundar essa crítica conjuntural numa crítica estrutural que examina o evolver do modo de produção no tempo histórico. Acrescentando essa última à primeira, pode-se chegar a ver que não basta abandonar uma “ideia perigosa”, que não é suficiente alterar a política econômica, mas se faz necessária uma mudança no próprio modo de produção, nas relações de produção e no metabolismo do homem com a natureza, uma mudança que seja capaz de garantira sobrevivência da humanidade. Mesmo se essa mudança ainda não se delineia claramente no horizonte, sabe-se que ela tem de basear na democracia substantiva, não podendo por isso reproduzir os socialismos que realmente inexistiram.
*Eleutério F S Prado é professor titular e sênior do Departamento de Economia da USP. Autor, entre outros livros, de Complexidade e práxis (Plêiade).
Referência
Mark Blyth. Austeridade: a história de uma ideia perigosa. São Paulo, Autonomia Literária, 2020 (https://amzn.to/45qOQtl).
Nota
[1] Resume-se aqui a tese Tristan Auvray, Cédric Durand, Joel Rabinovich e Cecilia Rikap em Financialization’s conservation and transformation: from Mark I to Mark II, texto facilmente encontrável na internet.