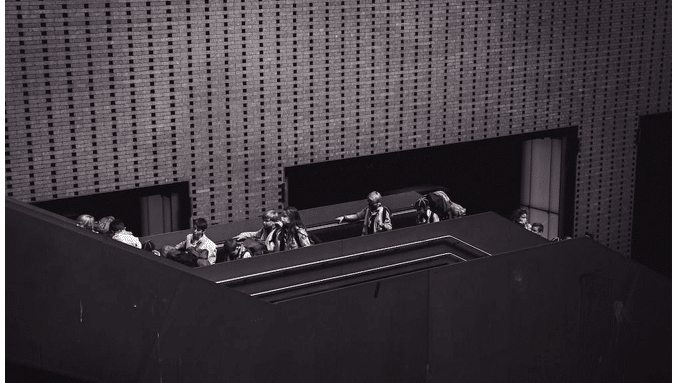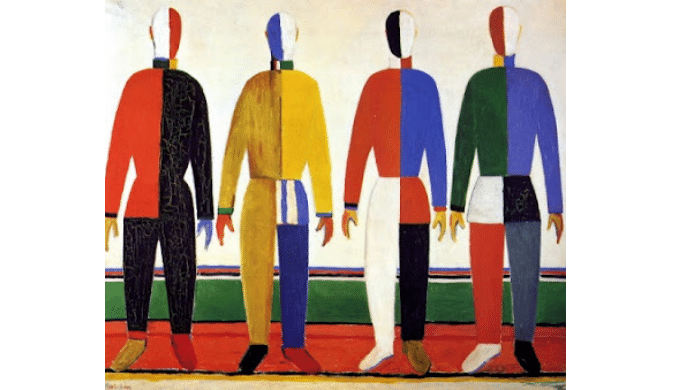Por DANIEL PAVAN*
Na perspectiva do mercado, as árvores, o solo, os animais, a carne, a natureza, não são árvores, solo, animais nem natureza; são apenas uma massa amorfa de lucro potencial, são puro valor de troca a ser explorado
Enquanto escrevo este texto, os incêndios florestais no Pantanal completam 20 dias de duração ininterrupta. Cerca de um quinto de tudo o que já restava do bioma encontra-se em cinzas, em boa parte de forma irreversível. Metade dos territórios indígenas da região foram destruídos. Investigações em andamento vão, pouco a pouco, comprovando o que já era esperado: parte significativa das origens das queimadas é humana, intencional ou criminosa e tinha por objetivo abrir pastos para a indústria pecuária.
Naturalmente, em resposta a tal cenário de devastação, diversos setores da população começam a se mobilizar, atacando como podem os responsáveis – sejam eles pessoas, comportamentos ou ideias. Críticas mais do que justificadas ao presidente, investidas contundentes contra a indústria agropecuária e reflexões fundamentais sobre a mudança climática são alguns dos temas recorrentes no debate. Uma outra atitude, porém, também toma bastante espaço: a associação entre o consumo individual de carne e a destruição dos biomas.
Essa crítica ‘vegetariana’ ao problema da exploração destruidora da natureza costuma vir em formas acusatórias, dirigidas contra os ‘carnistas’ que não reconhecem que o seu hambúrguer está causando a destruição da Amazônia. O problema dessas acusações é que elas frequentemente estão fundadas em um argumento que é apenas parcialmente verdadeiro. É verdade, como estamos vendo, que os incêndios no Pantanal e na Amazônia são diretamente proporcionados pelos interesses da indústria pecuária. Não há dúvidas de que o consumo de carne é danoso ao meio ambiente, e que a indústria ao seu redor está associada a todos os tipos possíveis de atividades nocivas e, até mesmo, criminosas.
Mas, muitas vezes, o argumento termina aqui, e o resto das associações implícitas nesse tipo particular de crítica se completa com uma mistura de desconhecimento e ideologia. O problema é que, por mais que seja verdade que o consumo de carne está ligado a toda uma série de atividades predatórias, não há nada que garanta que seu mero fim irá necessariamente reduzir ou mesmo afetar o grau de exploração humana da natureza. Além disso, esse tipo de manifestação, quase sempre baseada em ofensivas direcionados a comportamentos individuais, quando não se inscreve produtivamente em um programa sociopolítico consistente, dificilmente consegue ultrapassar a barreira das disputas morais e, muitas vezes, não vai além daquilo que Slavoj Zizek chama de ideologia ecológica.
“A ideologia ecológica predominante nos trata como culpados a priori, em dívida com a mãe natureza, sob a constante pressão da agência ecológica superegoica que nos interpela em nossa individualidade: ‘O que você fez hoje para pagar sua dívida para com a natureza? Você colocou todos os jornais em um lixo reciclável adequado? E todas as garrafas de cerveja ou latas de Coca? Você usou o seu carro onde poderia ter optado por uma bicicleta ou algum transporte público? Usou ar condicionado em vez de simplesmente abrir as janelas?’ É fácil discernir o que está em jogo ideologicamente nesse tipo de individualização: me perco em meu próprio autoexame ao invés de levantar questões globais mais pertinentes sobre a nossa civilização industrial como um todo.”
Tratemos, então, dessas questões globais, partindo de nosso caso nacional.
Caio Prado Júnior, tanto em sua obra como em sua militância, não cansou de nos dizer que, desde o momento em que os portugueses atracaram pela primeira vez na costa sul-tropical, sua relação com ela foi de dura e destrutiva exploração. “No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais complexa que a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu. É este o verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o Brasil é uma das resultantes; e ele explicará os elementos fundamentais, tanto no econômico como no social, da formação e evolução dos trópicos americanos”[i].
Desde os princípios da colonização, e de certa forma até hoje, a exaltação da grande e exuberante natureza brasileira sempre vem acompanhada de seu abuso preguiçoso, irracional e agressivo – justamente em razão desta suposta imensidão. Muitas vezes sem qualquer cuidado com a reconstituição do solo, com o equilíbrio da fauna e da flora, os biomas Brasileiros foram historicamente alvo privilegiado da atividade exploratória humana com objetivos comerciais.
Partindo da extração feroz e inconsequente do pau-brasil, seguindo pelos grandes engenhos de açúcar baseados na monocultura da cana, passando pela extração apressada e desmesurada do ouro e de outros minérios, pela monocultura do café, chegamos, hoje, ao agronegócio exportador de soja, milho e carne. Em todas as etapas e diferentes culturas, uma coisa sempre se repete: a exploração impiedosa, sem medo de usar das técnicas e práticas mais abusivas – seja com a natureza ou com a mão de obra humana – para extrair até a última gota de valor dos recursos naturais, sem muita preocupação com a terra arrasada a ser deixada para trás no fim do processo.
No Brasil colonial, a carne, lembra Caio Prado Júnior, “tem importante papel na alimentação”[ii]. A pecuária, dentre as principais atividades comerciais, era “a única, afora as destinadas aos produtos de exportação que tem alguma importância”[iii]. Entretanto, havia uma nítida separação entre ela e as outras culturas para exportação. Ainda que relevante, a pecuária era uma atividade desprivilegiada, dedicada mais a extração de couro, seguida pela produção de carne como alimento e, por fim, a obtenção de leite. A criação de gado variava desde um descuido quase total, deixando a boiada em estado selvagem pela natureza, até algumas fazendas mais organizadas e de mão de obra escrava. De uma maneira geral, essa prática esteve amplamente associada a uma economia secundária, e foi, em sua maioria, determinada por condições naturais como a salinidade dos solos e a disponibilidade de campos abertos para a criação do gado.
“Quanto ao Mato Grosso [no período colonial], cria-se algum gado nas regiões do Norte, cerca dos estabelecimentos mineradores; coisa de pouca monta, que serve apenas para o consumo local. A grande fase de prosperidade da pecuária mato-grossense, que se desenrola nos campos infindáveis do Sul, ainda não se iniciara e pertence inteiramente ao séc. XIX”[iv]. E, mesmo assim, essa atividade pecuária próxima ao Centro-Oeste brasileiro apenas começa a se afastar das regiões Sul e Sudeste em direção ao norte do Mato Grosso do Sul, na divisa com o Mato Grosso – onde se encontra o Pantanal –, e em direção ao sul do Pará – onde se encontra a floresta Amazônica – no século XX. E foi junto com a racionalização da agricultura, em especial a de soja, milho, algodão e cana, que a pecuária acompanhou o avanço da fronteira agrícola em direção a biomas (ainda) não explorados – isto é, arrasados.
Um artigo de 2016, publicado pelo Ipea, nos lembra que “O agronegócio intensivo em conhecimento foi organizado com a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em 1973. Em 1960, o Brasil era, inacreditavelmente, um país importador de alimentos, tais como milho, arroz, cereais e carne de frango”. O avanço da fronteira agrária no Centro-Oeste, um dos responsáveis pelo avanço do desmatamento atual, foi profundamente determinado pelo cultivo da soja e do milho. Além disso, “ressalte-se que a soja sempre foi um insumo importante na produção de carnes”. A pecuária, portanto, está longe de ser a única ou, até mesmo, a principal razão dos desmatamentos e das práticas exploratórias destrutivas que hoje estão expostas.
Por fim, vale insistir que “de fato, em termos macroeconômicos, a bovinocultura brasileira, que se localizava no Sul e no Sudeste, ao se incorporar às novas fronteiras agrícolas, foi direcionada ao Centro-Oeste, primeiramente ao Mato Grosso do Sul. Posteriormente, com o incremento da produção de cana-de-açúcar nesse estado, a produção pecuária se deslocou para a região amazônica, não só para Mato Grosso e Rondônia, mas também para o Pará. (…) As expansões da agropecuária no Mato Grosso (soja, milho, algodão e criação bovina) e da pecuária no Pará (criação bovina) representaram uma ameaça ao desmatamento da Floresta Amazônica de 1990 até meados da década de 2000”. O que significa, bem claramente, que é impossível dissociar o consumo de carne, a criação de gado, as práticas destrutivas e, portanto, o desmatamento e os megaincêndios florestais da macroeconomia, do mercado internacional de commodities e do sistema capitalista global.
De uma maneira mais geral, o Brasil, tendo ocupado lugar importante nas ‘grandes navegações’, que por sua vez foram fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo europeu, foi, durante toda a sua história, uma peça chave, enquanto exportador de matéria prima, para o desenvolvimento deste modo de produção, como bem lembrou Caio Prado Júnior e como confirma o artigo do Ipea.
Anselm Jappe, de maneira precisa, argumenta que “a crise ecológica é insuperável no contexto capitalista, mesmo considerando-se o ‘decrescimento’ ou, pior ainda, o ‘capitalismo verde’ e o ‘desenvolvimento sustentável’. Enquanto a sociedade mercantil perdurar, os ganhos de produtividade farão com que uma massa sempre crescente de objetos materiais – cuja produção consome recursos reais – represente uma massa sempre menor de valor, que é a expressão da parte abstrata do trabalho – e é apenas a produção de valor que conta na lógica do capital. O capitalismo é, portanto, essencialmente, inevitavelmente, produtivista, orientado à produção pela produção.”
Aos olhos do capital, ou, como hoje está em moda dizer, na perspectiva do mercado, as árvores, o solo, os animais, a carne, a natureza, não são árvores, solo, animais nem natureza; são apenas uma massa amorfa de lucro potencial, são puro valor de troca a ser explorado. Se o consumo de carne, hoje, é um valor de uso que justifica a pecuária agressiva como modo de geração de valor, caso, subitamente, toda a população global resolva parar de comer carne (ou, podemos até mesmo exagerar, parar de comer carne, soja e milho) todos os recursos naturais explorados na produção destes bens, vistos como valor amorfo, rapidamente seriam explorados de outra forma: seja na extração de minerais, na extração de vegetais, no simples povoamento daquele território ou, até mesmo, na instalação de megafábricas de veículos elétricos e baterias de lítio – a criatividade do capital é ilimitada.
Retomando, então, nosso dilema inicial, pode-se dizer que uma atuação política que vise realmente combater a destruição da natureza que hoje presenciamos precisa, inevitavelmente, levar em consideração uma crítica bem estruturada da ordem sociopolítica geral da qual os elementos parciais atacados são apenas momentos. É preciso compreender os processos históricos no interior dos quais as tendências que hoje explodem se desenvolveram. É preciso, também, compreender e considerar como essa própria ordem nos determina, em nossa crítica e militância, para podermos encontrar uma real emancipação capaz de dar conta dos inevitáveis conflitos que se impõem.
Reduzir o problema ambiental a respostas simples, como em ataques ao consumo individual de determinado alimento ou a determinadas condutas individuais, assemelha-se de maneira perigosa à mesma redução feita pelo ‘outro lado’, pelos populistas de direita, que reduzem os grandes dilemas do capitalismo aos imigrantes, às minorias ou aos partidos de esquerda. Ambas são visões parciais que, mesmo que possuam, aqui e ali, aspectos verdadeiros, recaem num enredamento discursivo que acaba produzindo efeitos contrários ao esperado.
Não se trata, de maneira alguma, de criticar ou de diminuir a crítica vegetariana. O consumo de carne é, de fato, um problema social e ambiental relevante, e a adoção de dietas diferentes é uma saída inevitável para o avanço sustentável da civilização. Trata-se, aqui, de explorar o ‘momento de verdade’ que aparece nessa prática enquanto crítica social. Trata-se de explorar seus potenciais, emancipando-a das diversas barreiras ideológicas – que frequentemente a reduzem a críticas pedantes, individualistas e moralistas, que apenas contribuem para a criação de novos mercados para o capital.
*Daniel Pavan é graduando em Ciências Sociais na USP.
Notas
[i] PRADO JÚNIOR, Caio. Formações do Brasil Contemporâneo: Colônia. 6a Edição. Editora Brasiliense, São Paulo, 1961. p.25.
[ii] Ibid. p.181
[iii] Ibid, p.182
[iv] Ibid. p.207