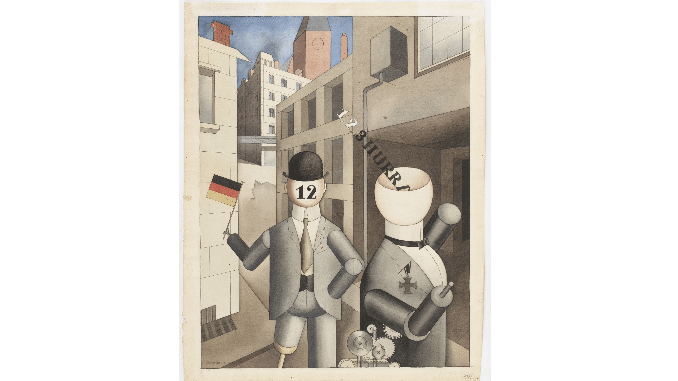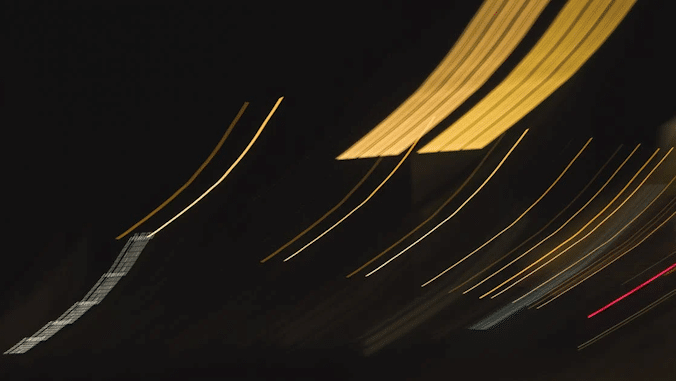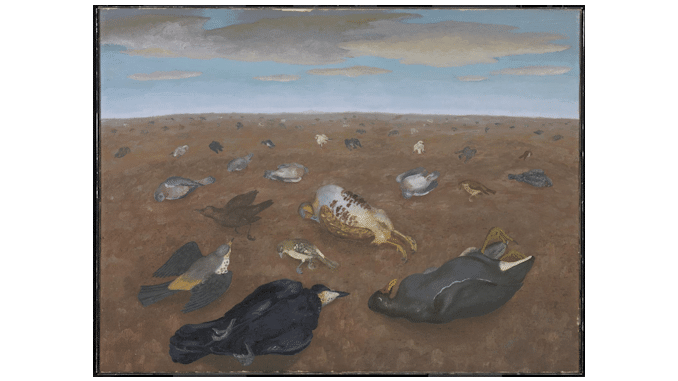O centenário da Revolução Soviética, e mesmo o quincentenário da revolução de Lutero, pode desviar nossa atenção de um terremoto literário ocorrido há apenas cinquenta anos e que marcou a emergência cultural da América Latina àquele estágio novo e maior que chamamos de globalização – ela própria um espaço que, em última instância, resulta estar muito para além das categorias separadas do cultural ou do político, do econômico ou do nacional. Refiro-me à publicação, em 1967, de Cem anos de Solidão de Gabriel García Márquez, que não apenas desencadeou um “boom” latino-americano em um mundo exterior insuspeito, como também introduziu distintos públicos literários nacionais a um novo tipo de romantização. Influência não é um tipo de cópia, mas uma permissão inesperada para fazer coisas de modos novos, para abordar novos conteúdos, para contar histórias por meio de formas que você jamais soube que lhe era permitido usar. O que foi, então, que García Márquez fez aos leitores e escritores de um mundo pós-guerra ainda relativamente convencional?
Ele começou sua vida produtiva como um crítico de cinema e escritor de roteiros que ninguém queria filmar. Seria tão ultrajante considerar Cem Anos de Solidão uma mistura, um entrelaçamento e um embaralhamento de scripts de cinema fracassados, com tantos episódios fantásticos que jamais poderiam ser filmados e que por isso precisaram ser atribuídos ao manuscrito sânscrito de Melquíades (do qual o romance foi “traduzido”)? Ou talvez se possa notar a impressionante simultaneidade entre o começo de sua carreira literária e o assim chamado Bogotazo, isto é, o assassinato em 1948 do grande líder populista Jorge Eliécer Gaitán (e o começo dos setenta anos da Violencia na Colômbia); ou que García Márquez estava almoçando pela rua enquanto, não muito longe dali, Fidel Castro com seus 21 anos esperava em seu quarto de hotel por um encontro à tarde com Gaitán sobre a conferência da juventude, a qual ele havia sido enviado para organizar em Bogotá naquele verão.
A solidão do título não deve ser tomada de início significando o pathos afetivo que ela se torna ao fim do livro: antes de tudo, na fundação ou refundação do próprio mundo pelo romance, ela significa autonomia. Macondo é um lugar longe do mundo, um novo mundo sem relação com um velho que nunca vemos. Seus habitantes são uma família e uma dinastia, embora acompanhada por seus companheiros de expedição fracassada, que apenas aconteceu de terem chegado a esse ponto. A solidão inicial de Macondo é uma pureza e uma inocência, uma liberdade de seja lá que misérias mundanas, esquecidas nesse momento inicial, esse momento de uma nova criação. Se insistirmos em vê-lo como uma obra latino-americana, então podemos dizer que Macondo está imaculada pela conquista espanhola tanto quanto pelas culturas indígenas: nem burocrática nem arcaica, nem colonial nem indígena. Mas se insistirmos em uma dimensão alegórica, então isso também significa a singularidade da própria América Latina no sistema global e, em um outro nível, a peculiaridade da Colômbia em relação ao resto da América Latina, ou mesmo da região nativa de García Márquez (costeira, caribenha) do resto da Colômbia e dos Andes. Todas essas perspectivas marcam o frescor do ponto de partida do romance, seu utópico experimento de laboratório.
Mas como sabemos, o problema formal da utopia é aquele da própria narrativa: que histórias ainda podem ser contadas se a vida é perfeita e a sociedade está aperfeiçoada? Ou, para colocar a pergunta pelo avesso e reformular o problema de conteúdo em termos da forma do romance: quais paradigmas narrativos sobrevivem para fornecer a matéria-prima para aquela destruição ou desconstrução que é o próprio trabalho do romance como um tipo de meta-gênero ou anti-gênero? Essa era a verdade mais profunda da pioneira A Teoria do Romance de Lukács. Os gêneros, os estereótipos ou paradigmas narrativos, pertencem às sociedades mais antigas, tradicionais: o romance é, pois, a anti-forma própria à modernidade ela mesma (ou, em outras palavras, ao capitalismo e suas categorias culturais e epistemológicas, sua vida cotidiana). Isso significa – como Schumpeter colocou em uma frase imortalizada – que o romance é também um veículo de destruição criativa. Sua função, em certa “revolução cultural” propriamente capitalista, é o perpétuo desfazer dos paradigmas da narrativa tradicional e sua substituição não por novos paradigmas, mas por algo radicalmente diferente. Para usar a linguagem deleuziana por um momento: a modernidade, a modernidade capitalista, é o momento de passagem dos códigos aos axiomas, das sequências significativas, ou ainda, se preferir, do significado ele próprio, às categorias operacionais, às funções e regras; ou, em ainda outra linguagem, desta vez mais histórica e filosófica, é a transição da metafísica para as epistemologias e os pragmatismos, poderíamos mesmo dizer do conteúdo para a forma, se o uso do último termo não corresse o risco de causar confusão.
O problema da forma do romance é que não é fácil encontrar sequências que substituam aqueles paradigmas da narrativa tradicional; as substituições tendem inevitavelmente a tomar novamente a forma de novos paradigmas e gêneros narrativos de pleno direito (como testemunha a emergência do Bildungsroman como um gênero narrativo significativo, baseado em concepções de vida, carreira, pedagogia e desenvolvimento espiritual ou material que são todas essencialmente ideológicas e, portanto, históricas). Esses paradigmas recém-criados, embora já familiares e obsoletos, devem por sua vez serem destruídos, em uma perpétua inovação da forma. Mesmo então, é bastante raro que um romancista invente paradigmas substitutos completamente originais (uma mudança de paradigma é um evento tão momentoso na história da narrativa quanto em outros lugares) e mais ainda que substitua a narrativa ela própria – algo que o modernismo almejou por toda a parte e sem sucesso eu diria: pois o que se demanda aqui é um novo tipo de narrativa romanesca que substitua toda narrativa, uma óbvia contradição em termos.
A perpétua ressurreição de novos paradigmas e subgêneros narrativos a partir das cinzas ainda quentes de sua destruição é um processo que eu atribuiria à mercantilização como lei primeira do nosso tipo de sociedade: não são apenas os objetos que estão sujeitos à mercantilização, mas tudo o que é capaz de ser nomeado. Muitos são os exemplos filosóficos desse processo aparentemente inevitável e os filósofos que – como Wittgenstein ou Derrida, de maneiras diferentes – colocaram como meta nos libertar de categorias e conceitos estáveis, reificados e convencionais acabaram eles próprios rotulados. Assim também ocorre com a destruição criativa dos paradigmas narrativos: seu “movimento em L de cavalo”, seu desvio ou desfamiliarização, acaba por se tornar apenas mais um “novo paradigma” (ao menos que, como na pós-modernidade, se decida pelo caminho daquilo que se costumava chamar de ironia, isto é, o uso do pastiche, o jogo com a repetição de formas mortas com um leve distanciamento).
Decerto, são essas as consequências, na minha opinião, das ideias de Lukács em A teoria do Romance – ideias que não puderam se aproveitar, como nós podemos, de gerações de experimentos modernistas acumulados nessa direção. Voltando a Cem Anos de Solidão com vistas a demonstrar e validar o que acabo de propor, podemos começar com seu principal paradigma narrativo, o romance familiar. Este tem sido muito discutido ultimamente, sendo a conclusão a de que ele não é mais possível, se é que alguma vez o foi (e, talvez, de fato, no ocidente nunca foi). O Bildungsroman não é um romance familiar, mas uma fuga da família; o romance picaresco gira em torno de um herói que nunca teve uma família; no romance de adultério, sua relação com a família fala por si própria.
Alguém, creio que Jeffrey Eugenides, defende que o romance familiar hoje só é possível fora do ocidente, e creio que há uma ideia profunda aqui. Podemos pensar em Mahfouz, por exemplo, mas eu argumentaria que se deveria ter em mente antes um dos maiores entre todos os romances, o clássico chinês O Sonho da Câmara Vermelha. Afinal, vem da China o slogan que epitomiza o ideal da família como a estrutura fundamental da própria vida: cinco gerações sob um mesmo teto! A grande mansão ou complexo inclui assim a todos, do patriarca de oitenta anos ao bebê recém-nascido, incluindo as gerações intermediárias de pais, avós e mesmo bisavós, de acordo com os intervalos geracionais apropriados de vinte anos: o patriarcado em sua forma ideal ou mesmo platônica, pode-se dizer (fazendo vista grossa ao papel frequentemente maligno dos vários tios e das matriarcas no processo). A sabedoria popular através dos tempos – ao lado de muitos filósofos, começando por Aristóteles – assimilou o próprio Estado a essa família patriarcal ou dinástica e é esse profundo arquétipo ideológico que Cem Anos de Solidão traz à superfície e torna visível. A família extensa fundada por José Arcadio Buendía é o Estado “mítico”, que apenas mais tarde, em seus dias de prosperidade, será tomado por funcionários do Estado profissional ou formal, na pessoa do “magistrado” e sua polícia, aos quais de início é designada uma posição menor e discreta, ao lado de outros agregados [hangers-on] de qualquer cidade-Estado, como os comerciantes e livreiros. E da mesma forma que a família extensa tem seu próprio pessoal de serviço – jardineiros, eletricistas, piscineiros, carpinteiros e xamãs –, estes também pontualmente aparecem e desaparecem do entorno da família Buendía, da qual eles podem ser considerados membros honorários.
A família considerada como sua própria cidade-Estado tem, como os antropólogos nos ensinam, um problema fundamental: a endogamia, a tendência centrípeta em absorver em si tudo que é externo, correndo o risco da consanguinidade (o casamento cruzado de primos e mesmo o incesto) e todas as consequências da identidade triunfante, incluindo a repetição, o tédio e aquela fatídica mutação genética, o rabo de porco familiar. O que não é família, é claro, é o outro e o inimigo. Ainda assim, a lei da endogamia tem sua própria forma de pensar o outro inofensivo; ela tem suas próprias categorias de pensamento para reconhecer a diferença e relegá-la a uma categoria subordinada e intermitente, mesmo cíclica e inofensivamente festiva. Essas incursões de fora são chamadas de ciganos. Estes trazem, como as páginas iniciais de Cem Anos de Solidão tão memoravelmente nos mostra, a diferença radical, sob a forma de bugigangas e inventos: imãs, telescópios, bússolas e, finalmente, o único verdadeiro milagre alcançado por esses embusteiros e vigaristas, a maravilha que comprova seu poder mágico autêntico: “Muitos anos depois”, lê-se na imortal primeira frase do romance, “frente ao pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendía havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo”. Gelo! Um elemento com propriedades inconcebíveis, uma nova adição à tabela periódica. A existência de gelo nos trópicos é “memorável” porque é lembrada, como diria Benjamin. Ele marca, na frase de abertura, a natureza dialética da própria realidade: o gelo queima e congela a uma só vez.
Assim, é a matéria-prima do “romance familiar” que será nessa seção de abertura trabalhada em todos seus recursos e possibilidades de variação musical, permutação estrutural, metamorfose, invenção anedótica, numa produção de infinitos episódios que são todos na verdade o mesmo, equivalentes estruturais no mito do “realismo mágico”, cuja produção e reprodução são elas próprias o que então se descreve tautologicamente como “mítico”. Contudo, a identidade dessa proliferação aparentemente irreprimível e irreversível de anedotas familiares é traída pela repetição de nomes ao longo das gerações – tantos Aurelianos (17 deles a certo ponto), tantos José Arcadios, e mesmo algumas Remedios e Amarantas agrupadas do lado feminino. Harold Bloom está correto ao reclamar de “um tipo de fadiga de guerra [battle fatigue] estética, na medida em que cada página está abarrotada de vida, para além da capacidade de qualquer leitor individual de absorvê-la”.
Eu acrescentaria a isso um constrangimento que o comentador literário reluta em admitir, a saber, a dificuldade de manter os nomes das personagens separados uns dos outros. Esse problema é bem diferente das reclamações dos estudantes sobre os impossíveis patronímicos e matronímicos russos (e agora os chineses ou os não ocidentais) e merecedor de maior atenção enquanto um sintoma de algo historicamente mais importante: a saber, a significância renovada das gerações e do geracional, em um mundo superpovoado e por isso condenado à sincronia no lugar da diacronia. Lembro-me quando, no desenvolvimento do agora respeitado gênero literário da história de detetive, um escritor de certa originalidade (Ross Macdonald) começou a fazer experimentos com crimes multigeracionais: você nunca podia lembrar se o assassino era o filho, o pai ou o avô. Assim é também com García Márquez, mas de uma forma deliberada, em um mundo espacial para além do próprio tempo (“onde ninguém ainda havia morrido”; “o primeiro ser humano que nasceu em Macondo” e assim por diante). Tudo muda em Macondo, o Estado chega, e depois a religião e, por fim, o próprio capitalismo; a guerra civil segue seu curso como uma serpente que morde o próprio rabo; a vila envelhece e torna-se desolada, a chuva da história começa e acaba, os protagonistas originais começam a morrer; e, ainda assim, a narrativa ela mesma, em seus fios rizomáticos, nunca se extingue – sua força mantendo-se a mesma até a fatídica virada de suas páginas finais. A dinastia é uma família de nomes e esses nomes pertencem ao inesgotável impulso narrativo, não ao tempo ou à história.
Assim, como observou Vargas Llosa, por detrás da sincronicidade repetitiva da estrutura familiar de García Márquez existe toda uma progressão diacrônica da história da própria sociedade, contra cuja temporalidade sombria e inexorável nós seguimos as permutações estruturais de uma estrutura familiar sempre cambiante ainda que estática, cujas gerações mudam em sua permanência e cujas variações refletem a história apenas como sintoma, não como marcadores alegóricos. É essa estrutura dual que permite uma solução única e irrepetível para o problema da forma tanto do romance histórico quanto do romance familiar.
Mas a narrativa familiar tem uma última carta escondida na manga, uma última jogada desesperada em seu momento de saturação e exaustão: a absoluta inversão ou negação estrutural de si mesma. Pois o que definia a autonomia de Macondo e permitia sua luxuosa esfoliação de endogamias era seu isolamento monádico. Ainda assim, como nas antigas cosmologias do atomismo, o próprio conceito de átomo produz uma multiplicidade de outros átomos, idênticos a si mesmos; a noção do Um gera muitos Uns; a força de atração que arrasta tudo que é externo para o interno, que absorve toda diferença em identidade, agora subverte e nega a si mesma, e a repulsão à qual a atração de repente se converte adquire um novo nome: guerra.
Com a guerra, Cem Anos de Solidão adquire seu segundo paradigma narrativo, apenas na aparência uma imagem espelhar do primeiro, onde o protagonista filial, secundário e excêntrico torna-se agora subitamente o herói. O romance de guerra, decerto, é ele próprio um tipo peculiar e problemático de narrativa: se preferir, é uma manifestação de uma necessidade estrutural mais profunda de toda narrativa, a saber, o que os manuais de roteiristas recomendam como conflito e o que teóricos da narrativa como Lukács (e Hegel) veem como a essência da preeminência da tragédia como forma.
A versão latino-americana do romance de guerra, no entanto, é um pouco mais complicada do que parece. A guerra civil institucionalizada da Colômbia, a alternância de estilo austríaco entre seus dois partidos, é num primeiro momento rememorada pela identificação de Aureliano com os liberais, mas é depois transformada pelo seu repúdio a ambos os partidos com a adoção da guerra de guerrilha e do “banditismo” social generalizado. Enquanto isso, no país de Bolívar, essa atomização é modificada por um verdadeiro pan-americanismo bolivariano (do tipo aspirado por ambas as revoluções latino-americanas recentes, a cubana e a venezuelana), que não é ele próprio senão uma figura daquela “revolução mundial” que a Revolução Soviética original tinha esperado dar início. A ambiguidade não é apenas a da América do Sul como uma “zona autônoma” distinta geográfica e etnicamente em uma história mundial da qual ela, não obstante, deseja ser uma parte central; mas também a da imbricação dessas várias autonomias – da vila ao Estado-nação à região – entre as quais a representação se move livremente. Lembremos que o fundador mítico, José Arcadio, partiu do Velho Mundo “procurando uma saída para o mar” (desencorajado pela sua descoberta de um pântano primitivo, ele se assentou na posição a meio caminho de Macondo). O espaço de independência (e solidão) é, portanto, algo parecido à tentativa de tornar-se uma ilha. O mar figura aqui como a fronteira última e o fim do mundo, de resto personificado social e economicamente para a América Latina pelos Estados Unidos. (É verdade que a outra grande zona regional autônoma da qual a Cartagena de García Márquez é parte é o Caribe, mas este dificilmente tem em Cem Anos de Solidão a importância que a centralidade regional da Revolução Cubana teve na própria vida de García Márquez).
Este seria o momento para falar sobre política e de Cem Anos de Solidão como um romance político, pois, apesar da eterna guerra civil colombiana, o inimigo é sempre os Estados Unidos, como o inesgotável suspiro de Porfirio Díaz nos recorda: “Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos!”. Mas esses gringos, uma raça estranha e estrangeira, cuja simples aproximação tenciona os músculos e sempre levanta suspeita, estão aqui personificados pelo modesto Mr. Brown, logo substituído pela companhia bananeira sem-rosto, que traz consigo o capitalismo, a modernidade, a perseguição a sindicatos, a repressão sanguinária e uma inevitável realocação (uma insólita antecipação da peste vivida pelos próprios Estados Unidos, décadas depois, de expatriação de fábricas). Ela traz também a desolação de oito anos de chuva: um mundo de lama, a síntese dialética pior possível entre inundação e estiagem. Mas o que é verdadeira e artisticamente político nessa sequência não é apenas seu simbolismo mítico – ou, ainda, o modo pelo qual o conjunto de problemas formais de representação de vilões, estrangeiros e atores coletivos é habilmente circunavegado –, mas antes a reposição do tema maior de García Márquez: não a memória, mas o esquecimento. A peste da insônia (e a amnésia dela resultante) foi há tempos superada; mas uma amnésia específica – poderíamos dizer cirúrgica – é aqui revivida: ninguém senão José Arcadio Segundo pode lembrar-se do massacre dos trabalhadores. Ele foi exitosamente erradicado da memória coletiva, de forma mágica e ainda assim natural, naquela repressão arquetípica que permite a todos nós sobrevivermos aos imemoriais pesadelos da história, a seguirmos vivendo felizes apesar do “matadouro da história” (Hegel). Esse é o realismo – sim, até mesmo realismo político – do realismo mágico.
Há nesse contexto, no entanto, algo de peculiarmente estéril e esquelético sobre o paradigma da guerra enquanto tal: o bélico não pode fornecer a riqueza anedótica do paradigma familiar, ainda mais quando ele é reduzido, como no romance, à rígida reciprocidade dos lados inimigos. O que emerge não é tanto um romance de guerra, mas um jogo de execuções – a começar por aquela famosa primeira frase (“frente ao pelotão de fuzilamento”) – e um conjunto de surpreendentes reviravoltas (Aureliano não será executado – duas vezes –, mas seu irmão José Arcadio sim, junto com vários alter egos). Aqui, nesse “fim de mundo” temporal mais que geográfico, o que a execução promete é uma parada momentânea naquela esbaforida continuidade do tempo repleto e da narrativa perpétua lamentada por Bloom, criando assim espaço para todo um novo tipo de evento: a memória (“Coronel Aureliano Buendía havia de recordar”). A representação da memória como um evento transforma essa temporalidade por completo: totalmente diferente da versão proustiana familiar, ela chega como um relâmpago com força própria. A nostalgia é anedótica; a memória aqui não é ressurreição do passado, nesse espaço repleto de frases incessantes, de algo como uma narrativa churrigueresca. Não pode haver passado nesse sentido tradicional, tampouco qualquer presente (o que há, como já o sabem os leitores do romance, é um manuscrito, ao qual logo chegaremos).
Mas as inversões estruturais que formam a série de eventos do romance extraem suas energias mais intensas do material de guerra, e isso especialmente na caracterologia de Aureliano (quem, por essa razão, mais frequentemente parece ser o protagonista do romance, embora este não tenha protagonista, a não ser a própria família e o espaço da coletividade mencionada). García Márquez é um behaviourista no sentido de que as personagens não têm psicologia, profunda ou não; sem serem alegóricas, justamente, elas são todas obsessivas, possuídas e definidas por suas próprias paixões específicas e irrestritas. As personagens secundárias são marcadas por meras funções (de enredo ou profissionais); mas quando os protagonistas saem de suas obsessões, é para entrar no néant dos espaços fechados e das casas trancadas – como com Rebeca, que resta esquecida na sua avançada idade em um tipo de sequestro narrativo, onde a distração do romancista (ou melhor, do cronista impessoal) é rigorosamente idêntica ao esquecimento da sociedade (e da família) enquanto tal; sem seus cativeiros anedóticos, elas não se tornam simplesmente normais, mas desaparecem.
Ou então suas paixões subitamente se transformam em novas missões, novas possessões demoníacas: é isso que é paradigmático em Aureliano, que se move da fascinação pelo gelo na infância, passando pelo ano de produção alquimista artesanal (no laboratório do seu pai) de peixinhos de ouro, até a vocação política para a guerra e a rebelião, que se apodera dele tão logo Macondo se encontra ameaçada de ser absorvida pela reificação institucional de um Estado, e que de novo desaparece como uma desconversão e um acesso de desânimo no fim da era das revoluções, no momento em que ele retorna ao seu artesanato e a seus aposentos reclusos: em Macondo, apenas a atividade incessante sustenta a vida.
Em Macondo, apenas o específico e o singular existem: os grandes esquemas abstratos da dinastia e da guerra podem dominar apenas atividades diminutas e empiricamente identificadas. A especificidade da solução narrativa de García Márquez reside claramente na coordenação, algo única, para não dizer impossível, desses níveis narrativos: não na unificação de invenções poéticas episódicas no interior da continuidade da vida de uma personagem singular bizarra (como na linha paralela genérica dos megarromances de Grass e Rushdie), mas antes em uma constelação estrutural única, talvez aquilo que em última instância possa ser chamado de “realismo mágico”. De fato, trata-se de parar de usar esse termo genérico para tudo o que é não convencional e jogá-lo no cesto em que mantemos aqueles epítetos gastos como “surrealista” e “kafkiano”. A versão original de Alejo Carpentier é aquela em que o real ele próprio é uma maravilha (o “real maravilloso”) e em que a América Latina é ela própria, em seu paradigmático desajuste – onde computadores coexistem com as formas mais arcaicas de cultura camponesa e assim por diante, através de todos os estágios dos modos históricos de produção –, uma maravilha a ser contemplada. Mas isso só pode ser observado e dito com uma sagacidade absolutamente seca e com a inegabilidade não surpreendente de um mero fato empírico. O “método” de García Márquez, ele nos diz, deve ser o de “contar a história… em um tom imperturbável, com uma serenidade infalível, mesmo se o mundo todo resiste, sem por nenhum instante duvidar do que você está dizendo e evitando o frívolo tanto quanto o truculento… [Isso é] o que os antigos sabiam: que, em literatura, não há nada mais convincente que sua própria convicção”. Nada há, portanto, de notável, nada de miraculoso, quanto ao fato de Mauricio Babilonia, um homem que é todo amor, puro amor, ser constantemente rodeado por uma nuvem de borboletas amarelas (“cheirando a óleo de motor”); nada há de trágico quanto ao fato de que ele seja abatido como um cachorro por alguém cujos planos ele atrapalha; nada de mágico quanto ao fato de que um padre atormentado pela total ausência de Deus ou de religião em Macondo tente chamar seus cidadãos à decência e à devoção levitando um pé acima do chão (após se fortalecer tomando uma xícara de chocolate quente); ou que Remedios, a Bela, suba ao paraíso como um amontoado de lençóis de quintal ao vento. Sem magia, sem metáfora: apenas um grão capturado em transcendência, um sublime materialista, o secar a louça ou o trocar o óleo capturado em uma perspectiva angelical, uma sujeira celestial, a ideia platônica das unhas do pé sujas de Sócrates. O contador de histórias deve relatar essas coisas com toda a frieza ontológica de Hegel diante dos Alpes: “Es ist so” (e, mesmo então, sem a ênfase ontológica do filósofo).
Não é a “magia”, portanto, mas alguma outra coisa que deve ser evocada quando se considera a inegável singularidade da invenção narrativa de García Márquez e da forma que permite que ela venha à existência. Creio que essa outra coisa é sua concentração inquietante, arrebatadora, em seu objeto narrativo imediato, que não deixa de guardar semelhança com o acordar de Aureliano para o mundo “com os olhos abertos”:
“Enquanto lhe cortavam o umbigo movia a cabeça de um lado para o outro, reconhecendo as coisas do quarto, e examinava o rosto das pessoas com uma curiosidade sem assombro. Depois, indiferente aos que vinham conhecê-lo, manteve a atenção concentrada no teto de palmas, que parecia estar quase desabando sob a tremenda pressão da chuva”[i].
Mais tarde, “a adolescência… tinha restituído a expressão intensa que teve nos olhos ao nascer. Estava tão concentrado nas suas experiência de ourivesaria que mal abandonava o laboratório, e só para comer”. É interessante, embora não particularmente relevante para os nossos objetivos, que, da mesma forma que suas personagens sequestradas, García Márquez ele próprio jamais tenha deixado sua casa durante a escrita de Cem Anos de Solidão; o que é essencial para a compreensão das peculiaridades do romance é essa noção mesma de concentração, que, muito mais do que as ideias vagas de mágico ou “maravilloso”, nos dá a chave para sua narrativa episódica.
Poderíamos voltar atrás e esboçar um longo recorrido desde a lógica aristotélica até a livre associação freudiana, passando pela psicologia do associacionismo do século XVIII e culminando no surrealismo, por um lado, e no estruturalismo jakobsoniano (metáfora/metonímia), por outro. Em todos esses enquadramentos, o que importa é a sucessão temporal e o movimento de um tópico a outro, como quando o olhar nascente de Aureliano se move de objeto a objeto ou quando o posicionamento dos objetos deste ou daquele “teatro de memórias” recorda ao orador a ordem de seus comentários. O que quero sugerir é que, longe da desordem barroca e do excesso daquele “realismo mágico” do qual ele é tão frequentemente taxado, o movimento dos parágrafos de García Márquez e o desdobrar dos conteúdos de seus capítulos devem ser atribuídos a uma lógica narrativa rigorosa, caracterizada precisamente em termos de uma “concentração” peculiar, que se inicia com a posição de um tópico ou objeto específico.
De um ponto de partida relativamente arbitrário – os ciganos e seus peculiares brinquedos ou jogos mecânicos, a família da esposa, a construção de uma nova casa (apenas para mencionar os inícios dos três primeiros capítulos) – uma associação de eventos, personagens e objetos é seguida com todo o rigor da livre associação freudiana, que de modo algum é livre, mas demanda na prática a máxima disciplina. Essa disciplina demanda exclusão, e não a inclusão épica tão frequentemente atribuída à narrativa de García Márquez. O que não emerge na linha específica de tópicos associados deve ser rigorosamente omitido; e a linha narrativa deve levar-nos aonde quer que ela vá (da maldição do rabo de porco à difamação de Prudencio Aguilar, seu assassinato, o assombro de seu fantasma e, por consequência, a tentativa de abandono da casa assombrada, a exploração da região, a fundação de Macondo, seu povoamento por suas crianças, o órgão que está longe de ser um rabo de porco e etc.). Cada um desses tópicos segue rigorosamente seu predecessor, seja qual for o formato que a série toma a partir de seu próprio impulso; não se trata, porém, da forma da sequência narrativa, mas antes da qualidade de suas transições, tais como elas emergem da arrebatadora concentração de García Márquez sobre a lógica do seu material, tanto quanto da sequência de tópicos que emergem daquele olhar fixo indistraído, do qual nem a abstração nem a convenção pode demovê-lo. Essa é uma lógica narrativa que de certo modo está para além tanto do sujeito quanto do objeto: ela não emerge do inconsciente de algum “narrador onisciente” nem segue a lógica habitual da vida cotidiana. Seria tentador dizer que ela está integrada à matéria-prima daquela América Latina que Carpentier caracterizou como o “maravilloso” (devido, creio eu, à coexistência de tantas camadas de história, tantos modos de produção descontínuos). De todo modo, não é realmente apropriado atribuir à entidade fictícia chamada “imaginação” de García Márquez alguma genialidade excepcional de um contador de histórias. Antes, é uma igualmente indescritível ou informulável intensidade de concentração que produz os materiais sucessivos de cada capítulo, que então, em seu acúmulo, resultam no aparecimento de loops e repetições imprevisíveis, “temas” (para nomear outra ficção crítico-literária), finalmente esgotando seus ímpetos e começando a se reproduzirem em padrões numéricos estáticos.
Essa concentração, no entanto, é a qualidade que consumimos em nossa leitura única e que não tem equivalente real em, digamos, O Tambor ou O Arco-íris da Gravidade ou Os Filhos da Meia Noite, muito embora seus ímpetos sejam análogos, como o são as associações das quais seus episódios são construídos. Não temos termos técnico-literários já prontos para abordar o estranho modo de contemplação ativa que está no fulcro desse processo composicional (e de leitura também). Seria filosófico e pedante remeter à célebre fórmula fichteana – “o sujeito-objeto idêntico” –, que teve seus dias de glória em áreas para além da estética; mas há um sentido em que ela resta como a caracterização mais satisfatória e nos incita a uma abordagem essencialmente negativa desses fios narrativos. Não, aqui não há ponto de vista nem narrador (ou leitor) implicado. Não há fluxo de consciência nem estilo indireto livre. Não há ordem inicial, desafiada e por fim restaurada. Tampouco há digressões; o fio segue sua lógica interna sem distração e sem realismo ou fantasia. As grandes imagens – fantasmas que envelhecem e morrem, o amante que emana borboletas amarelas – não são nem símbolos nem metáforas, mas apenas designam o fio ele próprio, em sua inexorável progressão temporal e em seu teimoso repúdio de qualquer distinção entre o subjetivo e o objetivo, o sentimento interno e o mundo exterior. Apenas os pontos de partida são arbitrários, mas eles são dados na própria família; são menos um gênero ou uma temática do que uma rede de pontos, qualquer dos quais pode servir até que as associações comecem a se esgotar e cessem. A dialética da quantidade em qualidade deixa sua marca à medida que os episódios se acumulam e começam a sobrecarregar com camadas de memória o que antes eram referências novas. E, de fato, é isso que, na falta de uma melhor palavra ou conceito, García Márquez chama de lógica narrativa dos seus fios: “memória”, mas memória de um tipo estranho e não subjetivo, uma memória dentro das próprias coisas de suas possibilidades futuras, ameaçadas apenas por aquela epidemia de insônia contagiante que ameaça liquidar não apenas com os eventos, mas com o sentido mesmo das próprias palavras.
Seria um filistinismo do tipo mais indigesto e entediante proferir aqui a palavra “imaginação”, como se García Márquez fosse uma pessoa real e não (como Kant pensou o “gênio” ele próprio) simplesmente o veículo de uma anomalia fisiológica – como suas próprias personagens –, o portador daquela dádiva esquisita e inexplicável que chamamos de concentração, a incapacidade de distrair-se por aquilo que não está implícito na sequência narrativa em questão. Como leitores, trata-se de um feliz acidente se formos capazes, de modo parecido, de nos perdermos naquele esquecimento precisamente situado, no qual tudo segue logicamente e nada é estranho ou “mágico”, uma atenção hiperconsciente ainda que irrefletida na qual somos incapazes de nos distinguir do escritor, na qual compartilhamos daquele estranho momento de emergência absoluta que não é nem criação nem imaginação: participação em vez de contemplação, pelo menos por um tempo. É uma característica definidora do encantamento do maravilhoso que ignoremos nosso próprio enfeitiçamento.
*
Ainda assim, alguns atributos da obra de arte em geral nos oferecem um acesso privilegiado àquilo que a Escola de Frankfurt costumava chamar de conteúdo de verdade; entre eles, a temporalidade sempre jogou um papel significativo nas análises mais frutíferas do romance como forma. Do mesmo modo que Le Corbusier descrevia a habitação como uma “máquina para viver”, também o romance sempre foi uma máquina para viver certo tipo de temporalidade; e nas múltiplas diferenciações do capitalismo global ou pós-moderno podemos esperar uma variedade dessas máquinas temporais ainda maior do que havia no período transitório que chamamos de modernismo literário (cujas temporalidades experimentais, paradoxalmente, pareciam inicialmente, frente a ele, muito mais variadas e incomparáveis).
O romance é um tipo de animal, e do mesma maneira que especulamos sobre o modo como um cachorro experiencia o tempo, ou uma tartaruga, ou um falcão (todos dentro de seus limites e possibilidades e concedendo que o aferimos em termos das nossas próprias experiências humanas temporais), também cada romance particular vive e respira um tipo de tempo fenomenológico por trás do qual estruturas não temporais podem às vezes ser vislumbradas. É por isso que, por exemplo, tenho insistido em compreender o que aqui é chamado ato de memória como uma experiência pontual, um evento que interrompe o fluxo, anedótico ainda que irreversível, de frases narrativas e que é de uma vez nelas reabsorvido como ainda outro evento narrativo. Logo, o que parecia ser a pausa e a distância de um momento de autoconsciência revela-se como uma outra instância da consciência não reflexiva, essa incessante atenção ao mundo que é ela própria moldada e tensionada por uma ontologia contraditória em que tudo já ocorreu ao mesmo tempo em que está ocorrendo de novo em um presente em que a morte mal existe, embora o tempo e o envelhecimento sim. A repetição tornou-se um tema popular na teoria contemporânea, mas é importante insistir nas variedades de repetição, das quais essa repetição temporal – passado e presente tudo de uma vez – é um tipo singular.
Essa estrutura temporal particular faz, portanto, uma intersecção com outra, na qual quebras históricas fundamentais são registradas: a fundação de Macondo é uma dessas “quebras”, mas é reabsorvida graças à tendência dos eventos míticos retornarem a si mesmos. A chegada da companhia bananeira, que registra o evento traumático da colonização econômica dos EUA, é assimilada na continuidade da vida cotidiana de Macondo à medida que seus agentes e atores tornam-se parte do quadro de funcionários secundários de Macondo; e depois ela é toda varrida pela miséria dos anos de chuva que tornam sua presença invisível. Aqui também, portanto, a temporalidade como um problema formal reflete aquele dilema mais geral que caracterizei como endogamia, no qual a autonomia do coletivo e de seus eventos internos deve, de algum modo, encontrar uma forma de desarmar choques externos e de assimilá-los à sua fábrica, seja pelo casamento, pela guerra ou, nesse caso, por uma naturalização que torna o que é socioeconômico em atos de deus ou forças da natureza. A temporalidade histórica torna-se história natural, embora de tipo miraculoso; enquanto seus destinatários mantêm a opção de se retirarem para o espaço interior real de edifícios que desmoronam.
Tais retiradas, as mortes longamente esperadas dos protagonistas principais, e mesmo os próprios indicadores da modernidade capitalista na figura da penetração imperialista, pela companhia bananeira, da autonomia cada vez mais ameaçada de Macondo, e com tudo isso a exaustão gradual dos dois enredos ou paradigmas narrativos (a repetição cíclica de nomes; o crescimento e a anulação gradual das rivalidades militares em conflito ideológico e a dialética entre a resistência guerrilheira e a “guerra total”): tudo isso indica uma impaciência crescente com os paradigmas cujas originalidades estruturais se exauriram e que, após seu desenvolvimento duplo, dão lugar à repetição interminável de lorotas e ao acúmulo de anedotas sobre novas anedotas. (Onde a quebra tem lugar? Esse é o vício inominável do historiador, o gozo oculto da periodização: uma dedução dos tempos finais do seu começo, do “quando aconteceu” ou, em outras palavras, quando tudo parou – o oposto da cena primária freudiana. Eu pessoalmente selecionaria o momento em que “coronel Gerineldo Márquez foi o primeiro que percebeu o vazio da guerra”, mas deixo para outros que identifiquem sua própria “quebra” secreta).
Esse tipo de evento-memória é totalmente diferente do que acontece com seu grande predecessor: Absalão, Absalão! de Faulkner.
“Houve uma vez – já reparou como a glicínia, recebendo o pleno impacto do sol nesta parede aqui, destila e penetra nesta sala como que (desimpedida pela luz) por um progresso secreto e cheio de atrito feito de partícula em partícula de pó da miríade de componentes da escuridão? Esta é a substância da lembrança – tato, visão, olfato: os músculos com os quais vemos e ouvimos e sentimos – não a mente, não o pensamento: não existe a memória: o cérebro recorda exatamente o que os músculos buscam: nada mais, nada menos: e a soma resultante é geralmente incorreta e falsa, merecendo apenas ser chamada de sonho”[ii].
A memória faulkneriana é profundamente sensorial, na tradição de Baudelaire – o odor que traz todo um momento do passado com ele. Apesar de sua atribuição a uma vanguarda poética, essa é a concepção ideológica ocidental dominante de tempo e de corpo, enquanto que a de García Márquez é, pelo contrário, uma reversão do tempo cronológico: o tempo de milagres e curiosidade, de atenção aumentada, do memorável, do evento excepcional (o contador de histórias de Benjamin) –, o que geralmente acontece na memória coletiva e popular, embora aqui seja a “memória popular” de uma personagem individual. E o contrário: pois não é tudo em Faulkner de alguma forma transmitido pela memória enquanto tal, de modo que os eventos, dela encharcados, já não podem ser distinguidos como presentes ou passados, mas apenas veiculados pelo murmúrio interminável da voz rememorante? Não há essa voz em García Márquez: a crônica registra, mas não evoca, não nos fascina e imobiliza, arrebatadora, na rede de um estilo pessoal; e a falta de estilo é também, em geral, a marca do pós-moderno.
“A história da família era uma engrenagem com repetições irreparáveis”, diz Pilar Ternera perto do fim do romance, “uma giratória que continuaria dando voltas até a eternidade se não fosse pelo desgaste progressivo e irremediável do eixo”. Podemos reconhecer o começo dessa seção final pela emergência da pura quantidade como seu princípio organizador e, sobretudo, pela apoteose daqueles dualismos tão caros ao estruturalismo em geral, onde o conteúdo dá lugar à proliferação formal padronizada e vazia; mas também, como já apontei, pelos sinais de modernidade que começam a aparecer na vila, como tantos estrangeiros indesejados que precisam de alguma forma ser acomodados.
A denúncia do imperialismo dificilmente seria uma novidade para a literatura latino-americana: o gênero de “romance do grande ditador” seria outra versão disso (o próprio García Márquez o adotou em seu livro seguinte, O Outono do Patriarca) – o retrato do monstro político que é sozinho forte o suficiente para resistir aos estadunidenses. Aqui, no entanto, a análise é mais sutil: apenas a chuva pode forçar a companhia bananeira a sair do país, mas a cura deixa atrás de si sua própria desolação insuperável – o próprio epítome da “teoria da dependência”.
Os modos como essa penetração da “modernidade ocidental” é registrada na própria temporalidade são mais problemáticos, pois trazem consigo o que agora chamamos de “vida cotidiana”, mas que o título do romance já identificou como “uma solidão lastimável”, a falta de um evento miraculoso, cujo tédio deve agora ser preenchido pelo trabalho rotineiro sem alma: no caso de Amaranta, a costura, cuja “própria concentração lhe proporcionou a calma que lhe faltava para aceitar a ideia de frustração. Foi então que entendeu o círculo vicioso dos peixinhos de ouro do coronel Aureliano Buendía”. Mas essa introdução do “entendimento” na pura atividade da crônica é já uma contaminação e aponta para outros tipos de discurso narrativo que o romance pretende evitar. O mesmo ocorre com a noção de “verdade”, que aparece no preciso momento em que José Arcadio Segundo descobre que a memória do massacre dos trabalhadores foi, de maneira orwelliana, apagada da memória coletiva. A verdade torna-se então o negativo em um sentido quase hegeliano: não a listagem interminável de eventos da crônica, mas antes o reestabelecimento de antigos eventos em lugar de sua distorção ou omissão. Mas esse é também um outro tipo de discurso, um outro tipo de narrativa, diferente daquele que estávamos lendo.
Essa é a outra face da exaustão e do surgimento do tédio do leitor ao qual Harold Bloom deu voz: pois aqui o modo crônica caiu em deterioração e o próprio romance começou a perder sua razão de ser, ameaçado pela psicologia, por um lado, e pela análise profunda, por outro. O modo crônica foi ele próprio um tipo de utopia arcaica, mas de um tipo mais sutil e efetivo do que aqueles romances completamente indigenistas dos quais Vargas Llosa se queixava tão asperamente. A crônica nos levou de volta para um tipo mais antigo de tempo e lugar, um modo mais antigo de origem. Agora, de repente, pela primeira vez, começamos a compreender o romance como ele próprio uma dualidade – a existência, em paralelo à narrativa impessoal ainda que contemporânea de García Márquez, dos antigos pergaminhos em Sânscrito nos quais Melquíades compunha a mesma história, mas de outra forma, mais autêntica. E, nesse ponto, Cem Anos de Solidão paradoxalmente se torna um texto-tendência que abraça todo o furor ideológico da “écriture” dos anos 1960; pois, em um desabrochar final inesperado, uma originalidade conclusiva surge para corresponder àquela do começo do romance, e quando a “vida real” finalmente coincide com a confabulação dos pergaminhos, tudo acaba em um livro, exatamente como Mallarmé havia previsto, e o romance parte em um rodamoinho de folhas mortas, do mesmo modo como Macondo é arrasada pelo vento.
*Fredic Jameson é diretor do Centro de Teoria Crítica da Duke University (EUA). Autor, entre outros livros, de Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions (Verso).
Tradução: Carlos Henrique Pissardo
Publicado originalmente na revista London review of books em 17 de junho de 2017.
Notas do tradutor
[i] GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Cem anos de solidão. Tradução de Eliane Zagury. 53ª edição. Rio de Janeiro: Record, 2003, p.20. Outras passagens citadas por Jameson foram retiradas da mesma edição [Nota do tradutor].
[ii] FAULKNER, William. Absalão, Absalão!. Tradução de Celso Mauro Paciornik e Julia Romeu. São Paulo: Cosac Naify, 2014, p.132.