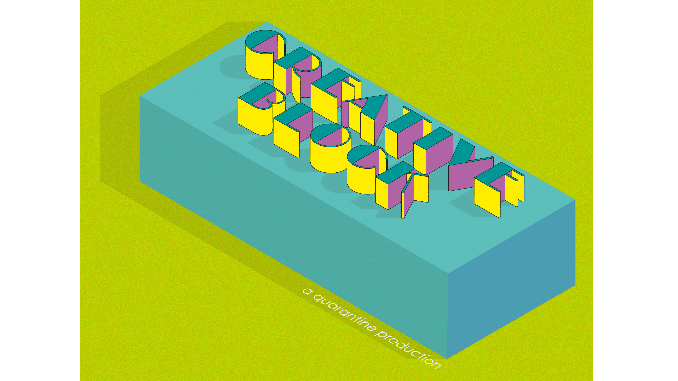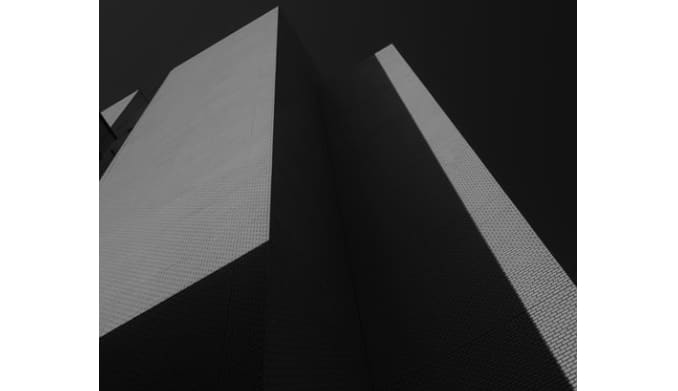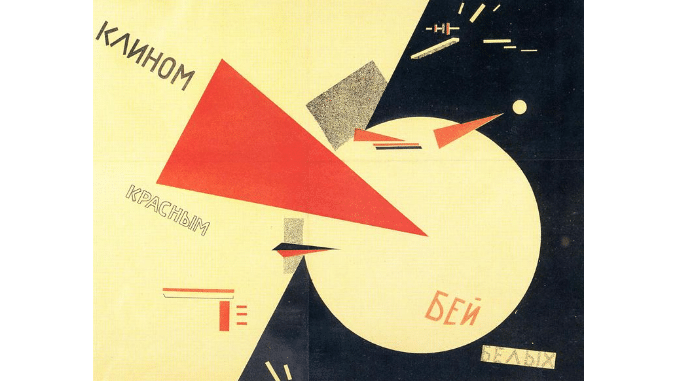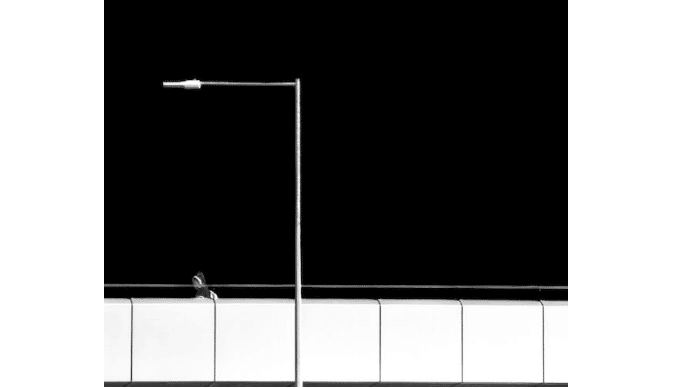Por EDUARDO J. VIOR*
Na guerra que se trava na Ucrânia, o Ocidente não tem objetivos alcançáveis
Há quase quatro meses de iniciada a guerra na Ucrânia, é indubitável que, do ponto de vista militar, a Rússia vencerá. Ela também parece ter suportado de forma satisfatória a vaga de sanções ocidentais contra a sua economia. Já os Estados Unidos colocaram de novo para funcionar o seu complexo industrial militar e subjugou a Europa, obrigando-a a pagar bastante caro por alimentos e energia. Que a Rússia prolongue a guerra até alcançar seus objetivos é algo que se entende. No entanto, para que as potências ocidentais continuam enviando toneladas de armas à Ucrânia, se elas não equilibram a superioridade russa no terreno, multiplicam a perda de vidas e a destruição da economia do país e escalam o conflito? É intencional ou é automatismo?
No dia 15 de junho, o chefe do Estado Maior Conjunto (Joint Chiefs of Staff) das Forças Armadas norte-americanas, o general Mark Milley, calculou as perdas do exército ucraniano. Acredita-se que ele esteja perdendo cerca de 100 pessoas por dia, com mais 100 a 300 feridos.[1] De outra parte, no dia 11 de junho, pela primeira vez, Oleksiy Arestovich, o principal assessor de Volodymyr Zelensky, admitiu em uma entrevista que, desde o começo da Operação Militar Especial da Rússia, a Ucrânia teria perdido cerca de dez mil pessoas. Supõe-se que estava se referindo apenas aos militares mortos, porque o número de baixas civis e de feridos é muito maior, como indica o fato de se preparar agora a mobilização de mulheres.
No começo da semana passada era já possível desenhar o seguinte quadro da situação militar: as forças aliadas da Rússia e das milícias das repúblicas secessionistas de Lugansk e Donietsk recuperaram 97% do território das antigas províncias homólogas, a Rússia recuperou as posições que havia perdido há um mês na província de Kharkov e sustenta as posições no sul. Falta pouco para que tome a totalidade dos territórios habitados pela população russo-falante. Nesse contexto, a utilidade militar dos contínuos bombardeios ucranianos contra a população civil da cidade de Donietsk é incompreensível.
De sua parte, o jornal britânico The Independent, citando um relatório de inteligência, ofereceu há uma semana, no sábado (dia 11), uma extensa análise sobre a relação entre as forças russas e ucranianas: as tropas ucranianas são 20 vezes inferiores às russas em artilharia; 40 vezes, em munições; e 12 vezes, em alcance. Além disso, a parte ucraniana ficou quase completamente sem lançadores antitanque, ainda que continue dispondo de MLRS Grad e obuses com alcance máximo de 20-30 km. Do mesmo modo, carece de armas para atingir a artilharia russa de longo alcance.
Por conta da falta de coordenação com outros sistemas de armas, a incorporação crescente de canhões autopropulsados de grande calibre de origem francesa e norte-americana aumenta os danos civis sem aumentar a eficácia militar. Por outro lado, os russos dispõem de numerosos lançadores de foguetes em condição operativa, com alcance de dezenas e mesmo centenas de quilômetros. Constata-se uma situação de “absoluta desigualdade no campo de batalha, para não falar do completo domínio da aviação inimiga no ar”, reza o informe britânico. Como consequência, entre as tropas ucranianas, grassa o desalento e aumenta a deserção.
Há, além de tudo, um efeito colateral que já se vinha antevendo desde o princípio: a entrega compulsiva de armamento está alimentando um mercado negro no qual é possível adquirir um sistema antitanque norte-americano Javelin por cerca de 30 mil dólares, quando apenas o míssil custa 170 mil dólares e o centro de controle mais 200 mil. Organizações criminosas de todo o tipo estão aproveitando a ocasião para conseguir uma ampla variedade de armas, e, suspeita-se, que não apenas portáteis. A possibilidade de que sejam utilizadas com finalidade criminosa em qualquer parte do mundo são aterradoras, se se pensa, por exemplo, que foram entregues mísseis costeiros antinavio que ninguém sabe onde foram parar.
Diante de tal panorama, os líderes ocidentais não conseguem imaginar nada melhor que enviar armas ainda mais potentes. Assim, na terça-feira, 14 de junho, o subsecretário de Defesa para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Colin Kahl, informou que o país fornecerá à Ucrânia mísseis guiados pesados, com alcance de 70 km, para uso nos lançadores múltiplos de foguete HIMARS. Segundo Kahl, o sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade será entregue com foguetes guiados GMLRS.
Com esse equipamento militar, não se exige um consumo massivo de munição, uma vez que se trata de um sistema de alta precisão e potência, cuja efetividade é comparável ao “efeito de um ataque aéreo”. Assim, a Ucrânia poderia fazer ataques profundos ao território russo, atingindo objetivos civis, ainda que sejam inúteis no que se trata dos militares, porque há bastante tempo as forças aliadas (Rússia e milícias das Repúblicas Populares) evitam as grandes concentrações e utilizam pequenas unidades móveis.
Nesse contexto, não é de estranhar que o professor de Relações Internacionais da Universidade Macalester, em Minnesota, Andrew Latham, tenha chegado à conclusão de que “a Ucrânia não pode vencer”. O resultado dessa guerra não pode ser uma Ucrânia independente. É óbvio que a parte oriental ficará para a Rússia; e a ocidental, sob a influência da Polônia. Andrew Latham qualifica esse cenário como uma vitória incondicional do Kremlin, porque uma das principais tarefas da Operação Militar Especial era impedir a expansão da OTAN. A fragmentação da Ucrânia a excluiria da esfera de influência da Aliança Atlântica.
A essa altura da guerra vão ficando claras as respectivas estratégias da OTAN e da Rússia. Ambas se dividem em dois campos: o econômico e o militar. A aposta da OTAN foi a de empurrar a guerra até Moscou, utilizando como anzol a Ucrânia, para quem deu todas as garantias de que interviria em seu apoio para derrotar a Rússia.
No campo militar, planejou-se inundar a Ucrânia com armas antitanque e antiaéreas portáteis, de diferentes alcances e, já se prevendo a falta de ânimo de resistência da maioria do povo ucraniano, produzir um sistema de guerrilhas, sustentado pela Aliança Atlântica, introduzindo mercenários sob o disfarce de voluntários. A resistência popular que a propaganda ocidental inventou simplesmente não existe. No Donbass, a população recebe os russos e chechenos como libertadores, enquanto nas regiões mais ocidentalizadas foi preciso proibir a saída dos homens em idade de combater; e agora são as mulheres que começam a ser convocadas.
No plano econômico, a situação tampouco é melhor para a Aliança Atlântica. Ela não conseguiu conquistar o apoio diplomático esperado, a ponto do ex-premier italiano Silvio Berlusconi dizer publicamente que apenas 25% do mundo se coligou contra a Rússia. Moscou compensou rapidamente as sanções ocidentais, reorientando suas exportações para outros mercados. De qualquer modo, metade dos membros da União Europeia continua comprando gás da Rússia, pagando-o em rublos. Como não podem comprar petróleo diretamente, há países europeus que o adquirem de armadores gregos ou refinarias indianas – por preços muito mais caros, evidentemente.
Ao mesmo tempo, pelo fato de a Ucrânia ter minado o aceso aos seus portos do Mar Negro, a saída do trigo, que a Europa precisa, fica impedida. As distribuidoras de alimentos e energia estão aproveitando a conjuntura para aumentar os preços. Em economias desprovidas de mecanismos de ajuste, taxas de inflação em torno de 7% anual arruínam populações inteiras que já viviam à beira da pobreza. No hemisfério norte, o verão está a ponto de começar. Vamos ver de que maneira os europeus reagem quando o frio venha a se somar à fome.
A Ucrânia saiu de moda. Até os “sócios estrangeiros” estão cansados dela. Assim o disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante uma roda de imprensa no dia 7 de junho. Esse “cansaço” dos líderes ocidentais tornou-se mais do que evidente no entrechoque verbal que o presidente norte-americano teve no fim de semana passado com membros do governo ucraniano. Em uma escapulida da Cúpula das Américas, Joe Biden esteve na sexta-feira, dia 10, em Los Angeles para um jantar com patrocinadores de campanha do Partido Democrata. Perguntado sobre o desencadeamento da guerra, o mandatário contou que o presidente da Ucrânia “não queria ouvir” as advertências sobre a invasão russa. Biden disse que “não havia dúvidas” de que Vladimir Putin vinha planejando “entrar”, mas Volodymyr Zelensky ignorou as advertências norte-americanas.
O porta-voz da presidência ucraniana, Serhiy Nykyforov, reagiu com extremo enfado às declarações de Joe Biden. Segundo ele, seu presidente havia pedido, em repetidas ocasiões, aos sócios internacionais que impusessem sanções de forma preventiva, para obrigar a Rússia a retirar as tropas estacionadas na fronteira com a Ucrânia. “E aqui podemos já dizer que nossos sócios não quiseram nos escutar”, afirmou.
As declarações do chefe da Casa Branca são no mínimo ambíguas: ele queria dizer que sabiam que Vladimir Putin invadiria a Ucrânia de qualquer maneira e que Volodynyr Zelensky não os escutou? E nesse caso, caberia a pergunta sobre o quê teriam lhe aconselhado: negociar ou iniciar de sua parte uma guerra preventiva? E por que continuaram patrocinando o mandatário ucraniano, se ele é tão negligente e obcecado? No sentido contrário, se o presidente quis dizer que Zelensky deveria ter negociado para impedir a invasão, por que não o pressionaram nos últimos quatro meses para que negociasse?
Parece faltar ainda muito para que Rússia e Ucrânia cheguem a negociar. A experiência e o senso comum dizem que quem tem a chance de vencer uma guerra, persiste nela até alcançar algum dos seus objetivos, mas que, quem sabe que não pode vencer, busca um cessar fogo, ao menos para ganhar tempo. No entanto, a liderança ucraniana continua enviando para a frente de batalha milhares de recrutas sem treinamento e, a pesar das queixas de Kiev pelo apoio insuficiente que recebe, os governos ocidentais continuam enviando-lhe armas, treina suas tropas e manda mercenários.
“A OTAN busca que a Ucrânia pague o menor preço possível pela paz quando se sente à mesa de negociações com a Rússia”, afirmou no domingo passado (dia 12) o secretário geral do bloco militar, Jens Stoltenberg, numa visita à Finlândia. “Nosso apoio militar é um método para reforçar suas posições na mesa de negociações quando aí se sentem para conseguir um acordo de paz. Tomara que seja logo” – indicou. Essa não parece uma alternativa realista, uma vez que, enquanto a Ucrânia se negue a negociar, a Rússia continuará sua ofensiva e seu contendedor estará cada vez mais fraco. Portanto, terá menos poder no momento de negociar. Jens Stoltenberg dá a impressão de não saber aonde quer chegar e, assim, continua automaticamente mandando armas, para justificar sua cegueira.
Para essa falta de clareza sobre os objetivos ocidentais contribuem poderosamente também os sinais contraditórios que o governo norte-americano emite. Enquanto Joe Biden, veterano da Guerra Fria, insiste em advertir que, se a Rússia utilizar armas nucleares tácticas para decidir a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos responderão com a mesma moeda, membros do Conselho de Segurança Nacional declaram oficiosamente à mídia que “talvez as respostas convencionais adequadas sejam suficientes”.
A clareza, consequência e coerência das mensagens que os líderes das principais potências enviam é condição indispensável para a paz mundial. Tanto aliados como adversários precisam conhecer o rumo da (ainda suposta) maior superpotência, para poder organizar de forma racional sua atuação. A previsibilidade é um ingrediente essencial para o restabelecimento da paz mundial. Nos Estados Unidos, no entanto, não fica claro quem estabelece a linha do governo nem quais seriam seus objetivos.
A derrota da Ucrânia é inelutável, e o envio de armas ocidentais só prolonga a guerra às custas de mais vidas e de uma maior destruição da economia ucraniana. Um conflito desses só pode ser resolvido com diálogo e cedendo o necessário para chegar a garantir a segurança da Rússia e a sobrevivência da Ucrânia, mesmo que em dimensões reduzidas.
Num momento tão perigoso deveria haver no Ocidente uma liderança firme e unificada que desse à Rússia sinais claros e segurança de que o que for acordado será efetivamente cumprido. Mas não é esse o caso. A extrema oligarquização do capitalismo norte-americano e a subordinação do Estado aos interesses de umas quantas corporações e pessoas corroeram a autoridade presidencial. A essa condição estrutural é preciso acrescentar a debilidade física e neurológica do presidente. Dessa maneira, cada fração no governo ou na Aliança segue seu próprio jogo. Apenas um ou outro aparelho burocrático, como o Pentágono, tem consciência dos limites que não se pode passar. Ninguém em Washington ou Bruxelas tem poder para fixar objetivos claros e acordados, cada um joga seu jogo, e todos o fazem automaticamente.
Na guerra que se trava na Ucrânia, o Ocidente não tem objetivos alcançáveis, e se limita a prolongar o conflito, enviando armas na vã esperança de melhorar a posição ucraniana em uma negociação vindoura. O problema é que, enviando equipamento sem clara orientação política, o risco é de que os dirigentes em Kiev queiram aumentar a aposta como se fossem donos da banca e, atacando a Rússia, provoquem sua reação contra os fornecedores das armas. Enquanto os líderes da OTAN não cessarem de enviar armas e não impuserem a seus aliados em Kiev uma negociação séria, o risco de uma extensão e ampliação da guerra vai se manter alto. Roguemos para que a razão volte ao Ocidente.
*Eduardo J. Vior, sociólogo e jornalista, é professor do Departamento de Filosofia da Universidad de Buenos Aires (UBA).
Tradução: Ricardo Cavalcanti-Schiel.
Publicado originalmente na Agencia Télam.
Nota do tradutor
[1] Essas estimativas parecem indicar a média para um período muito extenso. Para a situação mais recente, as estimativas de perdas são bem maiores: o líder da bancada do partido “Servo do Povo”, do presidente Volodymyr Zelensky, na Rada ucraniana (Congresso), David Arahamiya, afirmou na última semana que, apenas no Donbass, a Ucrânia está perdendo até 1.000 militares por dia, dos quais 200 a 500 são mortos.