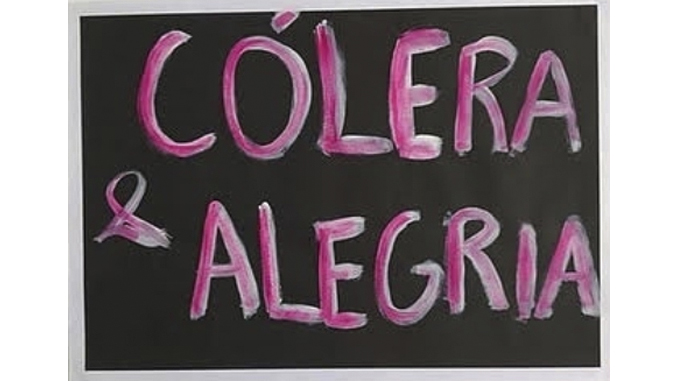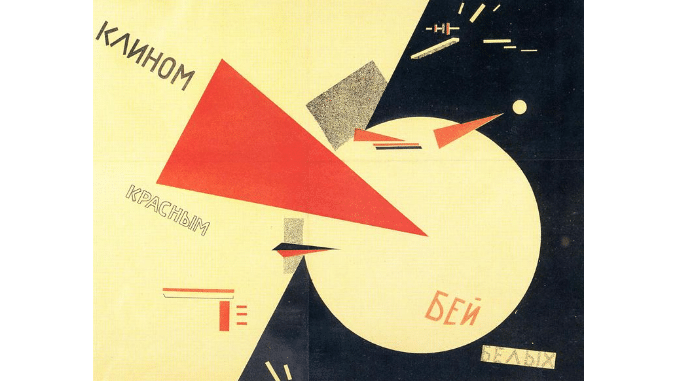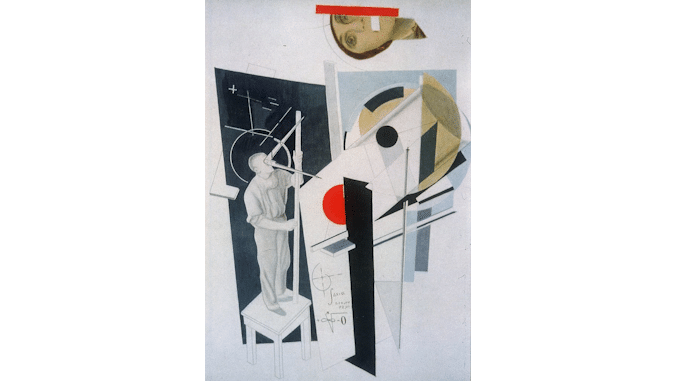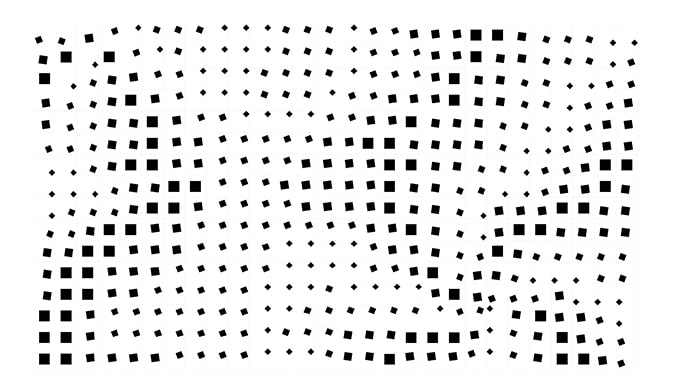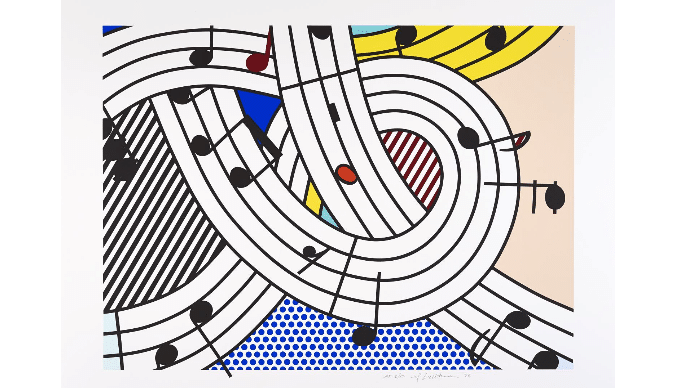Por FÁBIO KERCHE e MARJORIE MARONA*
As formas de indicação do Procurador Geral da República e os dilemas inerentes a cada uma delas.
A atuação errática do Procurador Geral da República em face dos inquéritos que tramitam no STF, a levantar suspeitas sob a legalidade da conduta do Presidente da República e seus aliados mais próximos, tem reaquecido os debates, inclusive no Legislativo, acerca do papel do Ministério Público na cena política nacional.
Acostumados a um protagonismo de controle que alçou o MPF à condição de agência anticorrupção, procuradores da República voltam à carga, mobilizando-se pela alteração do modelo constitucional de indicação do PGR. O movimento não é novo e nem constitui, necessariamente, uma “frente de resistência democrática”, já que mais uma vez se organiza para reforçar uma corporação, aproveitando-se dos inegáveis excessos de Bolsonaro.
Como já tivemos oportunidade de argumentar, a posição do PGR é, sem dúvida, estratégica, no que concerne ao destino do governo Bolsonaro – como de resto em relação a qualquer governo. Caberá a Aras decidir se Bolsonaro deve ou não ser julgado pelas acusações de crimes comuns que pesam sobre o ex-capitão. A forma de indicação do PGR, sobre a qual recaem as propostas de emenda constitucional que tramitam no Congresso Nacional, é, de fato, elemento fundamental para compreender a atuação de Aras. O processo de escolha do PGR induz maior ou menor autonomia daquele que detém competência exclusiva para processar o presidente da República em relação aos interesses do Planalto.
Fernando Henrique Cardoso que, assim como Bolsonaro, ignorou as propostas vindas do Ministério Público, indicou sempre o mesmo procurador, ao longo de seus dois mandatos. Geraldo Brindeiro foi reconduzido quatro vezes ao cargo e entrou para a história como o “engavetador-geral da República” por arquivar denúncias contra o presidente e membros de seu gabinete.
Na direção contrária, Lula e Dilma indicaram para o cargo sempre o procurador mais votado pelos pares, respeitando a lista da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR). Não por acaso, os governos petistas, enfrentaram PGRs bastante agressivos na condução do Mensalão e da Operação Lava Jato. Michel Temer ainda observou a lista da ANPR, indicando, no entanto, Rachel Dodge, a segunda mais votada. E este movimento teve consequências. Por um lado, Dodge enfrentou certa resistência de seus subordinados; por outro, oscilou na relação com o Planalto. Enquanto nutria esperanças de ser reconduzida por Bolsonaro, recém eleito, manteve uma atuação mais contida em relação ao ex-capitão, mas uma vez preterida, passou a ser uma “combativa” PGR.
Aliás, o mesmo episódio que hoje atrai a atenção dos procuradores e coloca em marcha o lobby pela constitucionalização das eleições internas para indicação de PGR, explicita uma atuação marcadamente estratégica e corporativa. Trata-se do inquérito sigiloso 4781, instaurado, de officio, pelo presidente do STF, Dias Toffoli, para, originalmente, apurar ameaças, ofensas e fakenews disparadas contra os integrantes do Supremo e seus familiares.
De partida, a iniciativa sofreu oposição da então PGR, Raquel Dodge, que determinou – sem sucesso – o arquivamento do inquérito, sob alegação de que o procedimento reabilitava aspectos do antigo sistema penal inquisitório, quando os juízes acumulam poderes de investigação, acusação e julgamento. Note-se que, naquele ponto, o inquérito não envolvia interesses do Planalto e avançava, ao contrário, sobre procuradores da Lava Jato que, supostamente, atacavam ministros do STF.
Dodge estava bastante confortável, portanto, para resguardar a posição institucional que o Ministério Público havia avançado sob o enquadramento constitucional do modelo acusatório. Este, como se sabe, é baseado na divisão das tarefas básicas que constituem a justiça criminal, resguardando à Polícia a investigação, ao Ministério Público a acusação e reduzindo a atuação do Judiciário ao julgamento. Aliás, havia ali uma oportunidade política para a chefe do Ministério Público de restabelecer as boas relações com as suas bases, minimizando os atritos que havia colecionado pela posição contrária ao fundo criado pela Lava Jato em Curitiba para gerir R$ 2,5 bilhões em multas pagas pela Petrobrás nos Estados Unidos e também pela resistência à regulamentação imediata da Gratificação por Exercício Cumulativo de Ofício (Geco) logo após os procuradores perderem o auxílio- moradia.
Aras, que sucedeu a Dodge sob uma nova gramática de fidelidade à presidência da República, expressa desde o princípio pelo fato de que sequer concorreu à eleição interna realizada por seus pares, mudou de postura em relação às investigações, manifestando-se favoravelmente, em um primeiro momento, quando ainda não atingiam articuladores e apoiadores de Bolsonaro. Apenas recentemente se opôs. Mas é interessante notar que o fez mobilizando argumentos muito semelhantes aos de Dodge, a exigir maior participação do PGR na condução da fase investigatória, em atenção ao princípio acusatório, consagrado na Constituição. Mas, desta vez, o movimento não foi interpretado pelos colegas como indicativo de adesão aos interesses da corporação. Ao contrário, foi imediatamente identificado com a excessiva submissão aos interesses do governo, gerando esforços de retomada da autonomia do Ministério Público, por meio da alteração do modelo de indicação do PGR.
O dilema entre independência e lealdade ao governo não é uma exclusividade brasileira e as respostas podem variar. Tendo enfrentado situações deste tipo, os Estados Unidos, por exemplo, já oscilaram entre modelos de alta e baixa autonomia, em face dos escândalos envolvendo Nixon, Clinton e, mais recentemente, Trump. O último recuo no grau de autonomia do promotor designado deve-se à percepção da classe política de que um ator excessivamente independente e discricionário pode tornar-se disfuncional em um sistema presidencialista baseado na previsibilidade e estabilidade.
No caso brasileiro, seria mais oportuno discutirmos a questão baseados não somente na conjuntura da administração Bolsonaro. É certo que todos os desenhos institucionais geram incentivos para certos comportamentos e desestimulam outros. Mas, ao mesmo tempo, reformas podem provocar efeitos não previstos e até indesejáveis. A lista tríplice, que agrega os projetos no Congresso, incentiva a autonomia em relação ao presidente, mas amplia a dimensão da discricionaridade da atuação de atores não eleitos que, aliás, prestam poucas contas de suas ações. De uma certa perspectiva democrática, esse seria um problema.
Ademais, a presença de um ator praticamente inimputável, com liberdade quase irrestrita para acusar o presidente da República e políticos de alto escalão, pode gerar crises desnecessárias. Fica-se a depender sobremaneira da dimensão ética individual. Foi o que perceberam os democratas e republicanos nos Estados Unidos, voltando a estabelecer constrangimentos institucionais à atuação do promotor ad hoc.
Ainda é possível argumentar que se os senadores fiscalizassem e exercessem o seu poder de veto, o PGR teria que levar em conta outros atores para balizar sua atuação, tendendo a complexificar-se o sistema de controle sobre sua performance. A discussão é, portanto, mais intricada do que se aparenta. E mais: não é possível supor que o movimento atual dos procuradores, em reação à atuação de Aras, represente um sopro democrático. Neste sentido, parece bastante esclarecedor o fato de que os movimentos e argumentos de Dodge e Aras – ambos no sentido de travar o inquérito das fakenews sob a alegação de que atentam contra o princípio acusatório – tenham gerado reações diversas de seus colegas.
Em comum parece haver uma preocupação do Ministério Público de resguardar sua posição institucional, pela manutenção de sua irrestrita autonomia e discricionariedade. Com Dodge, inseridos em um modelo que garantia autonomia do Ministério Público em relação ao Planalto, focavam na manutenção do espaço conquistado em face do próprio Judiciário, acusando um vício de origem do inquérito das fakenews, que não contara com a sua participação no momento seminal. Com Aras, alteram-se os parâmetros, já que estamos diante de um cenário que pode, de fato, induzir redução da autonomia do Ministério Público em face dos interesses do Planalto. Daí que a situação se apresenta como uma janela de oportunidade para que, mais uma vez, o Ministério Público avance suas pretensões corporativistas.
Vale dizer que a mobilização recente do Ministério Público colocou em alerta também a Polícia Federal, que tem pretensões de solicitar o mesmo procedimento para o cargo de diretor-geral. Aliás, alguém conhece algum órgão que defenda menos autonomia e maior interferência externa?
É de se esperar que diante de uma conjuntura asfixiante, para se dizer o mínimo, muitos estejam dispostos a lançar mão de qualquer expediente para abreviá-la. Mas o Brasil não termina com o fim da era Bolsonaro. Pena que temos que trocar o pneu com o carro em movimento. Ainda mais quando o veículo está desgovernado.
*Fábio Kerche é pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, professor permanente do Programa do Pós-Graduação da Unirio e colaborador do IESP/UERJ.
*Marjorie Marona é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFMG. Pesquisadora do Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação (INCT/IDDC).