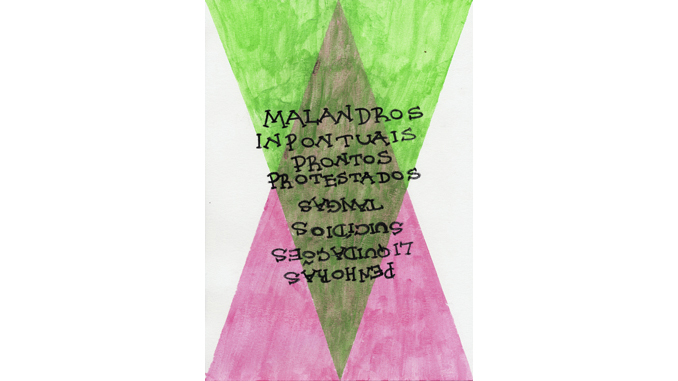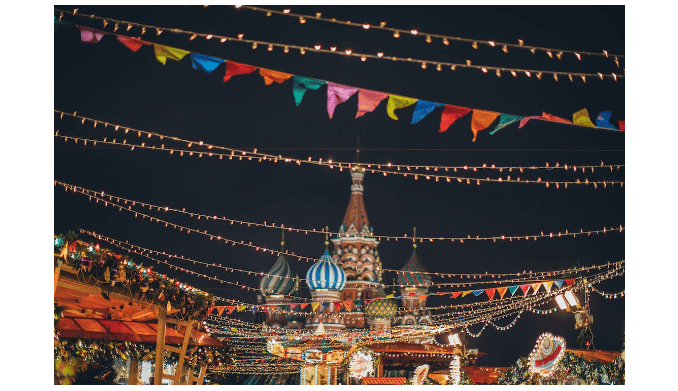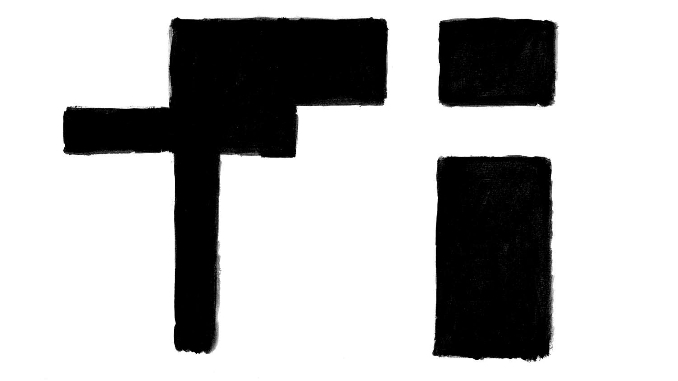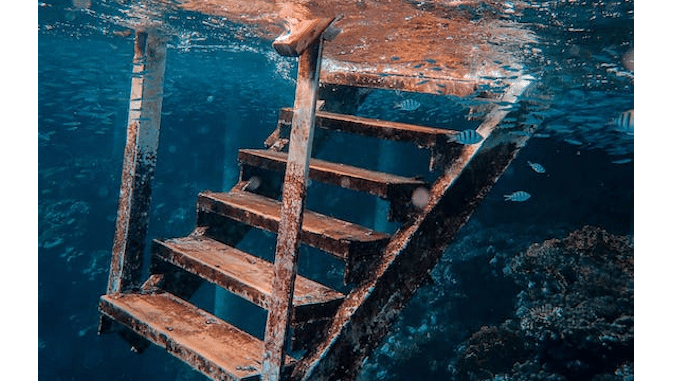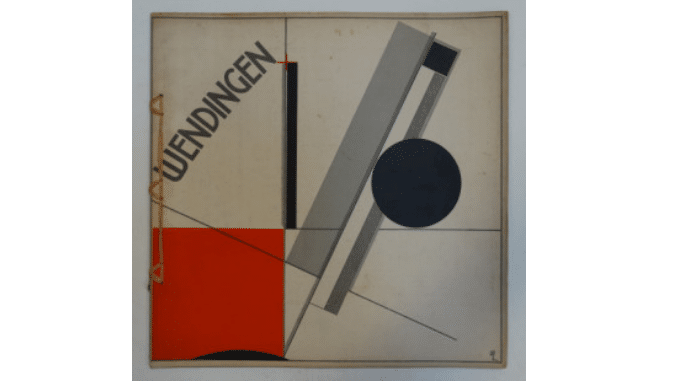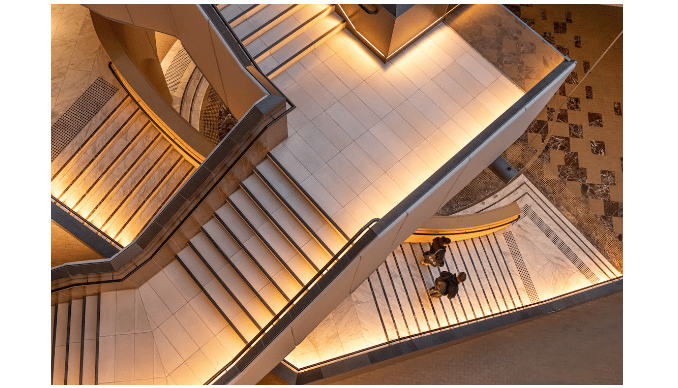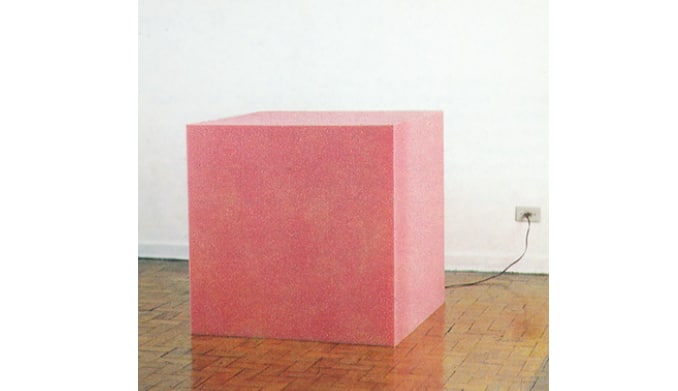Por SALETE DE ALMEIDA CARA*
Considerações sobre algumas narrativas atuais
China Miéville – militante político, acadêmico e autor de romances de ficção científica – escreveu em 2004 o conto “Tis the season” (“Esta é a temporada”), publicado originalmente na Socialist Review, na tradução em português “Um conto de Natal”,[i] uma distopia política que se passa no centro de Londres num dia de Natal. O narrador do conto caminha pelas ruas, agoniado e perplexo ao deparar com grandes manifestações pela cidade naquele dia, justo quando acabara de ganhar, meio por acaso, um “premiozinho bacana” que lhe dava o direito de participar de uma festa natalina legalizada, promovida pela principal empresa controladora das comemorações, a NatividadeCo.
E, ainda por cima, na famosa loja multinacional de brinquedos Hamleys na Regent Street. “Coisa mais extraordinária”, ele exclama. E se tudo não corre exatamente como tinha imaginado, o “enredo” do conto, que dá voltas em torno de si mesmo, se encerra com um (digamos) comovente e redentor “milagre de Natal” que, no final das contas, permite ao narrador a grata oportunidade de uma “revelação surpreendente” sobre si mesmo (“percebi como eu me sentia diferente agora do que naquela manhã”).
O fato é que as festividades do Natal, com a inestimável contribuição do aparato policial do poder público, estão privatizadas: das “renas e bonecos de neve” ao direito de usar papel colorido, cantar canções natalinas, montar e colocar presentes sob a árvore de Natal, comer pudim e fatias de peru, fazer cumprimento comemorativo erguendo as sobrancelhas “sem dizer nada ilegal”. Mesmo que a ilegalidade corra solta nas mutretas dos motoristas de ônibus e as autoridades tirem suas casquinhas, driblando as proibições ditas legais. De modo que, para quem (como o narrador) não tem condições financeiras, não quer “um Natal de pobre” com a filha (“se você não pode ter tudo, qual é o sentido?”) nem se valer de empresas que vendem produtos de segunda em substituição aos “clássicos privatizados” (“Jamais esquecerei o fracasso que foi a reação do público à Lagartixa Natalina da JingleMas”), a comemoração na Hamleys promete muito.
As referências espaciais do conto são reconhecíveis – as ruas de Londres, a loja de brinquedos – como o são também as variadas posições políticas dos grupos com os quais o narrador depara na ruidosa multidão de uma manifestação que reivindica, a princípio, algo de caráter geral: a liberdade de comemorar o Natal sem interferências privadas. Uma das bandeiras, “Muçulmanos pelo Natal”, chega a sugerir seu alcance mundial. Mas o que mostra de fato o conto sobre um não-acontecimento, quando indignações explodem pelas ruas, mas apenas o palavreado é o que se tem como pretenso combate?
Decerto o leitor deste breve resumo já sabe estar diante de uma narrativa satírica e farsesca. O conto poderia armar conjunto com o romance A cidade & A cidade, de 2009, do mesmo China Miéville, que mescla ficção científica e gênero policial, pois neles a imaginação ficcional formalmente mediada dá a ver uma relação social e política pouco auspiciosa entre um presente e um futuro de datas indeterminadas.
Como se sabe, o tópico dos gêneros literários acompanhou historicamente os ideais de melhoramentos modernos e progresso cultural, carregando hegemonias e preconceitos de classe em cada tempo e lugar. Nessas narrativas de China Miéville, no entanto, voltadas para o exame crítico da matéria contemporânea (ela mesma “um tipo de ficção”),[ii] a escolha do gênero como material tem outra feição, enquanto mediação entre assuntos (experiência e matéria) e conteúdos históricos (temas e formas literárias), para usar a noção adorniana de material como parte do assunto. No caso que aqui interessa, o assunto do conto tem potencialidade épica – a tomada do espaço público pelas manifestações de grupos políticos no centro de Londres, onde pipocam reivindicações de todo tipo, mas não à toa ele é tratado na chave da farsa, sem que se perca aquela potencialidade. Isso porque apesar de beirar o caricato, o assunto evoca justamente o seu contrário, isto é, aquilo que a situação não chega a ser. O horizonte seria aqui o de um “ainda-não possível”, categoria com a qual Miéville trabalha nos seus ensaios sobre ficção científica? [iii]
O narrador poderia ser considerado a única personagem do conto, contanto que se levasse em conta que, na sua construção, não há qualquer interesse pela constituição de uma subjetividade e tampouco por relações que dariam a ver as contradições de um processo histórico – nessa narrativa, uma esplêndida anomia de divergências sem conflitos efetivos. Ou seja, um desconcerto cujo desfecho – esse sim – é propositalmente caricato. O narrador construído pela estratégia autoral como recurso que dá forma à matéria, rapidamente introduzido, por ele mesmo, como pirracento com a ex-mulher, ingênuo em relação à filha assídua nas redes sociais, empolgado com a comemoração natalina, é o encarregado de comentar e descrever as cenas que viu e as situações que viveu, sempre aturdido com o que se passa. Não se trata de estabelecer juízo moral, mas de configurar uma vivência de desencontros generalizados, contando com a própria disposição do narrador de tocar sua vidinha dentro da legalidade e com a reparação irônica de um “milagre de Natal” no desfecho.
É possível dizer ainda que tanto o leitor aludido no próprio texto, quanto o leitor que, fora dele, cumpre seu papel numa confortável poltrona são, ambos, um pressuposto objetivo da matéria. O leitor é convocado pelo narrador como parte do que é exposto e implicado de algum modo (que cabe a ele mesmo decidir) no seu andamento. No que é mais evidente, a narrativa constrói o leitor (pelo sim e pelo não) na medida do narrador, que parece ora não saber com quem está lidando, ora acreditar que não existe quem não divida com ele a mesma situação (e do mesmo modo), oscilando por isso entre tom alusivo e direto. “Podem me chamar de infantiloide, mas eu adoro toda essa bobajada, a neve, as árvores, os enfeites, o peru. Adoro presentes. Adoro canções natalinas e músicas bregas. Eu simplesmente adoro o Natal.” Ou então: “Não me entendam mal. Eu não tenho ações da NatividadeCo, e nem condições de pagar uma licença de usuário para um dia, então não poderia fazer uma festa legalizada”. E em tom direto (“Você sabe como é esse tipo de coisa”) se dirige a alguém que bem pode reconhecer o que significa ganhar um “premiozinho bacana”, participar de uma festa natalina na Hamleys, contornar com malabarismos os riscos das ilegalidades, estando sempre sob ameaça das pesadas multas impostas a quem infringe crimes tipificados como “Presenteamento Subarbóreo Grave”. Ainda que os inspetores, que “não são tão maus”, façam às vezes “vista grossa”.
Parece (ou é mesmo) impossível elaborar uma paráfrase produtiva que se descole inteiramente das falas do narrador. Como comentá-las, sem reproduzi-las? Como reproduzi-las e comentá-las? Se assim for, o estranhamento crítico que o conto provoca no leitor está encravado, enquanto desafio, na própria forma de uma narrativa na qual as ideias (incluindo as do narrador) se amontoam umas ao lado de outras e se comportam em estado de mercadoria, levando para o ralo os vínculos – débitos ou críticas – com o processo social que os conforma e confirma. [iv] Miéville aposta que tudo isso possa instigar, no leitor, uma elaboração da experiência e um “escrutínio reflexivo” sobre as construções ruinosas do presente (objetivas e subjetivas) como problema: o de sua movimentada inércia. [v] Retomar algumas passagens do conto dará um quadro mais vivo de como se desfaz uma imaginação já congelada.
Trocando alhos por bugalhos ao ver a empolgação da filha na internet (“até onde eu pude acompanhar”), curiosíssimo com o presente que ela lhe dará, feliz pelo bilhete premiado e por manter-se na legalidade permitida, o narrador corre pelas ruas de Londres temendo perder a festa (“de repente percebi que íamos chegar atrasados. Isso foi um choque”). Ao chegar na Oxford Street fica impressionado com a multidão (“todos com aquela expressão secreta de felicidade. Eu também não podia evitar sorrir”) até se dar conta de que ela se ergue contra o controle “legal” das comemorações natalinas. Espremido na massa, se alarma com uma fantasia (“Só de olhar saquei que ele [o fantasiado] não tinha licença”), se assusta com as cantorias de “canções ilegais” dos “natalinos radicais” que não ouvia há muito tempo (“Vocês estão loucos?”), corre em pânico atrás da filha (“A coisa estava ficando muito bolchevique. Estava virando uma baderna natalina”), caminha indiciando que o peso dos tempos está concentrado nos limites da sua própria ansiedade (“Foram séculos abrindo caminho, ansioso, através da manifestação”). Mas reconhece: “não que eles [os manifestantes] não tivessem boa intenção, mas aquilo não era jeito de conseguir as coisas. A polícia ia chegar ali a qualquer momento (…) Mesmo assim, havia que admitir que sua criatividade era admirável”. As pessoas quebravam as vitrines, mas – e ele admira o gesto – para substituir os produtos à venda por aqueles que estavam proibidos.
Sem entender a profusão de cartazes (“De onde haviam saído todas aquelas bandeiras?”), nem os slogans (“flutuavam sobre a minha cabeça como destroços de um navio”), os enumera. “Pela paz, socialismo e Natal”; “tirem as mãos da nossa temporada de festas”; ‘‘privatizem isto”; “amigos trabalhistas do natal”. o “Instituto de ideias marxistas vivas. Por Que Não Estamos Marchando” reavalia a oposição esquerda x direita (“Vemos com desdém as tentativas patéticas da velha Esquerda de reviver esta cerimônia Cristã”), pede abertura para “forças dinâmicas revigorarem a sociedade”, propõe ciclo de conferências contra a chatice das greves e afirma que “a caça à raposa é o nosso pretinho básico” (“O texto me pareceu sem pé nem cabeça. Joguei fora”). O narrador passa ainda por cristãos carregando cruzes; por “gente malvestida” entregando panfletos e foto de Marx com chapéu de Papai Noel, cantando “e mal” um “Eu sonho com um Natal vermelho”; pelas “natalinas feministas radicais” sNOwMEN (“reconheci do noticiário”); pelo representante dos “Pequenos Ajudantes de Papai Noel” convocando os que medem até 1.55m para quebra-quebra; pelos Red & White Blocs já ensaiando a quebradeira (“Maldita ‘estratégia’ de tensão do caralho. Bando de aventureiros anarquistas”, diz a filha; “metade deles são agentes da polícia (…) Aquele que quer mais violência é o policial”, diz um garoto ) e contra os quais o Esquadrão da Natividade ensaia bater com seus “cassetetes em escudos enfeitados com guirlandas”. Um “helicóptero de combate” ameaça com ordem de prisão a quem violar a lei do Código de Natal, e por aí vai. No caminho, lá estava a Hamleys e a festa, com “rostos horrorizados nas janelas” (“Eu devia estar lá em cima, pensei. Com vocês”).
A certa altura ele escuta o canto de um homem de branco (“Eu nunca tinha visto alguém tão lindo. Ele cantou uma única nota, de uma pureza que não era deste mundo”), ao qual se juntam companheiros do “Partido Cantor Radical dos Homens Gays”, todos louvando o nascimento do Salvador (“Havia uma autoridade implacável nessas figuras incríveis que haviam aparecido do nada, aqueles rapazes altos, belos, e tão jovens”). A polícia deposita os cassetetes, sorrindo e chorando, retira os fones de ouvidos e se livra dos “gritos frenéticos” dos chefes (“Eu podia escutar os gritos”). Alguém do Partido fala aos já tranqüilos Red&White blocs sobre a hora exata do enfrentamento e, confessando orgulho “de lutar pelo Natal do Povo!”, o Partido investe junto com a multidão contra a polícia, que foge – ironia sarcástica da estratégia autoral. Um “milagre de Natal”, diz a filha, desde sempre ciente do movimento e ao lado do amigo com o cartaz “Muçulmanos pelo Natal”, retribuição muito particular a todo “esse pessoal” pela ajuda contra a privatização do Eid (celebração muçulmana do fim do jejum do Ramadã).
“Eu estava boquiaberto, minha cabeça indo de um para o outro, como um imbecil assistindo a uma partida de tênis”. Na Downing Street, a casa do primeiro-ministro exibe, essa sim, uma Árvore de Natal protegida pelo Exército, e o narrador observa com aprovação que, por isso, “as pessoas fizeram questão de garantir que as vaias eram bem-humoradas”, mas já ousando gritar com elas “isso aqui é que é o Natal”! Dando a festa por perdida, ele e a filha cantam com um grupo de “bandanas vermelhas” (“Já faz tempo que eu pedi/Mas o meu Papai Noel não vem/ Com certeza já morreu/ E a Internacional/É tudo o que a gente tem”). Ao fim disso tudo, o deslumbramento consigo mesmo confirma a cacofonia geral daquela desajustada energia política que gira em falso (uma totalidade épica negativa, num conto?). “Pensei em tudo o que havia acontecido naquele dia. Tudo pelo qual eu havia passado e visto e integrado. Percebi como eu me sentia diferente agora do que naquela manhã. Era uma reação surpreendente”, confessa, antes de hesitar, novamente feliz, sobre qual seria o presente da filha – afinal, uma gravata. “Você adivinhou? Merda”.
O leitor do conto bem poderia pensar sobre as condições de possibilidade da invenção de uma política – mas de qual política exatamente? – no mundo contemporâneo.[vi] Aquilo deu nisso? E o que poderá vir daí? Não será demais dizer que ”Um conto de Natal” reacende o interesse pelos modos como as narrativas ficcionais têm sido capazes (ou não) de responder à arapuca armada com a dissociação entre esfera pública e reflexão e ao horror objetivo da pretensa normalidade civilizada na qual estamos todos metidos.[vii]
No ensaio já referido, China Miéville assinala que as modalidades do fantástico, nem sempre bem compreendidas por “certo elitismo de esquerda” (indisposta também com os caminhos imprevisíveis dos sonhos), são um “bom recurso para auxiliar o pensamento” ou são, mesmo, “formas necessárias para pensar o mundo” (ao que ainda acrescenta: “e para transformá-lo”), destacando a “atitude do próprio texto para o tipo de estranhamento sendo executado”. O que dizem essas narrativas, sobre o que fazem pensar?
Na contramão desse conto, e que por isso mesmo também pode fazer pensar, um bom exemplo é o recente romance histórico da escritora canadense-americana Rivka Galchen, Everyone knows your mother is a witch (2021), objeto de um artigo de Ryan Ruby, “Back to present” (2021).[viii] Em entrevista, a escritora afirma seu desejo de fugir do presente pandêmico, do seu país e do próprio século, confirmando as referências indiretas no romance ao seu desgosto com a figura de Trump e apoio às lutas do movimento Me too. O passado do romance histórico é o século XVII, entre 1615 e 1620, quando a mãe do astrônomo, astrólogo e cientista Johannes Kepler foi acusada de bruxaria na cidade alemã de Leonberg; o futuro é anunciado pela ficção científica Somnium, incluída no desfecho do romance, escrita pelo próprio Kepler e publicada em 1634, entendida por Galchen como “profecia” (em Somnium a vida na Lua, narrada por um demônio convocado pela mãe bruxa da personagem, aprendiz de cientista, tem temperaturas absurdas e é povoada por estranhas figuras).
Everyone knows your mother is a witch destaca a condição da sra. Kepler como mulher, viúva, idosa, camponesa, analfabeta, além de preconceituosamente estigmatizada e excluída da comunidade em que vivia. E assim justifica a opção de privilegiar certa convenção dramática a fim de conferir à personagem o papel de “testemunho mais verdadeiro”. A estratégia de pendor pós-moderno que transplanta questões identitárias do presente para o passado é um dos traços formais que resultam em baixa densidade das questões propostas pela narrativa. Ryan Ruby identifica aí o paradoxo central do romance histórico contemporâneo (pelo menos na cultura anglófona, supõe): “imperativo moral” de dar voz aos marginalizados sociais (que “falem de, por e por si mesmas”) e agudo ceticismo em relação à capacidade da linguagem de representá-los, num impasse que explicaria a tendência em alta da prosa de memórias e da auto-ficção. Outra questão estaria no modo como se dá a presença da ficção científica no romance histórico. Segundo Ryan Ruby, uma escolha “de viajar no tempo” como “nostalgia confortável e anseio pelo que perdemos com o progresso” (perda constatada no tempo presente). Ou seja: “Galden permitiu que os leitores escapassem para um mundo no qual, apesar de todas as suas desvantagens, as pessoas poderiam dizer acreditar e esperar pelo futuro. O problema, claro, é que o que o futuro produz somos nós”.
No desfecho, Somnium é vendido na feira de Frankfurt pela viúva de Johannes Kepler ao lado de um manuscrito que conta a acusação e o julgamento de sua mãe, da lavra do seu principal interlocutor no romance. Embora o manuscrito trate de um “presente terrível e dramático”, não atrai qualquer interesse de compra dos seus contemporâneos. O episódio reafirma, portanto, os termos de uma avaliação melancólica e queixosa da voz autoral em relação ao tempo presente e, se for possível dizer assim, o conforto de um “presente nostálgico” implica mesmo uma ausência do presente como objeto de reflexão. No limite uma desistência, a despeito da militância feminista da autora e de sua posição política? Um ouktópos como recusa de desencavar o horror objetivo do presente? [ix]
Fica a pergunta: como tratar o presente, voltar ao passado ou imaginar o futuro em cada canto do mundo, como responder ao andamento da catástrofe geral “iminente ou consumada” de guerra tecnológica, domínio dos espaços, poder dos interesses econômicos, terror e barbárie sob o manto da legalidade? Para Franco Moretti, a nova configuração do poder “na invasão de novas esferas de vida ou mesmo na sua criação, como no universo paralelo das finanças”, inaugurada na “era heroica“ de 1830 expôs às claras, com as barricadas de 1848, a sociedade antagônica do ódio social de classe, com resultados na própria configuração do realismo literário. [x] Numa comparação de Perry Anderson entre Guerra e Paz (escrito entre 1863 e 1867) e Khadji-Murát (supostamente escrito entre 1896 e 1904) de Tolstói, a construção de um espaço político numa “colisão trágica de mundos não sincrônicos” em Khadi-Murát teria dado numa “narrativa tão moderna quanto a carnificina da Tchetchênia hoje”.[xi] É que enquanto o realismo “histórico” de Guerra e paz, a despeito de suas qualidades literárias, se assenta numa construção melodramática, caricata e ideológica das figuras históricas, o que se vê em Khadji-Murát [xii] é “tensão impassível e lacônica, já próxima de Babel ou Hemingway”, numa prosa que apreende o “contraste entre os mundos do imperialismo russo, girando em espiral de acampamentos militares na fronteira a quartéis-generais em Tiflis, até chegar ao próprio imperador em São Petersburgo, e – do outro lado – a resistência clânica e religiosa dos tchetchenos e avaros, com suas próprias divisões internas”.
Tentando dar conta daquela alusão – “uma narrativa tão moderna como a carnificina da Tchetchênia hoje” – implicando representação dos conflitos com senso forte da história, ela faz pensar mais uma vez na configuração possível da experiência em narrativas atuais. O que o romance de Tolstói deixa implícito para o leitor de hoje talvez sejam justamente os nós de uma larga costura no tempo: os acontecimentos dos anos de 1850, o processo sangrento de anexação colonial russa de mais de dois séculos, a exploração de poços e refinarias de petróleo na bacia do Mar Cáspio em 1876, a reconfiguração dos interesses estratégicos da geopolítica pós Guerra Fria, a proposta da OTAN de uma solidariedade militar global em 2001 (reforçando a máquina de guerra do nosso horizonte). Lembro que o texto de Perry Anderson é de 2004.
“É que simplesmente, por assim dizer, um tempo histórico de fato ultrapassado retorna à ativa reestruturando o campo contemporâneo com um vigor tal a ponto desmentir as mais arraigadas convicções acerca da história como um continuum inteligível no seu processo cumulativo. Seria então o caso de sair à procura da constelação que nosso próprio tempo estaria formando com um nó histórico não desatado em outros tempos de uma longa onda nos anais da dominação social?” pergunta provocativamente Paulo Arantes em 2011.[xiii] Com a palavra o leitor de “Um conto de Natal”, escrito em 2004, para começar uma conversa sobre a “temporada” que nos é dada viver (“Tis the Season” é seu título original). O que fazemos e sobre o que pensamos (ou não) enquanto nela mergulhamos de corpo e alma, estranhamente confiantes ou integrados, frustrados, nostálgicos ou críticos, menos ou mais atabalhoadamente perplexos?
*Salete de Almeida Cara é professora sênior da área de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa (FFLCH-USP). Autora, entre outros livros, de Marx, Zola e a Prosa Realista (Ateliê Editorial).
Notas
[i] O conto foi traduzido por Fábio Fernandez para o caderno “Ilustríssima” da Folha de São Paulo em 2014 e republicado pela Boitempo Editorial em 2018.
[ii] A expressão é de Terry Eagleton, em texto sobre Mimesis, de Erich Auerbach. “Postmodernism takes off when we come to realise that realilty itself is now a kind of fiction, a matter of image, virtual wealth, fabricated personalities, media-driven events, political spetaculars and the spin-doctors as artist. Instead of art reflecting life, life has aligned itself with art.” Cf. “Pork Chops and Pineapples”, in London Review of Books, volume 25, número 20, outubro de 2003,
[iii] China Miéville afirma que tanto as melhores fantasias “enquanto gênero”, quanto a “fantasia que permeia a cultura aparentemente não fantástica” se relacionam, a seu modo, ao “‘absurdo’ da modernidade capitalista” e às formas da “peculiar natureza da realidade social e da subjetividade modernas”, e que na construção ficcional de um “real” como “totalidade internamente coerente mas efetivamente impossível – para a narrativa em questão, verdade”, “o ainda-não possível está embutido na vida cotidiana e faz o mundano e o real fecundos com potencial fantástico” (sem que a referência ao cotidiano seja obrigatória na ficção científica). Cf. “Editorial Introduction”, in Revista Historical Materialism, dossiê Marxism and Fantasy, v. 10. n. 4, 2002, traduzido em versão reduzida por Kim Doria (“Marxismo e fantasia”) in Revista Margem Esquerda número 23, Boitempo Editorial.
[iv] “Sob o capitalismo, as relações sociais cotidianas – a ‘forma fantasmagórica’ – são os sonhos, as idéias (ou as “minhocas”), das narrativas que reinam.” Cf. China Miéville, “Marxismo e fantasia”, ob.cit., p. 109.
[v] Ao tratar da relação entre Kafka e o leitor, Günther Anders observa: “se para o leitor, porém, não fica claro de onde e em que grau de vinculação ele é solicitado – se deve ser entretido, informado, impelido ao sonho, amedrontado, moralmente edificado ou escandalizado – isso o perturba profundamente”. Cf. Günther Anders, Kafka: Pró e Contra, São Paulo: Editora Perspectiva, 1969, p. 13. Cf. Theodor Adorno, “Posição do narrador no romance contemporâneo”, in Notas de Literatura I, tradução Jorge de Almeida. São Paulo: Duas Cidades/Editora 34, 2003, p. 61- 63.
[vi] Uma boa indicação de leitura é o livro de Kristin Ross, L”imaginaire de la Commune, traduzido do inglês por Étienne Dobenesque, Paris: La Fabrique Éditions, 2015. E de Paulo Arantes, ensaio de 2014, “Depois de junho a paz será total”, in O novo tempo do mundo, ob. cit., pp 353-460.
[vii] “A reinvenção liberal do estado de sítio como figura constitucional da irrupção do poder soberano de exceção é rigorosamente contemporânea do processo não menos coercitivo de conversão da força de trabalho em mercadoria”. (…) O desajuste intrínseco da relação de valor converteu-a numa prisão: novamente, a base material de todo o edifício securitário da sociedade de controle. (…) Mas atenção: a fuga dessa prisão ampliada não é a insurgência nos moldes clássicos, mas o paroxismo da convulsão social por falta de ponto de fuga. Daí o céu de chumbo do estado de sítio que pesa sobre o planeta”. Cf. Paulo Arantes, “Tempos de exceção”, in O novo tempo do mundo: Boitempo Editorial, 2014, pp. 318-321.
[viii] Cf. New Left Review Blog (Side Car), 06 de julho de 2021.
[ix] Fredric Jameson lembra, em texto de 1982, que a crise do romance histórico clássico, em meados do século XIX, é contemporânea do surgimento da ficção científica de Jules Verne e H.G. Wells, que “registra certa percepção nascente de futuro precisamente naquele espaço em que uma percepção do passado estava outrora inscrita”. O ponto de crise já estaria dado em O romance histórico (1936- 1937), pois Lukács compreendeu a própria historicidade do gênero num Walter Scott situado entre o atraso da sociedade escocesa e a temporalidade progressista capitalista – ”historicismo em seu sentido peculiarmente moderno” no fim do século XVIII e começo do XIX. Na leitura de Jameson, “em sua forma (pós)contemporânea, essa substituição do histórico pelo nostálgico, essa volatilização daquilo que outrora foi um passado nacional no momento do surgimento dos Estados-nações e do próprio nacionalismo certamente caminha lado a lado com o desaparecimento da historicidade na sociedade de consumo atual, com sua rápida exaustão midiática dos acontecimentos de ontem e das estrelas de antes de ontem (Quem foi Hitler, afinal? Quem foi Kennedy? Quem, por fim, foi Nixon?).” Cf. Fredric Jameson, Arqueologias do futuro. Belo Horizonte: Autêntica, 2021, pp. 441-444.
[x] Cf. Franco Moretti, O burguês (entre a história e a literatura), tradução de Alexandre Morales. São Paulo: Três Estrelas, 2013, p. 95.
[xi] Cf. “Trajetos de uma forma literária”, tradução de Milton Ohata, in Revista Novos Estudos Cebrap, número 77. 2007, cit., pp. 209-211. O texto de Perry Anderson foi uma conferência, proferida em 2004, em resposta à intervenção de Fredric Jameson em simpósio na Universidade da Califórnia, e sua publicação em 2011 (“From Progress to Catastrophe”, na New Left Review of Books) é referida por Ryan Ruby para retomar a pergunta sobre o sentido da difusão do romance histórico no pós-modernismo.
[xii] Sobre esse trabalho de Tolstói de toda uma vida (ele foi oficial de artilharia na guerra de 1851 a 1853), sempre julgando sua narrativa como inacabada, e indo do projeto inicial de contar a história na forma de romance até chegar à forma narrativa que seria classificado como “romance curto” ou “novela”, cf. Boris Schnaiderman, prefácio a Khadji-Murát. São Paulo: Editora Cultrix, 1986.
[xiii] Cf. Paulo Arantes, “Alarme de incêndio no gueto francês: uma introdução à era da emergência”, in ”O novo tempo do mundo, ob. cit., p. 252, 254, 255.