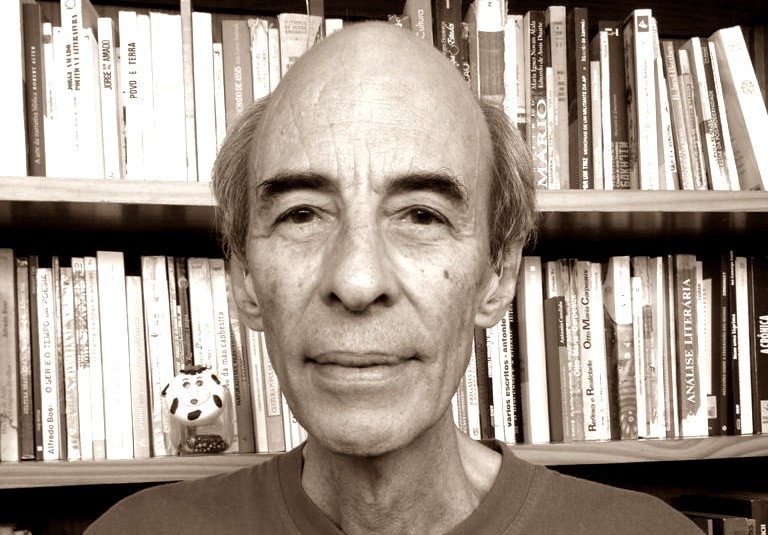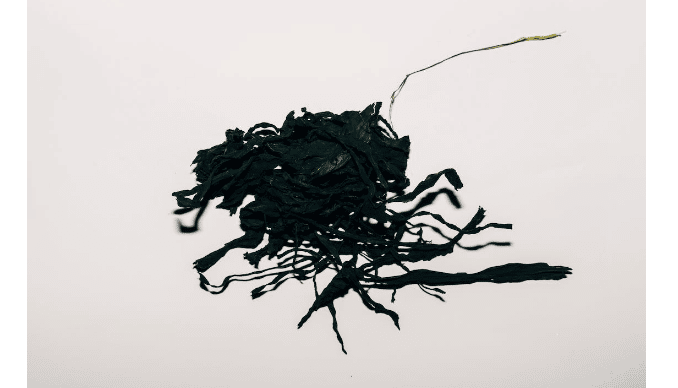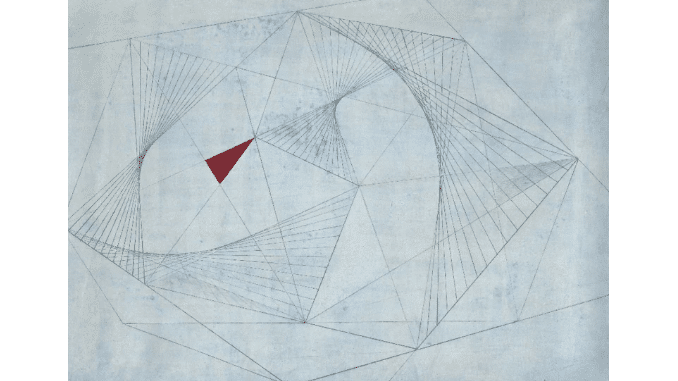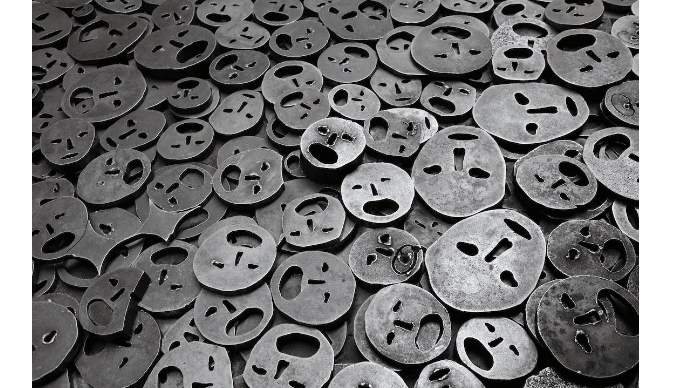Dialética e revolução em Gramsci
Por CELSO FREDERICO*
A filosofia da práxis busca afastar-se tanto do materialismo vulgar como do idealismo
A revolução de 1917, interrompendo a crença na linearidade de uma história conduzida pelo desenvolvimento mecânico das forças produtivas, colocou na ordem do dia a reflexão sobre a dialética dentro e fora da Rússia. Hegel, enfim, deixava de ser tratado como um “cachorro morto”, como disse Marx, mas a sua influência sobre o materialismo histórico era uma questão que permanecia e ainda hoje permanece aberta.
“Materialismo dialético” é expressão recorrente que procura apontar as conexões de Marx com Hegel. Mas, qual dos dois termos deve ter prioridade? Questão semelhante, anteriormente, havia dividido o hegelianismo.
Hegel foi cuidadoso e calculadamente ambíguo ao nomear a sua dialética de “dialética idealista-objetiva”, unindo, assim, Ideia e matéria, subjetividade e objetividade, o racional e o real. E, como o pensamento para Hegel é objetivo e real, as relações entre ser e pensamento permanecem embaralhadas. Em sua obra há momentos de extremo idealismo em que a realidade é derivada do pensamento; em outros, contrariamente, as categorias geradas pelo pensamento expressam aquilo que já está dado previamente na realidade (é o caso da segunda parte da Ciência da lógica, “A doutrina da essência”, que tanto entusiasmou o Lênin dos Cadernos filosóficos). Lukács, outro entusiasta daquele texto, apegou-se a ele para elogiar a “verdadeira” ontologia de Hegel, a materialista, e separá-la da “falsa”, a idealista.
Os discípulos de Hegel, entretanto, procuraram enfatizar um ou outro dos termos que o mestre pretendera unir.
De um lado, a chamada “direita hegeliana” apegou-se ao idealismo e à prioridade do sistema sobre o método: com isso, tomaram como referência a Filosofia do direito, a obra mais conservadora de Hegel, na qual a monarquia, segundo sua interpretação, era glorificada como o momento supremo da racionalidade. Assim fazendo, estabeleciam um limite à dialética que não deveria mais pretender ir além do existente: o real é racional.
De outro lado, a “esquerda hegeliana”, afirmava com veemência a prioridade do método (a dialética) e de seu movimento ininterrupto que conduz a continua negação do presente: o racional é real, mas a monarquia, numa Europa sacudida pela revolução francesa, tornara-se um anacronismo, algo irracional. A realização da racionalidade, portanto, exige a derrocada do regime monárquico, pois este ainda não é o racional, mas apenas o empírico, momento a ser ultrapassado.
Hegel, antecipando-se a essas interpretações, tinha consciência do caráter enigmático de sua formulação: “O poeta Heine, que foi aluno de Hegel na Universidade de Berlim, assegurava que o velho filósofo forçava a obscuridade das exposições que fazia em suas aulas, porque temia as consequências de suas ideias revolucionárias, caso elas fossem compreendidas. Heine conta que uma vez interpelou o professor, após uma das aulas, irritado com aquilo que considerava “conservador” na equivalência hegeliana do real e do racional. Segundo ele, Hegel lhe observou, então, com um sorriso: “E se o Sr. lesse a frase assim: o que é real deve ser racional…?”(KONDER: 1979, p. 10).
Gramsci constatou que o marxismo herdou a tensão entre os dois termos que Hegel pretendera manter unidos. Numa passagem, observou: “Os continuadores de Hegel destruíram esta unidade, e se retornou aos sistemas materialistas, por um lado, e aos espiritualistas, por outro (…). O dilaceramento ocorrido com o hegelianismo se repetiu com a filosofia da práxis, isto é, da unidade dialética se voltou ao materialismo filosófico, ao passo que a alta cultura moderna idealista tentou incorporar da filosofia da práxis aquilo que lhe era indispensável para encontrar algum novo elixir” (Quaderni del carcere III, 1861, doravante Q).
Muitas vezes, o apego ao materialismo exclui a dialética, como atesta Materialismo e empirocriticismo de Lênin, nos tempos em que ele combatia a influência das ideias irracionalistas no interior do partido, mas sem ainda ter estudado a Ciência da lógica de Hegel ou, então, mais recentemente, como ocorre entre os discípulos de Della Volpe.
Por outro lado, a ênfase unilateral na dialética faz dela uma dialética meramente conceitual que desconsidera a materialidade do real. O Lukács de História e consciência de classe, por exemplo, excluiu de sua teoria a natureza e, com ela, a mediação material que permitia o intercâmbio entre os homens e a natureza: o trabalho. Consequentemente, a fratura entre ser e pensamento só poderia encontrar solução quando a classe operária, vista como um “pensador coletivo”, chegar ao poder, transformando-se, assim, num sujeito-objeto idêntico. Esta unidade, em Hegel, só se concretizaria no longínquo momento da realização do Espírito Absoluto, depois de atravessar uma longa odisseia. Em Lukács, a revolução russa como prenúncio da revolução mundial já anunciava a reconciliação. Evidentemente, esse desvario idealista contrastava com a dura realidade da construção do socialismo na Rússia. Trotski, em 1928, lembrou que Lukács tentou ir além do materialismo histórico: “Arriscou-se a anunciar que, com o início da revolução de Outubro, que representava o salto do reino da necessidade ao reino da liberdade, o materialismo histórico havia deixado de existir e havia deixado de responder às necessidades da era da revolução proletária. Não obstante, rimos muito com Lênin desse descobrimento, que, para dizer moderadamente, era, pelo menos, prematuro”. (Trotski: s/d, p. 3).
Gramsci, por sua vez, tentou afastar-se tanto do materialismo vulgar quanto do idealismo. A filosofia da práxis, entendida como historicismo absoluto, pretendia a superação/conservação das duas tendências numa síntese harmoniosa. Mas, a influência crociana acompanhou para sempre o nosso autor. Em sua crítica ao Tratado de materialismo histórico de Bukhárin e ao texto apresentado por aquele autor no Congresso de História da Ciência e da Tecnologia, realizado em Londres em 1931, Gramsci fez o seguinte comentário sobre a questão da objetividade do conhecimento: “É evidente que, para a filosofia da práxis, a “matéria” não deve ser entendida nem no significado que resulta das ciências naturais (física, química, mecânica, etc., e estes significados devem ser registrados e estudados em seu desenvolvimento histórico), nem nos significados que resultam das diversas metafísicas materialistas. As diversas propriedades físicas (químicas, mecânicas, etc.) da matéria, que em seu conjunto constituem a própria matéria (…), devem ser consideradas, mas só na medida em que se tornam “elemento econômico produtivo”. A matéria, portanto, não deve ser considerada como tal, mas como social e historicamente organizada pela produção e, desta forma, a ciência natural deve ser considerada essencialmente como uma categoria histórica, uma relação humana” (Cadernos do cárcere, 1, 160, doravante CC). Trata-se aqui de uma visão antropocêntrica que insiste em afirmar a não existência de uma objetividade em si, “extra-histórica” e “extra-humana”. Quem julgará essa objetividade, perguntou Gramsci?
A interminável tensão entre materialismo e idealismo coloca-se assim para Gramsci. Quem julga a objetividade? A questão parece situar o nosso autor ao lado dos céticos que acusavam os materialistas de dogmáticos por afirmarem a existência de algo que não podem provar. Para Gramsci, a crença na objetividade do mundo real remonta à religião e ao criacionismo: o universo foi criado por Deus e se apresenta aos homens desde sempre como algo acabado. Em direção oposta, o Lênin de Materialismo e empirocriticismo afirmara a semelhança entre o marxismo e o bom senso do “realismo ingênuo”, que intuitivamente percebia a independência do mundo exterior em relação à nossa consciência, com a concepção dos cientistas.
A divergência aponta caminhos diferentes nas relações sujeito-objeto. Em Lênin, o conhecimento é um reflexo da realidade; em Gramsci, o conhecimento da realidade é condicionado à história e ao ponto de vista do homem: o “conceito de objetivo da filosofia materialista vulgar parece querer significar uma objetividade superior ao homem que poderia ser conhecida mesmo fora do homem (…). Conhecemos a realidade apenas em relação ao homem e, como o homem é um devir histórico, também o conhecimento e a realidade são um devir, também a objetividade é um devir, etc.” (CC, 1, 134). Ou ainda: “Objetivo significa sempre “humanamente objetivo” (…). O homem conhece objetivamente na medida em que o conhecimento é real para todo o gênero humano historicamente unificado em um sistema cultural unificado” (idem).
Gramsci, portanto, coloca-se numa perspectiva antropocêntrica que condiciona a objetividade do real à esfera subjetiva, ao conhecimento compartilhado “por todo o gênero humano”, “por todos os homens, isto é, por todos os homens que possam ver e sentir do mesmo modo” (Q, I, 466).
Como era de se esperar, tal concepção gerou muitas críticas. Os adversários do historicismo e da dialética, como por exemplo, Lucio Coletti, acusaram o caráter anticientífico de um pensamento que pretende submeter a natureza à história, fazendo assim do conhecimento histórico o modelo exclusivo da ciência. Gramsci, portanto, permaneceu preso à tradição idealista do historicismo italiano, pois considera a natureza como uma categoria social, histórica. Orlando Tombosi, competente discípulo brasileiro da escola dellavolpiana, observou esse alheamento em relação à natureza para quem se pretende materialista. A natureza nunca aparece em Gramsci “como limite, dura alteridade, mas como possibilidade ilimitada”: “na tradição italiana, historicismo significa sobretudo uma concepção da História – fundamentalmente de derivação hegeliana – que afirma a historicidade de todo o real, reduzindo, em consequência, todo conhecimento a conhecimento histórico. Trata-se (…) da posição croceana, indissociável do seu idealismo, que nega o caráter cognoscitivo das Ciências da Natureza – estas são apenas pragmáticas e utilitárias” (TOMBOSI: 1999, p. 24).
A consagração do marxismo como historicismo se fez acompanhar de uma finalidade política: Gramsci foi instrumentalizado por Togliatti e pela direção do PCI para defender a estratégia da “democracia progressiva” – a transição democrática ao socialismo através do consenso, do “compromisso histórico” entre partidos e segmentos sociais heterogêneos.
O mais importante dos discípulos de Gramsci no Brasil, Carlos Nelson Coutinho, afinado com a orientação política de Togliatti, não deixou de assinalar os traços idealistas de Gramsci (COUTINHO: 1999, p. 60-62). A influência crociana no pensamento de Gramsci levou-o a constatar a negação de um tipo específico de conhecimento, o científico, identificado sem mais como ideologia. A identificação entre o conhecimento nas ciências naturais e no marxismo é errônea. O marxismo é uma ciência, e quando transformado em guia para a ação (= ideologia), não perde o seu caráter científico. Não distinguir os dois tipos de conhecimento leva a uma visão antropocêntrica que reduz o conhecimento à expressão da subjetividade, a uma “relação humana”. A equivalência entre objetivação histórico-social e objetivação natural, por sua vez, identifica também as duas modalidades de consciência correspondentes: antropocêntrica (própria das ciências humanas) e a desantropomorfizadora (aquela das ciências naturais), diz Coutinho apoiando-se na divisão estabelecida pelo Lukács da Estética.
A atmosfera cultural da Itália marcada pela crítica dos herdeiros de Hegel ao positivismo e pelo seu maior expoente, Croce, acompanhou para sempre Gramsci, o que ajuda a explicar algumas passagens dos Cadernos do cárcere com inegáveis “incrustações” idealistas (para voltarmos contra Gramsci a expressão que usou para criticar os traços “positivistas” em Marx). O papel da natureza nas anotações carcerárias, contudo, conserva certa ambiguidade, como atestam as referências críticas a Lukács (que a expulsou de sua teorização) e das ambíguas referências ao Engels da Dialética da natureza (responsabilizado pelos desvios de Bukhárin).
O marxismo em construção de Gramsci gestou, ao lado dessas poucas digressões gnosiológicas, uma vigorosa teoria política que é, de fato, o que realmente interessa nas anotações carcerárias. Nas páginas seguintes analisaremos a presença do historicismo e sua influência na teoria revolucionária, confrontando suas posições teóricas e políticas com Althusser e Adorno.
Contradição e transição
Em seu confronto com Croce, Gramsci negou a existência pleiteada pelo filósofo de uma dialética dos distintos, pois a considerava expressão de um pensamento conservador que se apropriava de conceitos do materialismo histórico para, assim, subordiná-lo a uma filosofia idealista adepta da “revolução passiva”. Mas, não negava a coexistência da contradição com os distintos – “não existem só os opostos, mas também os distintos” (CC 1, 384). Suas análises políticas são cuidadosas nesse ponto, sempre visando a apontar a teia de interesses sociais que se fazem presentes nas diversas e mutáveis conjunturas políticas – interesses nem sempre antagônicos o que, por sua vez, torna imprescindível e complexo o trabalho político para a formação da hegemonia. A relação entre contradição e distinção, contudo, não é tema pacífico entre os autores marxistas, pois contém desdobramentos teóricos e políticos importantes.
Althusser, por exemplo, criticou o conceito hegeliano de “negação da negação” por entender que ele pressupõe um movimento linear, sem rupturas, da história vista como um processo de superação-conservação. No lugar dessa visão diacrônica, afirmou o caráter complexo da vida social que não se resume na crença de uma contradição simples, mas num acúmulo de contradições que coexistem espacialmente, obedecem a uma hierarquia, e à sobredeterminação em última instância da economia.
Dessa forma, substituiu a análise histórica pela sincrônica, substituição que teve como referência o texto de Mao Tsé-Tung, Sobre a contradição, texto que inovou o léxico marxiano ao acrescentar novos termos: o caráter universal e particular da contradição, contradição principal (forças produtivas/relações de produção) e contradição secundária, aspecto principal e secundário da contradição, contradições antagônicas e não antagônicas etc.
A “tradução” das ideias de Mao no texto de Althusser, além de servir para a crítica do hegelianismo presente em autores marxistas, serviu também para reforçar sua concepção do modo de produção como um “todo complexo estruturado” em que as modificações na base econômica não modificam automaticamente a superestrutura, pois as várias instâncias que a compõem (jurídico-política, ideológica) possuem uma temporalidade própria.
A inflexão teórica de Althusser abriu caminho para o estudo de conjunturas políticas, como os realizados por Nicos Poulantzas em que a razão analítica se debruça sobre a realidade social, em sua sincronia, para identificar e classificar os interesses sociais em disputa. Além desses desdobramentos, as ideias de Althusser tiveram consequências políticas talvez não previstas pelo autor. A autonomização relativa das instâncias serviu como justificação teórica da luta ideológica travada pelas chamadas minorias, lutas muitas vezes desligadas das contradições materiais, ficando, assim, restritas e confinadas às demandas particularistas. Mas serviu também para alimentar a recusa frontal das instituições burguesas: o Estado, o direito, o mercado. O encontro com o maoísmo, nos conturbados anos 1960, alimentou essa visão ultra esquerdista que desprezava a participação na luta travada no interior das instituições em nome do ataque frontal ao Estado capitalista.
Mao Tsé-Tung, chamado a validar a interpretação althusseriana de Marx, também se insere entre os adversários da herança hegeliana no marxismo, representada, na China, pelos intelectuais do partido que replicavam as teses defendidas por Deborin na polêmica sobre a dialética na Rússia ocorrida nos anos 20. Aliando-se à Stalin, Mao acompanhou a crítica à herança historicista e hegeliana, entendendo a tese da “negação da negação” como conciliação dos contrários.
Contra o historicismo afirmou: “a escola de Deborin sustenta que a contradição aparece não no começo de um processo, mas somente quando ele já se desenvolveu até certo estágio. (…). Essa escola não entende que cada uma e todas as diferenças já contêm a contradição e que a própria diferença é contradição”.
Essa hipertrofia de uma contradição, existente desde sempre, que não se desenvolve a partir da fragmentação de uma unidade gerando a diferença e, finalmente, a oposição, tem como objetivo negar o caráter “positivo”, “apaziguador”, da síntese. A tese não é superada/conservada na síntese, mas destruída, como atesta este espantoso comentário: “O que é a síntese? Todos vocês presenciaram como os dois contrários, o Kuomitang e o Partido Comunista, foram sintetizados no campo. A síntese ocorreu assim: os exércitos deles vieram, e nós os devoramos, pedaço a pedaço (…). O peixe grande comendo o peixe pequeno, isto é síntese. (…). Por sua parte, Yang Hsien acredita que dois combinam em um, e que a síntese é o laço indissolúvel dos contrários. Que laços indissolúveis existem nesse mundo? As coisas podem estar ligadas, mas no final elas acabam por ser separadas. Nada existe que não possa ser cortado” (MAO: 2008, pp. 222 e 224).
A separação inevitável das coisas, a onipresença da luta dos contrários, em seu permanente moto-contínuo, desconhece a possibilidade da síntese. A Revolução cultural, a tentativa de se fazer uma revolução dentro da revolução, portanto, da revolução um processo sem fim, exemplifica bem os resultados políticos do “mau-infinito” da contradição, da voragem autofágica cujo resultado foi a desarticulação da vida econômica prenunciando o fim do socialismo real.
No plano teórico, a negação do terceiro momento, a síntese, sugere uma surpreendente aproximação com a “dialética negativa” de Adorno. Em suas aulas, Adorno afirmou que “a palavra síntese me resulta extremamente desagradável” sentindo por ela verdadeira “aversão” (ADORNO: 2013, p. 107). O conceito de síntese encarnava para Adorno a odiosa “identidade” que a sua dialética negativa pretendia criticar. Tal recusa, evidentemente, não estava a serviço de uma revolução sem fim, mas da necessidade de manter o espírito crítico distante da “reconciliação com a realidade”, com a “positividade” de um mundo irremediavelmente alienado.
Se “o poder está na ponta do fuzil”, como dizia Mao, em Gramsci o Estado capitalista não se mantém somente pela coerção, mas também pelo consenso. Por isso, a luta pressupõe a construção da hegemonia. Estamos aqui diante de duas situações diferentes: na primeira, “oriental”, ocorreu uma guerra de movimento, mas na segunda, “ocidental”, deve vigorar a guerra de posição. No “Ocidente”, a estratégia “oriental” é representada pela teoria da “revolução permanente” de Trotski, considerado por Gramsci “o teórico político do ataque frontal num período em que este é apenas causa de derrotas” (CC, 3, 255).
Diferenças à parte, nas duas estratégias a luta dos contrários está sempre presente, mas, segundo as cuidadosas referências históricas de Gramsci, ela pode conhecer diferentes desfechos. Além da irrupção revolucionária, existe a possibilidade de uma crise orgânica, uma situação em que “o velho morreu e o novo não pode nascer” (Gramsci utiliza a palavra morboso para caracterizá-la). Essa situação “patológica” é o resultado da perda do consenso pela classe dominante, isto é, ela deixou de ser é uma classe dirigente, tornando-se apenas dominante. Efetiva-se, nesse caso, um descompasso entre a estrutura e a superestrutura, em que esta se desenvolveu sem estar em consonância com a base material. (CC, 3, 184).
Outra possibilidade ocorre no cesarismo que “expressa uma situação na qual as forças em luta se equilibram de modo catastrófico, isto é, equilibram-se de tal forma que a continuação da luta só pode terminar com a destruição recíproca” (CC, 3, 76).
Pode, ainda, haver uma “síntese conservadora”, como ocorre na revolução passiva, em que as demandas da antítese são parcialmente incorporadas. Isso acontece como “reação das classes dominantes ao subversivismo esporádico, elementar, não orgânico, das massas populares, através de “restaurações” que acolheram certa parte das exigências que vinham de baixo; trata-se, portanto, de “restaurações progressistas” ou “revoluções-restaurações”, ou, ainda, “revoluções passivas” (CC, 1, 393).
Hegemonia: revolucionários e reformistas
Alguns intérpretes de Gramsci conferem centralidade ao conceito de bloco histórico que estaria presente no núcleo do pensamento de nosso autor. Outros, como Giuseppe Cospito, consideram-no um conceito deixado para trás na redação dos Cadernos do cárcere. Em sua atenta leitura, seguiu a periodização dos cadernos procurando acompanhar o “ritmo do pensamento” de Gramsci. Segundo sua interpretação, o conceito de bloco histórico foi sendo paulatinamente abandonado a partir de 1932, cedendo lugar a expressões alternativas que Gramsci passou a usar para nomear as relações entre a base e a superestrutura, expressões que, em curto período de tempo, cedem o lugar a outras: “quantidade e qualidade”, “conteúdo e forma”, “objetivo e subjetivo”, até chegar, finalmente, em “relações de força” (COSPITO: 2016) .
Cabe aqui uma observação. Gramsci utiliza a última expressão realizar “análise das situações”. Não se trata, portanto, de um conceito abstrato, mas de expressão empregada na análise de processos históricos determinados. Ele, a propósito, se pergunta se a realidade efetiva “é talvez algo estático e imóvel ou, ao contrário, uma relação de forças em contínuo movimento e mudança de equilíbrio?” (CC, 3, 35).
Segundo escreveu Carlos Nelson Coutinho no Dicionário gramsciano, é esse último o aspecto central a ser realçado, pois com ele Gramsci pôde fazer a transição do conceito da esfera teórica presente no “Prefácio de 1859” para a análise histórica, visando a realçar o papel da superestrutura: “o momento predominante da dinâmica das relações de força se encontra, assim, mais no nível político e ideológico, embora tenha base em determinações econômicas”.
No plano propriamente teórico, a expressão bloco histórico parece sintetizar os elementos que se tornaram “permanentes” e “estáveis” no pensamento gramsciano, além de manterem juntos os dois momentos básicos da realidade: a estrutura (bloco) e o processo (histórico). O rastreamento filológico de Cospito, útil para os “especialistas”, mais complica do que esclarece em seu movimento ininterrupto de apresentação e rápido descarte dos termos empregados por Gramsci num curtíssimo período de tempo.
Todo o esforço e todas as dificuldades encontradas por Gramsci são frutos de seu empenho anti-determinista para compreender as relações entre a base e a superestrutura a partir daquele texto esquemático de Marx. Não se trata evidentemente de um exercício de mera exegese: havia um condicionamento histórico que influenciava a reflexão de Gramsci. A saber: a nova relação que se firmava entre Estado e mercado na sociedade capitalista moderna. A pretendida separação entre aquelas duas esferas, divulgada pela concepção liberal do Estado guarda-noturno, minada já na primeira guerra mundial, encontrou sua verdade na grande crise de 1929. Gramsci viveu intensamente os debates em seu tempo, mostrando sempre que no novo momento histórico as relações entre Estado e mercado se entrelaçaram definitivamente. Seus textos sobre fascismo e americanismo estão centrados na presença crescente do Estado na atividade econômica. Esse fenômeno, entretanto, não significa que a economia como ciência perdeu o seu objeto, que não há mais crises econômicas e que o controle social se impõe a todos, sem resistência, como pretendem os teóricos frankfurteanos.
A leitura gramsciana do Prefácio de 1857 da Crítica da economia política, no novo período histórico, tinha uma clara orientação política: criticar o materialismo vulgar, o idealismo e os intérpretes marxistas que recorriam a Marx para justificar um reformismo progressivo que negava a possibilidade da insurreição antes que o capitalismo desenvolvesse plenamente as forças produtivas. Mas, para Gramsci, ao contrário dos marxistas que defendiam o ataque frontal ao Estado burguês, a elevação da “concepção do mundo” é pré-requisito para os subalternos disputarem a hegemonia e confrontarem a ideologia dominante. Esta disputa se realiza inicialmente no interior dos aparelhos hegemônicos.
E aqui entramos num controverso tema político. Gramsci concebeu o conceito de bloco histórico para tirar as relações entre a base e as superestruturas do determinismo, assim como na noção de Estado integral procurou superar a arbitrária separação entre Estado e sociedade civil. Desse modo, o Estado integral tornou-se o cenário da luta hegemônica. Não se trata mais da concepção restrita de Estado, como a de Althusser, pois nela não se disputa a hegemonia, mas luta-se para destruir o Estado burguês e todas as suas instituições.
No que diz respeito à sociedade civil, não se deve conceder a ela prioridade absoluta, como quer a interpretação liberal de Gramsci iniciada por Bobbio – aqui, de fato, o revolucionário sardo transforma-se num teórico das superestruturas e da hegemonia cultural como caminho para se obter a governança. A sociedade civil, nesse registro, é pensada como uma esfera separada do Estado e da base econômica, aproximando-se do que depois seria conhecido como “terceiro setor”.
Domenico Losurdo observou que para Gramsci, contrariamente, “também a sociedade civil é de algum modo Estado, no sentido de que também no seu interior podem ser exercidas formas terríveis de domínio e opressão (o despotismo da fábrica capitalista e até a escravidão), com relação às quais podem representar um contrapeso, ou um instrumento de luta, as instituições políticas, mesmo as burguesas” (LOSURDO: 2006, p.223).
A hegemonia, portanto, não deve ficar restrita ao plano cultural, como consenso obtido através da razão comunicativa e não pela força, pela insurreição revolucionária. Nessa linha insere-se Perry Anderson que afirma que a hegemonia não pode ser alcançada antes da tomada do poder e, por isso, defende a perspectiva insurrecional (Anderson: 1986).
Quando se fala em crítica ao “reformismo” nas interpretações de Gramsci, no Brasil, o alvo preferido é Carlos Nelson Coutinho que, a partir da dualidade Oriente-Ocidente, construiu uma refinada teoria que nega a transição ao socialismo através do “choque frontal com os aparelhos coercitivos de Estado, em rupturas revolucionárias entendidas como explosões violentas e concentradas num breve lapso de tempo”, em nome da conquista da hegemonia “no curso de uma difícil e prolongada “guerra de posições”. Esta “prolongada” guerra de posições no interior da sociedade civil pressupõe, segundo seus críticos, uma imagem idílica da sociedade civil formada por interesses não contraditórios aparentando uma pretensa universalidade. Além disso, o caráter complexo das instituições nela presentes apenas reforçaria o domínio exercido pelos aparelhos de hegemonia sobre os setores populares, impedindo, assim, o caminho da emancipação, como afirmar diversos autores (Cf. BIANCHI: 2008 e SCHLESENER: 2002).
Ditadas por escolhas políticas a priori, essa polêmica promete nunca ter fim. Parece-me, portanto, aconselhável voltar a Gramsci e assinalar o contexto histórico que determinou suas hesitações nunca definitivamente superadas.
Interpretação e superinterpretação
É ponto pacífico que a perspectiva abertamente insurrecional dos tempos do L´Ordine Nuovo sofreu um abrandamento nos Cadernos do cárcere, pois, afinal, a rebelião operária havia sido derrotada não só na Itália como também na Alemanha e na Hungria. Além disso, o capitalismo parecia estar numa fase de estabilidade. Nesse contexto, a Rússia revolucionária a duras penas procurava sobreviver. O projeto de extinção do Estado seria arquivado em nome do “socialismo em um só país”. Consequentemente, a perspectiva de uma iminente revolução mundial cedeu lugar às políticas da “frente popular” propostas pela Internacional Comunista. A drástica mudança de conjuntura coincidiu com o período mais criativo de Gramsci e dos novos conceitos urdidos em sua “oficina”: hegemonia, guerra de posição, revolução passiva etc.
Na luta entre Trotski e Stalin, Gramsci ficou com o segundo, embora afirmasse que as críticas lançadas contra Trotski eram “irresponsáveis”. A teoria da revolução permanente, contudo, lhe parecia uma perigosa elucubração intelectualista feita à revelia da história, pois em Marx e Engels ela se referia a 1848, um período conturbado da história francesa que se encerrou nos anos 70 com a derrota da Comuna de Paris e a expansão colonial europeia. A partir de então, ocorreram mudanças significativas como a consolidação do parlamentarismo, o fortalecimento do sindicalismo, a constituição dos partidos modernos – portanto, uma complexificação da sociedade civil com as consequentes mudanças em sua relação com o Estado. Sendo assim, a “guerra de movimento”, implícita na tese da revolução permanente, deveria ser substituída pela “guerra de posição” no interior da agora “robusta estrutura da sociedade civil” (CC, 3, 262). Homogeneizar momentos históricos diferentes (1848, 1905, 1917) lhe parecia um anacronismo. Além disso, significava também uma ameaça à sobrevivência do Estado soviético a pretensão aventureira de tentar exportar a revolução para a Europa. O desenvolvimento do processo revolucionário, segundo Gramsci, “é no sentido do internacionalismo, mas o ponto de partida é “nacional”, e é deste ponto de partida que se deve partir”. Na sequência, afirma a necessidade de “depurar o internacionalismo de todo elemento vago e puramente ideológico (em sentido pejorativo) para dar-lhe um conteúdo de política realista. O conceito de hegemonia é aquele em que se reúnem as exigências de caráter nacional e podemos compreender por que certas tendências não falam desse conceito ou apenas se referem a ele de passagem” (CC, 3, 314 e 315). Diferentemente de Lênin, que era “profundamente nacional e profundamente europeu”, Trotski, visto geralmente como um “ocidentalista”, era, para Gramsci, “um cosmopolita, isto é, superficialmente nacional e superficialmente ocidentalista ou europeu” (CC, 3, 261).
A transição ao socialismo foi sempre tema controverso. Marx foi lacônico a esse respeito. Especular sobre o futuro, em seu tempo, era tarefa realizada pelos utopistas; além disso, o utopismo opunha-se ao seu realismo dialético, sempre hostil às projeções arbitrárias.
Já o desenrolar do processo revolucionário na Rússia em nada se assemelhava com as teses defendidas por Lênin em O Estado e a revolução: a criação de um Estado-Comuna, “sem polícia, sem exército fixo, sem burocracia”. Um partido revolucionário, apoiado por uma classe operária minoritária num país ainda agrário, viu-se desamparado com o fracasso da esperada revolução na Europa e a guerra civil. A direção partidária adaptou-se à nova realidade, ensaiando a necessidade de se criar primeiramente um “capitalismo de Estado” para obter as condições materiais para a transição ao socialismo; em seguida, implantou o chamado “comunismo de guerra” para, finalmente, instituir a NEP (Nova Política Econômica). Evidentemente, essa última guinada foi interpretada pela “oposição operária” como uma traição. Mudança de rumos que teve como símbolo a brutal repressão aos marinheiros de Kronstadt.
A pretendida transição ao socialismo seguiu o seu curso através da política gradualista da NEP formulada por Bukhárin. Segundo Stephen Cohen, “No período de 1925-27, o bolchevismo oficial foi basicamente bukharinista; o partido seguia o caminho bukharinista para o socialismo”, caminho contestado pela oposição de esquerda que insistia no papel do Estado como incentivador da luta de classes. A necessidade de equilíbrio para o organismo social, tal como Bukhárin havia aprendido com a sociologia funcionalista, reapareceu como referencial teórico para promover a harmonia num tecido social traumatizado por tantas mudanças abruptas. O mais importante na nova orientação é o fato de o Estado a partir de agora deixar de ser primordialmente um “instrumento de repressão” para poder criar as condições necessárias à “colaboração” e à “unidade social”. Quanto ao terror, “seu tempo já passara” (COHEN: 1980, p.245 e 231).
Não foram somente Lênin e Bukhárin a mudarem de uma posição radical para uma moderada. Também Gramsci seguiu esse percurso. Em 28 de julho de 1917, escrevera com entusiasmo: “a revolução não para, não fecha o seu ciclo. Devora os seus homens, substitui um grupo por outro mais audacioso; e somente por causa dessa sua instabilidade, dessa sua perfeição jamais alcançada, é que se afirma verdadeiramente como revolução” (GRAMSCI: 2005, p. 105). Mas, em 14 de outubro de 1926, Gramsci redigiu uma carta em nome do Birô Político do partido italiano para o Comitê Central do Partido Comunista da URSS em sua XV Conferência. Nela, o entusiasmo cedeu lugar à preocupação com os possíveis desdobramentos da cisão do partido, tensionado pela oposição de esquerda (Trotski, Zinoviev, Kamenev). Gramsci afirmou que os três dirigentes “contribuíram poderosamente para nos educar para a revolução” e, por isso, “gostaríamos de estar seguros de que a maioria do Comitê Central do PC da URSS não pretende vencer de modo esmagador esta luta e está disposta a evitar medidas excessivas” (GRAMSCI: 2004, p. 392). O encarregado de transmitir a carta, Togliatti, houve por bem engavetá-la e o Congresso afastou os velhos bolcheviques, que tempos depois seriam executados.
Apesar das preocupações, Gramsci concordava com a orientação do partido ao adotar a NEP lembrando, a propósito, a semelhança com a Itália, onde a população rural era apoiada por uma igreja católica com dois mil anos de experiência em organização e propaganda. A oposição de esquerda, contrariamente, pregava a expropriação dos camponeses para financiar a industrialização do país.
Gramsci concordava ainda com a necessidade de obrigar a classe operária a fazer novos sacrifícios em nome da construção do socialismo e apontava a inaudita contradição: “jamais ocorreu na história que uma classe dominante, em seu conjunto, se visse em condições de vida inferiores a determinados elementos e extratos da classe dominada e submetida”. Aos operários, que fizeram a revolução, se exigia sacrificar os interesses classistas imediatos em nome dos interesses gerais e ouvir comentários demagógicos como “É você o dominante, ó operário mal vestido e mal alimentado, ou é dominante o nepman encasacado e que tem à sua disposição todos os bens da terra?”. Ou então: “Você lutou para que? Para ficar ainda mais arruinado e mais pobre?” (GRAMSCI: 2004, p. 384 e 392).
Todos os recuos teóricos de Gramsci, advindos da dura realidade, tiveram seu ponto de inflexão no VII e último congresso da IC. A aprovação do relatório apresentado por Dimitrov colocou em pauta dois temas centrais ao Gramsci dos Cadernos do cárcere: a questão nacional e a política de frente única.
Até então os bolcheviques pretendiam subordinar todos os partidos comunistas às diretrizes da Internacional Comunista (IC), concebido como um partido único dirigindo a revolução mundial (tal pretensão reaparecerá com a criação da IV Internacional). A questão nacional daí em diante obrigou os comunistas a olhar com atenção para a especificidade de seus países, deixando de lado os esquemas generalizadores exportados por Moscou. A defesa do Estado soviético havia gerado um profundo patriotismo que, de certo modo, se identificava com a construção do socialismo. Daí a consciência da necessidade de ir além daquela concepção abstrata e irrealista de internacionalismo proletário ainda presente em diversos setores que, simplesmente, ignoravam as identidades nacionais.
Empenhado em “traduzir” para a Itália a revolução de Outubro, Gramsci em vários momentos criticou a compreensão estreita do internacionalismo e, como estudioso de linguística, estava atento aos debates na Itália sobre a imposição de uma língua unificada e a sobrevivência dos dialetos, bem como às estreitas relações entre linguagem, cultura, concepção do mundo e hegemonia.
A política de frente única contra o fascismo deveria pôr fim momentaneamente à estratégia de classe contra classe e o seu correlato: fascismo ou revolução proletária. Gramsci passou, a seu modo, a defender a frente única como um período de transição necessário para derrotar o fascismo levantando a palavra de ordem da Constituinte, que, segundo Christinne Buci-Glucksmannm, pode ser interpretada como “o testamento político de Gramsci” concebido no momento em que elaborava os conceitos de hegemonia e guerra de posição. A defesa da Constituinte, evidentemente, é uma reivindicação democrática que pressupõe a aliança de classes contra o fascismo, uma pausa, portanto, na luta entre as classes sociais antagônicas.
A posição realista perante a necessidade de fortalecer o Estado soviético – a defesa da NEP e os interesses gerais do proletariado industrial contra os interesses classistas imediatos – assinala uma distância em relação aos textos escritos nos tempos em que Gramsci coordenava os conselhos de fábrica em Turim pregando a união entre operários e camponeses pobres. Mas, essa distância significa uma ruptura, uma mudança drástica de posição? Marcos del Roio afirma, contrariamente a Chirstinne Buci-Glucksmann, que a visão de Gramsci era diferente da de Dimitrov, e que houve apenas um progressivo refinamento na concepção de frente única iniciado em “Alguns temas da questão meridional”: “Aqui Gramsci lança uma noção mais ampla de aliança operário-camponesa, uma vez que, com a inclusão da questão da massa dos intelectuais se aproxima da formulação do bloco histórico, que implica problemas como a organização da produção e do Estado na transição, assim como a questão essencial da organização da esfera subjetiva, tema nuclear dos Cadernos do cárcere. Dessa maneira, a fórmula política da frente única encontra, com Gramsci, novas soluções e um aprofundamento teórico que a IC [Internacional Comunista], no seu conjunto, não conseguia contemplar” (DEL ROIO: 2019, p. 231).
Não há dúvida sobre a diferença em relação à IC, mas restringir o bloco histórico à aliança entre operários, camponeses e intelectuais não significa esvaziar o alcance da teoria da hegemonia que pouco se diferenciaria daquela formulada anteriormente por Lênin? O que Gramsci teria acrescentado de novo? Não haveria igualmente um esvaziamento da estratégia da guerra de posição? A hegemonia, em Gramsci, foi concebida para superar o economicismo e o corporativismo que impediam a classe operária de ir além de seus interesses classistas imediatos e, assim, influenciar a direção do processo histórico. Exemplo esclarecedor é a posição de Gramsci perante a NEP: o enriquecimento dos kulacs parecia um acinte aos operários que fizeram a revolução e comparavam a penúria em que viviam com a crescente riqueza daquela camada social. O que é determinante, para o marxismo de Lênin e Gramsci, não é o ponto de vista classista, mas o ponto de vista da totalidade.
A divergência entre as interpretações traz consigo a interminável disputa entre um Gramsci “reformista” ou “revolucionário”. O ponto central é a proposta de uma Constituinte como uma etapa intermediária entre a queda do fascismo e a transição ao socialismo. Esta proposta é um buraco negro na interpretação, pois foi feita a partir de relatos dos companheiros de prisão sem o respaldo textual, já que Gramsci, sob o recrudescimento da censura, nada escreveu a respeito.
O tema é familiar ao público brasileiro: nos anos finais da ditadura militar iniciou-se um amplo debate sobre a proposta de convocação da Constituinte. Setores mais à esquerda, então agrupados no Partido dos Trabalhadores, afirmavam que a Constituinte (por eles batizada de “prostituinte”), era uma reivindicação burguesa que não interessava à classe operária. Temendo a “contaminação” da ideologia liberal e a possível hegemonia dos setores burgueses, pregavam o choque frontal contra o regime.
A lógica dual (“classe contra classe”) aí presente já havia se manifestado anteriormente no interior do movimento operário brasileiro dos anos 1970 através da centralidade conferida às comissões de fábrica em detrimento dos sindicatos, estratégia adotada para manter distância em relação às instituições legais. A experiência vivida pelo jovem Gramsci em Turim era uma referência evocada pelas “oposições sindicais” no Brasil. A alternativa classista recusava a política da frente democrática, afirmando a necessidade da criação de uma contra-hegemonia operária formada em espaços alternativos às instituições burguesas. De novo, os ecos de Gramsci, mas somente de seus textos juvenis, pois nos Cadernos do cárcere não consta a expressão “contra-hegemonia”, própria da lógica binária, e sim a necessidade de disputar a hegemonia ocupando espaços no interior das instituições existentes, nos “aparelhos privados de hegemonia”.
A fortuna crítica de Gramsci encontrou na Constituinte um divisor de águas. Os que a recusavam insistiam na autonomia do proletariado e, portanto, na distância em relação a qualquer composição com os setores burgueses democráticos. Consequentemente, insistiam na continuidade linear entre o Gramsci conselhista e o dos Cadernos do cárcere. Já os defensores da política de alianças tomaram a defesa da Constituinte como ponto de partida para a futura estratégia da “democracia progressiva” de Togliatti e do “compromisso histórico” com a democracia cristã. Nos dois casos, o que era apenas uma etapa intermediária foi absolutizada para referendar escolhas políticas. Como num palimpsesto, as anotações sofridas de Gramsci foram “raspadas” para dar lugar a uma nova escrita ditada por referências que não constavam no horizonte do revolucionário encarcerado.
E aqui cabe a pergunta: há limites na interpretação de um texto? Ou ainda: faz sentido “escavar” a escrita gramsciana para descobrir além da textualidade um significado oculto e revelador que tudo esclareceria?
A segunda questão tem sido trilhada pela chamada crítica desconstrutivista, interessada em afirmar o caráter flutuante do significado e denunciar a pretensão “autoritária” de se determinar um unívoco e perene sentido. A análise desconstrutivista é movida pela suspeita, acreditando que o que mais interessa no texto é o que nele foi recalcado, o não-dito, e não o que o “suspeito” autor efetivamente disse. Não sei se algum crítico desconstrutivista debruçou-se sobre os Cadernos do cárcere para descobrir os silêncios e as ausências do texto. De qualquer modo, o caráter “flutuante” das anotações carcerárias parece assombrar todos os intérpretes.
Quanto à primeira questão – se há limites na interpretação – convém lembrar a diferenciação feita por Umberto Eco entre interpretação e superinterpretação. A crítica literária tradicional restringia-se às relações autor-obra; posteriormente, procurou-se incluir o leitor como coparticipante do processo literário. Assim, ele deixaria para trás a antiga passividade ao ser convocado para participar da criação do sentido. O texto, portanto, perde a pretensão de possuir um sentido unívoco, pois depende da participação do leitor. Umberto Eco, em 1962, saudou esta inclusão no livro A obra aberta. Como o título indica, a obra literária deveria deixar de ser vista como algo acabado, concluído, fechado. Ela tornou-se uma obra aberta que se oferece ao leitor, convidando-o a participar das diversas possibilidades de interpretação.
A partir dos anos 1970, a ascensão do pós-estruturalismo se encarregou de ampliar a participação do leitor, abrindo as portas para as ilimitadas e arbitrárias possibilidades de leituras. Eco, então, voltou ao tema visando estabelecer limites à interpretação, pois ela não deveria violentar o texto ao seu bel prazer estabelecendo um vale-tudo relativista. A fidelidade à letra e ao espírito do texto (à escritura e à “intenção do autor”) restringe a liberdade do leitor e estabelece limites ao fluxo interminável de interpretações – deve ser, portanto, o critério para separar as interpretações fundamentadas das veleidades presunçosas e arbitrárias (ECO: 2001).
Em sua solidão carcerária, Gramsci escrevia compulsivamente a sua obra. Não era mais o jornalista que produzia textos circunstanciais em profusão: “Em dez anos de jornalismo escrevi linhas suficientes para encher quinze ou vinte volumes de quatrocentas páginas, mas estas linhas eram escritas no dia-a-dia e, a meu ver, deviam morrer no fim do dia” (Cartas do cárcere, II, 83). O prisioneiro, agora, estava às voltas com a necessidade de organizar sua “vida interior” e usar a escrita como forma de resistência, escrevendo uma obra für ewig para atualizar o materialismo histórico. Uma obra, contudo, sem interlocutor, obra de um autor que escrevia para esclarecer suas próprias ideias e que morreu sem ter dado a elas uma redação definitiva.
Celso Frederico é professor aposentado e sênior da ECA-USP. Autor, entre outros livros, de Ensaios sobre marxismo e cultura (Morula).
Referências
ADORNO, Theodor. Introdución a la dialéctica (Buenos Aires: Eterna Cadência, 2013).
ADORNO, Theodor. Dialética negativa (Rio de Janeiro: Zahar, 2009).
ADORNO, Theodor.Três estudos sobre Hegel (São Paulo: Unesp, 2007).
ALTHUSSER, Louis. Análise crítica da teoria marxista (Rio de Janeiro: Zahar, 1967).
ALTHUSSER, Louis. Ler O capital (Rio de Janeiro: 1979).
ANDERSON, Perry. “As antinomias de Gramsci”, in Crítica marxista. A estratégia revolucionária da atualidade (São Paulo: Joruê, 1986).
BIANCHI, Álvaro. O laboratório de Gramsci (São Paulo: Alameda, 2008).
BUCI-GLUCKSMANN, Christinne, Gramsci e o Estado (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980).
BUKHÁRIN, Nikolai. Theory and practice from the standpoint of dialectical materialism. Texto disponível em https//marxists.org/archive/Bukharin/works/1931/diamat/ibdex.htm.
COHEN, Stephen. Bukhárin, uma biografia política (São Paulo: Paz e Terra, 1980).
COSPITO, Giuseppe. El ritmo del pensamiento de Gramsci.Una lectura diacrónica de los Cuadernos de la cárcel (Buenos Aires: Continente, 2016).
COUTINHO, Carlos Nelson. “Relações de força”, in LIGUORI, Guido e VOZA, Pasquale (orgs.). Dicionário gramsciano (São Paulo: Boitempo, 2017).
COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci, um estudo sobre o seu pensamento político (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999).
DEL ROIO, Marcos, Os prismas de Gramsci. A fórmula política da frente única (1919-1926). (São Paulo: Boitempo, 2019, segunda edição).
ECO, Umberto. Interpretação e superinterpretação (São Paulo: Martins Fontes, 2001).
GRAMSCI, Antonio. Escritos políticos, Vol. I (Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2004).
GRAMSCI, Antonio. Escritos políticos, Vol. II (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004).
GRAMSCI, Antonio, Cadernos do cárcere (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000).
GRAMSCI, Antonio. Cartas do cárcere (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005).
GRAMSCI, Antonio. Quaderni del cárcere (Torino: Einaudi 1975).
KONDER, Leandro. “Hegel e a práxis”, in Temas de ciências humanas, número 6, 1979.
MACCABELLI, Terenzio. “A “grande transformação”: as relações entre Estado e economia nos Cadernos do cárcere, in AGGIO, HENRIQUES, Luiz Sérgio e VACCA, Giuseppe (orgs,), Gramsci no seu tempo (Rio de Janeiro: Contraponto, 2010).
SCHLESENER, Anita Helena. Revolução e cultura em Gramsci (Curitiba: UFRP, 2002).
TOMBOSI, Orlando. O declínio do marxismo e a herança hegeliana. Lúcio Coletti e o debate italiano (1945-1991) (Florianópolis: UFSC, 1999).
TROTSKI, León. “Las tendências filosóficas del burocratismo”, in Ciep Léon Trotski.
TSÉ-TUNG, Mao. “Sobre a contradição”, in Sobre a prática e a contradição (Zahar: Rio de Janeiro, 2008).