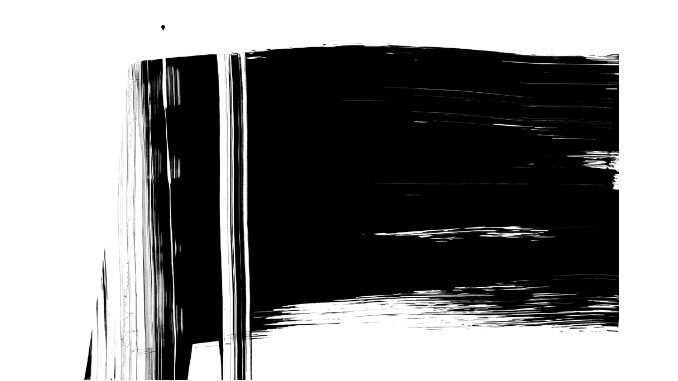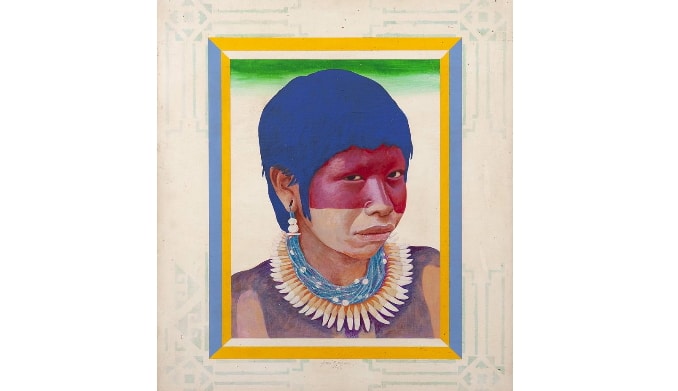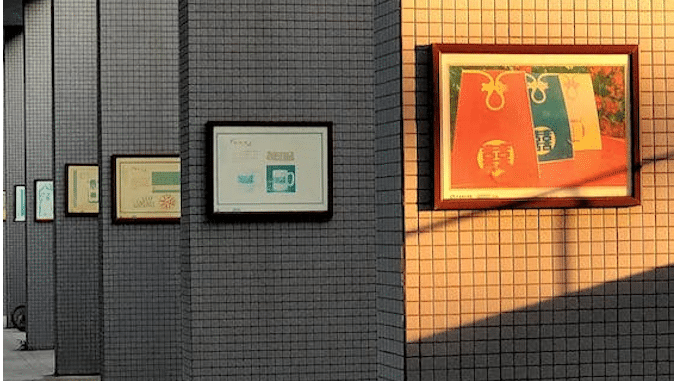Por DENILSON CORDEIRO*
O ato docente na era da sua reprodutibilidade técnica
“[O novo tablete] permite ensinar de qualquer lugar. Você pode sincronizar as telas da sala de aula, usar a S Pen para acompanhar as ideias e se organizar com o Notes para avaliar o progresso individual do aluno em tempo real e personalizar as atividades de acordo com o sucesso de cada um. Deixe o [novo tablete] trabalhar e ensine os alunos a pensar fora dos livros” (Anúncio publicitário).
“A significação histórica atual dos estudantes e da universidade, a forma de sua existência no presente merece, portanto, ser descrita como imagem de um momento mais elevado e metafísico da história. […] Enquanto para isso faltam ainda várias condições, resta apenas libertar o futuro de sua forma presente desfigurada, através de um ato de conhecimento” (Walter Benjamin, “Vida de estudante”).
Lugar de escuta
Como professor universitário já há quase duas décadas, percebo que as perspectivas e as expectativas dos estudantes mudaram muito. E, atualmente, já faz um bom tempo, querem, em geral e prioritariamente, fazer parte da sociedade, do mercado, ter emprego, carteira registrada, poder de compra, carro próprio, constituir família, escola privada para os filhos, plano privado de saúde e pagar os boletos. Temo que, por isso mesmo, quando ouvem como a sociedade tem sido, compreendem que é uma recomendação de adaptação, muito mais do que de crítica.
Quando leem um texto ou ouvem uma exposição na qual o autor escreve ou diz que a atual universidade atribui mais importância para a pesquisa do que para o ensino, ele pode entender que se trata, portanto, de assimilar a orientação como fator de êxito acadêmico. Isso, porque, como explicou Paulo Arantes, no presente as energias utópicas estão praticamente esgotadas. O cuidado, portanto, decisivo tem de considerar ao mesmo tempo o conteúdo daquilo que se fala, para quem e como se fala. Feita essa consideração sobre o lugar de escuta, tão importante quanto o lugar de fala, gostaria de passar ao desenvolvimento do texto.
Razões da recusa
Desde 2011, sou professor de Filosofia em um curso de formação de professores de ciências em uma universidade pública. Participo também de um grupo de pesquisa escolar desde 2018 e gostaria de contar um pouco das minhas experiências nessas duas frentes de atividades como modo de oferecer um lastro menos abstrato como contribuição à discussão que o tema do “ensino remoto” exige. No sentido do que Alcir Pécora (2015) refere como recomendação de Aristóteles de que, “para maior efeito junto ao público, convém sempre que a desgraça seja presentificada com vestígios do corpo atingido por ela”.
Neste semestre são oferecidas 7 disciplinas a alunos e alunas ingressantes subdivididas entre docentes de ciências e matemática, por um lado, e docentes de humanidades, por outro. A carga horária semanal de um estudantes do primeiro semestre é de, mais ou menos, 30h, ou seja, 6h/dia entre aulas e estudos. O curso tem 200 vagas por entrada, em média, com 4 chamadas. Ou seja, temos estudantes chegando no curso até abril, sendo que as aulas começam em fevereiro. Nas disciplinas de humanidades, tínhamos aulas de 1h30, para cada uma das 4 turmas, de 50 alunos cada, o que representava 6h de aula, em geral, oferecidas no mesmo dia, tarde e noite. Eram 18 encontros (18 semanas) durante o semestre letivo. Isso nas antigas condições ditas normais.
No dia 16 de março, todas as atividades presenciais universitárias foram suspensas por determinações oficiais. Em maio, o parecer n. 5 do Conselho Nacional de Educação (CNE), de 1º. de junho fez recomendações vagas a respeito de substituir as atividades presenciais pelas não-presenciais, o que permitiu às universidades, em um primeiro momento, procederem como achassem ser mais conveniente. No entanto, e para surpresa da ala da universidade mais preocupada com questões pedagógicas e sociais, as interpretações do documento oficial foram, gradativamente, cada vez mais rígidas conforme as deliberações passavam às instâncias locais da universidade.
Por exemplo, a possibilidade de exame e decisão de cada professor sobre oferecer ou não a disciplina que coordena foi anulada; por determinação interna, os conteúdos das disciplinas presenciais tiveram de ser mantidos, mesmo com todas as restrições nas condições de trabalho; os planos de ensino alterados para atender à modalidade remota foram preenchidos de modo a apenas “copiar e colar” os planos de ensino originalmente propostos para as aulas. Tratou-se de medida meramente protocolar, uma vez que nas discussões entre professores já se sabia que seria impossível oferecer as disciplinas como se nada estivesse acontecendo.
Esta universidade, assim como outras país afora, já havia contratado o Google para serviços de comunicação, de armazenamento de dados e de planejamento de trabalho. O e-mail institucional, por exemplo, é oferecido e gerido completamente pelo Google. Com o isolamento, descobri que o serviço permite ainda o uso de salas virtuais, com a possibilidade de gravar os encontros e armazenar no Google drive, outras dessas chamadas “ferramentas”. A cada estudante é oferecido o e-mail institucional e, com isso, passa a ter acesso às atividades vinculadas a essas plataformas virtuais de trabalho. Há ainda, como apoio, o Google Classroom e o Moodle, como complementos de controle de entrega de atividades, comunicação com os estudantes, arquivo de documentos e circulação de informações. Utilizamos também as chamadas redes sociais (Whatsapp, Facebook, Instagram e YouTube).
Tudo isso exige bons aparelhos (computadores, celulares e tablets), conexões de internet estáveis, espaços físicos particulares convenientes (sem tumulto, ruídos ou interrupções), bom senso de organização de informações e de estudos, preparação para os encontros e realização das tarefas. Ou seja, quase tudo o que estudantes de uma universidade popular instalada na periferia de uma grande metrópole não dispõem, seja pelas dramáticas condições sociais em que vivem, seja porque boa parte dos hábitos e costumes de estudos são desenvolvidos justamente com orientação, acompanhamento e exercícios durante a vida acadêmica.
Isso exige ainda docentes com destreza no manejo dessas “ferramentas” e com condições materiais de transformarem o que faziam nas aulas, nas orientações e nas diversas atividades presenciais em conteúdos transmitidos pela internet. O que tampouco acontece com a rapidez e a facilidade imaginadas. Evidentemente, desconto entusiastas e ufanistas das “tecnologias educacionais” e que já faziam toda sorte de experimentalismos com os conteúdos das disciplinas que coordenam.
Acresce que também não temos acesso a bibliotecas, e ainda que haja um crescente mercado de e-books, a abrangência é ainda muito restrita. Passamos a improvisar em todas as frentes, como modo de compatibilizar as determinações oficiais, as necessidades educacionais e as expectativas sociais.
Tive dois encontros por meio de videoconferência com meus alunos e alunas. Dos 200, apareceram quase 150 no primeiro dia, 80 na segunda semana e 50 na terceira. Portanto, de saída, muitos foram sendo gradativamente excluídos, por questões variadas, para os quais ainda não há planos de busca ativa. Serão onze semanas de encontros no total, com uma para fechamento dos conceitos de cumprido ou não-cumprido e, pelo andamento, o prognóstico é de que cada vez menos estudantes compareçam. Os encontros pelo Google Meet não são obrigatórios e devem ser gravados e disponibilizados aos estudantes. Mesmo que, eventualmente, não apareçam estudantes para o encontro, o professor deverá gravar o conteúdo da atividade e deixar à disposição e todos.
Há um campo de pesquisa estranho para mim que preconiza a “gameficação” da educação, nos vários níveis. E, em cada área do conhecimento acadêmica, há especialistas e entusiastas dessa modalidade. Propalando a falsa imagem de que o recurso representa algo de avançado em termo de educação. Mas, pergunto, o que querem dizer com isso? Suponho, como o nome diz, transformar o ensino em gestão de videogames, supostamente com conteúdos educacionais. Isso combina bem com o que se tem chamado de uberização do trabalho docente, adaptando de todo modo as condições pessoais docentes para produzir e vender conteúdos aos gestores de plataformas a consumidores ávidos por produtos educacionais.
O movimento estudantil praticamente acabou, subsiste apenas parte do verniz democrático-institucional, parte significativa da juventude assiste fascinada à proposta de “gameficação”; os sindicatos estão cambaleantes e perdidos entre uma função protocolar, a falta de recursos e persistentes campanhas de filiação; os docentes quase exclusivamente preocupados com os seus Lattes e a produtividade que permite a progressões e promoções na carreira. A despolitização é ampla, geral e irrestrita.
Em um esforço de reconstituir algumas das principais experiências do complexo sistema de ensino-aprendizagem do qual participam crianças e jovens em idade escolar e universitária, quando regular e oficialmente matriculados nas escolas e universidades públicas, e podendo frequentá-las presencialmente, listo as seguintes possibilidades que se oferecem.
Proponho aqui a rememoração – porque todos nós passamos de um modo ou de outro por semelhantes situações escolares – do que talvez seja, em geral, parte das experiências de uma criança ou de um jovem do momento que sai de casa para ir à escola e durante o tempo que passa lá.
Lembremos que o impacto da ida à escola como rotina dos estudantes vai muito além da questão da transmissão de conhecimentos formais. Ao sair do âmbito familiar para experimentar outros lugares e papéis sociais na escola ou mesmo no trajeto, oportunidades de estímulo à aprendizagem se oferecem de modo variado. A locomoção até a escola, sobretudo quando a pé ou pelo transporte público, possibilita o exercício da orientação, oferecendo ao estudante uma noção ampliada do bairro ou da cidade, além de demandar uma atenção e um cuidado de si especial.
A experiência geográfica, envolve as experiências física, psíquica, toponímica e, com tempo, também a histórica, porque saber onde estamos, onde habitamos, e para onde é preciso ir comporta uma gama de distinções, de conhecimentos, de informações e de preparos que fazem parte tanto das necessidades que o cotidiano cobra, quanto do próprio desenvolvimento psicomotor da criança e do jovem. Quando a escola desencadeia essas demandas, a travessia passa a estar incluída no processo educativo.
A chegada à escola exige que as crianças e jovens enquadrem-se em uma série de condições tanto materiais, quanto comportamentais, como estarem atentos ao uso e preservação dos materiais escolares, às roupas, calçados, asseio, mas igual e concomitantemente aos horários, aos protocolos escolares e às relações intersubjetivas que permitem desenvolver, para além dos motivos e exigências familiares, atenção, zelo, memória e concentração nos acontecimentos da vida escolar. Como medida suplementar decisiva, importa serem poupados, pelo tempo na escola, das necessidades pessoais e sociais imediatas. É fator sabidamente crucial que a criança e o jovem habituem-se à suspensão das preocupações domésticas e sociais durante o tempo de estudos na escola.
O fato de poderem provar, em vários níveis, os efeitos da diversidade de relações, de amizades, de formações familiares, de posturas na convivência, de habilidades, de talentos, de costumes religiosos, de preferências alimentares, de gostos oferece oportunidades fecundas para a consciência da importância do respeito mútuo às liberdades de escolha, à variedade de opções, à observância dos limites, do cultivo da sensibilidade social e da solidariedade imprescindíveis para a vida comunitária civilizada e harmônica.
Dessa coabitação regrada na escola, a criança e o jovem iniciam-se no domínio e elaboração em progresso dos próprios sentimentos, das sensações e emoções como requisito indispensável do desenvolvimento. É também na experiência escolar que sedimentam melhor a consciência da própria individualidade justamente por terem na variedade que a convivência escolar propicia importantes termos de comparação, onde encontram afinidades, simpatias, afeições, mas também provam estranhamento, conflito e surpresa. A presença na comunidade escolar permite uma experiência integral, na qual corpo e espírito estão engajados dinamicamente na resposta e participação ativas às situações vividas.
Por outra via, a modulação discursiva e comportamental que o professor e a professora adotam a partir das reações, da recepção e das disposições corporais dos estudantes é fundamental para garantir melhores resultados na proposta de atividades, ou seja, garantir atenção, interesse e envolvimento.
Em contraposição, o que chamam contraditoriamente de “ensino remoto” (porque não há, de fato, ensino sem presença), os seguintes fatores impedem de considerar essas propostas como “soluções” aos desafios que o isolamento social nos tem trazido.
A casa e a escola não podem se confundir para benefício do processo ensino-aprendizagem, porque o processo educativo demanda um tipo especial de concentração para o qual a criança e o jovem precisam, inicialmente, exercício e condicionamentos constantes, tempo, paciência e supressão das solicitações e motivos de distração. E o ambiente familiar é dispersivo pela própria dinâmica e natureza. O processo de que a escola participa cobra uma dimensão especial, como planta de estufa, reservada à descoberta e ao possível despertar do interesse, portanto, apesar de seguros, a criança e o jovem, não devem estar na escola como estariam acostumados aos ambientes domésticos.
No aspecto do funcionamento dos aparelhos tecnológicos para o “ensino remoto”, sabemos que dependem de uma multiplicidade de fatores cuja operação complexa acaba se transformando no principal foco da atenção do jovem e da criança. Ou seja, instaura-se uma instância que disputa e vence as propostas educativas no requisito do envolvimento, da disposição e mesmo do interesse dos estudantes. A temporalidade de atividades virtuais obedece a um ritmo diferente daquele necessário às experiências presenciais educativas. Vide, por exemplo, o incômodo ampliado em relação aos momentos de silêncio, às esperas, à duração dos encontros virtuais e ao tempo de exposição e de compreensão acelerados. A relação não se estabelece primeiramente entre pessoas, mas sobressai inicialmente a de usuário e aparelho, para em seguida vir a do espectador com a imagem televisa nas telas[i], instaura-se, nesses casos, expectativas e envolvimentos diferentes do que quando não há operação de aparelhos, câmeras, filmagens e transmissões.
Com isso, a educação e o exercício de civilidade são rebaixados, quando não anulados, na transmissão a distância, e reduzem-se ao mínimo as possibilidades e mesmo necessidades de, por exemplo, aprender a lidar com o desconhecido, em meio à coletividade, com os próprios sentimentos, dúvidas, hesitações e sensações pessoais. Por outro lado, o sedentarismo não oferece ao corpo as chances de participação no aprendizado que se combinam com a sensibilidade, a imaginação e a inteligência. Ocorre uma inflação dos apelos de ordem visual, particular e passivo, as regras de conduta são colonizadas pelas regras de funcionamento dos aparelhos, dos acessos e das redes, o tipo de concentração passa a ser preponderantemente flutuante e de curta duração forjado pelo costume da televisão e todas as materialidades que não forem imediatamente tecnológicas tendem a perder em legitimidade porque exigem outro tipo de disponibilidade, de temporalidade, de envolvimento e de domínio. Em síntese, a experiência tecnológica tende a ser solitária, privada, solipsista e exclusivista.
Com esse tipo de reviravolta nas condições educacionais, o que professores e professoras podemos diante de uma tela, com acessos e participações intermitentes, às vezes, ocultas e através de uma transmissão de tipo televisivo, sem alcance e menos ainda abrangência? Quase nada, talvez troca de informações, propostas de atividades como passatempo, terapia ocupacional como distração das preocupações sociais e dos afazeres domésticos e de trabalho imediatos.
Essas formulações em estado sintético ocultam sutilezas e aprofundamentos necessários de cada dimensão da experiência envolvida no processo educacional, mas podem permitir, penso, vislumbrar um campo de desenvolvimento de reflexões que possam explicitar mais e melhor os graves problemas escamoteados pelas determinações oficiais e práticas institucionais do “ensino remoto”.
O valor da educação presencial
Os professores e as professoras não “damos” aulas. Não como quem dá um objeto ou dá adeus a alguém. Para além de elaborarmos um discurso, com conhecimento de causa, em torno de um assunto estudado e organizado para enunciar diante de um público específico e interessado, nós, na melhor parte em que a aula se realiza, promovemos mais subtrações do que oferecimentos, mais tiramos do que damos.
Explico-me. Subtração do aleatório e da dispersão cotidianos, da participação no jogo de automatismos convencionados; subtração ainda da desarticulação expressiva, reflexiva e da adesão impulsiva às exigências imediatas, dos desejos colonizados pelos apelos do mercado. O tempo e o espaço da aula são de natureza distinta de todos os outros. O tempo da aula, quando ocorre, é o tempo do convite à ponderação, ao exame lento e à gradual descoberta. O espaço da aula é o condicionante que modula as expectativas, apazigua as exasperações, concentra a atenção e estimula a inteligência.
O tipo de encontro que a aula propicia, quando se realiza bem, é de uma ordem antiga, aparentada da conversa amena, do encontro polido e regrado, algumas vezes, até do sermão. Não é raro que precisemos ser afastados do presente para compreender determinados traços do próprio presente pela perspectiva histórica da tradição. Como um presente em atividade no âmago do passado, a aula oferece no momento da sua realização uma passagem para o encontro mais importante que uma inteligência em formação poderia pretender: aquele com a experiência da tradição.
O ensino e a aprendizagem dependem essencialmente do encontro que a escola ou a universidade viabilizam, porque, para muito além dos conteúdos, ensinar e aprender só são possíveis graças à experiência da sociabilidade, às posturas, afetos e gestos das pessoas envolvidas, às regras de civilidade, à teatralidade própria e resultante do convívio e da proximidade, do acolhimento, da institucionalidade e da solidariedade, dos percursos e das travessia, dos espaços de permanência e de confraternização, pela vivência da alteridade compartilhada, pelo decoro que a vida social, escolar e universitária faz decantar no espírito em formação, nas habilidades em desenvolvimento, na participação nos processos do conhecimento, na conscientização da responsabilidade social do futuro profissional, na luta pelo respeito e pelas garantias que os direitos humanos defendem.
Como percebemos, comparativamente, o chamado “ensino remoto” é uma contradição em termos, fórmula que revela contrariedades fundamentais, porque não há nem ensino e muito menos aprendizagem “a distância”, embora possa haver, quando muito, troca de informações. Essa é a falsificação que as fórmulas tecnocráticas pretendem fazer passar por “avanço” ou “progresso” ou “solução”. Poderíamos comparar o equívoco envolvido, por exemplo, com a hipotética tentativa interessada de convencer as pessoas de que conhecer um país poderia ser reduzido a ver uma série de imagens ou vídeos de lugares típicos desse país ou ouvir algumas histórias de quem diz ter viajado para lá. Ora, nada mais falso. Não aprendemos apenas com os olhos, mas muito mais pela participação ativa na complexidade de uma rede de experiências em sentido amplo que se interagem e que só a presença física de cada um permite instaurar.
Se, por um lado, as medidas emergenciais de tentativa de abrandamento dos danos que o isolamento social acarreta alimentam a fúria “solucionista” (Morozov, 2020) do mercado tecnológico e voraz no “extrativismo de dados” e dos voluntarismos histéricos de plantão (sempre ansiosos pelos comandos oficiais, pelas ordens dos superiores), por outro lado, contrariamente às justificativas alardeadas, acabam por aprofundar a exclusão, a discriminação e as injustiças sociais, aniquilar oportunidades de reflexão e de definições democraticamente ponderadas sobre o que seria de fato prioritário, solidário e educacional fazer diante dos desafios.
Sabemos, os estudantes fazem um grande investimento afetivo, social e intelectual quando vão à escola ou à universidade. O espaço público atravessa os estudantes e é atravessado pelos desejos, interesses e disposições deles. Quando o estudante entra na sala de aula, vê que pode ocupar legitimamente um lugar, participar do sistema universitário do conhecimento, ser individualizado pela atenção do professor e ser nomeado oficialmente pelos documentos acadêmicos, sente-se investido de direitos, de responsabilidades, de sentimentos, de sensações e de pensamentos que fazem toda a diferença como entusiasmo e participação no processo da formação.
Os estudantes são a mais importante representação do futuro que a universidade ou a escola podem ter. Isso quer dizer, que na constituição da dinâmica do espaço público o trabalho educacional se organiza em torno do zelo e da preparação necessários à juventude para o futuro da sociedade. Professores, estudamos e planejamos nossos assuntos e mesmo nossos corpos para esse encontro fundante de um delicado, complexo e, às vezes, frágil trabalho de apresentação da tradição aos jovens e, concomitantemente, de apresentação dos estudantes à tradição. As temporalidades, as materialidades e os espaços próprios e institucionais são catalisadores da consolidação desse trabalho. Daí que as acelerações automatizantes dos gadgets eletrônicos sejam perniciosos à diversidade, ao ritmo, à assimilação, aos silêncios, aos olhares, à concentração imprescindíveis ao ensino e à aprendizagem.
Se a formação pudesse ser substituída pela informação, os telejornais poderiam substituir os estudos, os textos jornalísticos poderiam substituir os livros, os inúmeros vídeos disponíveis na internet poderiam substituir aulas, as filmagens de laboratórios poderiam substituir os próprios laboratórios, os tutoriais poderiam substituir as orientações de professores e de técnicos, o buscador do Google poderia substituir o trabalho de pesquisa, os tradutores automáticos substituírem o estudo de idiomas, enfim, as imagens poderiam substituir as viagens e, quem sabe, até os relacionamentos entre pessoas passariam a ser questão de software.
Uma aula sempre acontece sobre um território concreta e geograficamente estabelecido, um tipo de setting, como se diz no teatro, no cinema e na psicanálise, ocupado pela presença de professores e estudantes, conhecimentos e interesses, domínios e afetos, enredos e regras. Formação significa, por isso, uma experiência fundamentalmente entre pessoas, seja na forma institucional que escolas e universidades propiciam, seja na forma social de relações pessoais, profissionais, sentimentais, culturais etc. Mas não virtuais, porque mesmo que as imagens pareçam mostrar o contrário, a relação se estabelece com um aparelho, portanto, um objeto, e, no fim das contas, com uma mercadoria.
A aula é a unidade básica do ato docente, e a sala de aula é o solo, entre o público e o privado, sobre o qual transita o entendimento, o pensamento e a expressão das múltiplas ideias é feito, sobretudo, pela fala e pela escuta, mas devidamente emoldurado pela materialidade institucional, temperados com entusiasmo e alegria pelo estudo, pelo conhecimento, pelo ensino e pelo aprendizado.
O âmbito no qual as aulas se tornam uma fecunda oportunidade exigem dos envolvidos a observância de um código de conduta, sem o qual os caminhos não se oferecem, porque sequer parecem existir. Cada professor, no momento em que prepara e apresenta suas aulas o faz de um modo singular, porque tributário das condições do aqui e agora de cada encontro, e, quando colhe êxito, também de uma maneira autêntica, criativa e fecunda.
As denominadas Atividades Domiciliares Especiais (ADEs) não são aulas, como o próprio nome, natureza e regulação confirmam. São próteses onde deveriam haver encontros presenciais. Por isso, não podemos esperar que cumpram devidamente o que somente a presença e a materialidade poderiam constituir. Não “voltaremos às aulas”, como alguns alardeiam, não vamos “retomar os cursos”, como outros pensam e dizem, vamos, quando muito, fazer algo inédito, para o qual não estamos nem preparados, nem equipados, nem prevenidos, sob a tutela de grandes empresas de tecnologia cujo escopo é exclusivamente vender dados.
E qual é a razão? Para cumprir exclusivamente com as determinações burocráticas oficiais dos calendários e as pressões do mercado. Nada mais. Não há argumentos pedagógicos que sustentem a decisão, estamos reféns de comandos exclusivamente tecnocráticos. Para os poderes instituídos, não convém desfazer a ilusão de que “voltaremos às aulas”, menos ainda de que a esperada “normalidade” esteja se restabelecendo. Alguns encontrarão a justificativa que procuram ansiosamente para sentirem que trabalham, que cumprem com as responsabilidades a que cargos, funções e salários obrigam, outros simplesmente farão o que a maioria faz e, cientes e tranquilos com o fato de que sempre houve excluídos, dormirão o sono dos justos.
A desvinculação progressiva entre as promessas burocráticas fixadas nos planos de ensino e as práticas de realização será o primeiro choque de constatação das dificuldades no desenvolvimento das ADEs. Patentes como percepção nas eventuais avaliações, mas devidamente engavetadas na “transparência” institucional. A organização dos estudos estará mais do que nunca a cargo exclusivo dos estudantes. Vídeos são formas que modificam a apreensão dos conteúdos, porque o meio é antes de tudo a mensagem, quem estará a altura de abordá-los com o domínio crítico e técnico necessário para distinguir as peculiaridades? A multiplicação de preocupações de ordem técnica reduzirá a disponibilidade de professores e estudantes na atenção necessária com as variadas frentes informativas que as ADEs trazem e demandam. Mas desde que presentes virtualmente (!) e o novo sistema das ADEs esteja rodando a todo vapor, tudo estará bem e avançando no cumprimento das responsabilidades públicas e políticas que a atual universidade redefiniu para todos.
Isso não significa que não havia problemas nas aulas presenciais. E o ritmo sempre frenético que a pandemia agora suspendeu poderia ser a oportunidade de reavaliarmos e reestruturarmos procedimentos, necessidades e possibilidades. Contudo, os conselhos centrais abriram mão disso, em função dos compromissos da gestão. Por exemplo, a garantia das condições materiais e pedagógicas para todos estudantes prosseguirem adequadamente os estudos nunca acompanhou a bem-vinda expansão das universidades federais, a ampliação do acesso à educação que o Reuni produziu. Sem poder se alimentar convenientemente, deslocar-se até a universidade, encontrar instalações e espaços de acolhimento e de convivência, de estudos e de pesquisa, não se cumpre o direito à educação. E, quanto se trata a questão de modo meramente técnico, a responsabilidade é transferida para os estudantes e para as famílias.
A necessidade do isolamento social agravou antigos problemas gestados na própria dinâmica social, escolar e universitária. A suspensão das atividades e do ritmo emergencial acadêmico poderia ser oportunidade rara para repensarmos os desafios que a universidade contemporânea enfrenta e quais horizontes institucionais poderiam ser priorizados na responsabilidade social que tem. Mas, o histórico de negligências não deixa ilusões e esse processo de implantação das ADEs a qualquer preço reforça o descompasso profundo entre gestão universitária e demandas sociais.
Tudo isso deságua catastroficamente na sociedade. Falência projetada e esperada dos órgãos públicos de atenção e de atendimento social, aumento da violência no varejo social, extermínio e encarceramento em massa, degradação do espaço público, a dimensão pública passa a ser vista como lugar de risco, enfim, um efeito destrutivo em cascata. O que deixa aberta a oportunidade para a aparição parasitária do chamado “solucionismo tecnológico” privatista.
Grande parte do sistema de informações das universidades públicas passa pelo Google, o e-mail institucional, drives de armazenamento, softwares de transmissão, de gravação e de administração de atividades, arquivos dos cursos etc., além de relatórios de estatísticas e dados das realizações por meios tecnológicos que a instituição pratica. Desde o princípio dessa aproximação, todas as mensagens e manifestações da gestão da universidade foram de celebração e de entusiasmo, como se finalmente a universidade estivesse chegado ao ápice tecnológico do presente.
Como escreve o prof. Evgeny Morozov (2020), sobre a “gratuidade” dos serviços do Google:
Não seria ótimo que um dia, diante da afirmativa de que a missão do Google é ‘organizar as informações do mundo e torná-las acessíveis e uteis para todos’ [como dizem ser a missão da empresa], pudéssemos ler nas entrelinhas e compreender o seu verdadeiro significado, ou seja, ‘monetizar toda a informação do mundo e torná-la universalmente inacessível e lucrativa? (MOROZOV, 2020)
Dados sobre alguns dos impactos da adoção do ensino remoto na universidade o departamento de tecnologia cita as “mais de 77 mil horas que os cerca de 1.700 usuários dedicaram às 2.379 reuniões computadas até o momento, em 240 salas virtuais, revelando aumento de 110% dessa demanda. Dentre os serviços mais utilizados, estão as colações de grau e defesas de teses e dissertações virtuais; bem como a emissão de certificados digitais para graduação e extensão.” (Ata do Conselho Universitário, 10/06/20)
São números expressivos e que não poderiam escapar à atenção e ao interesse das empresas tecnológicas de extrativismo de dados.
A pró-reitoria de graduação propôs em 4 de junho de 2020 que a retomada do primeiro semestre de 2020 ocorresse de forma remota, com a revisão das grades curriculares dos cursos para reinício em 22 de junho. A expectativa e o discurso institucional foram no sentido de que as questões de permanência estudantil e de inclusão digital, bem como de formação docente, já estariam resolvidas. Uma vez que, na visão da gestão a solução do problema aparece como meramente informacional, técnica, bastariam apenas 15 dias para “resolver” (sic) questões como a permanência estudantil, a inclusão digital e a capacitação docente.
Segundo Morozov,
“[…] acontece uma neutralização do vocabulário crítico e o debate não chega a se instalar porque é considerado “vazio e inócuo”, uma vez que definem os problemas em termos de questões, de saída, ‘digitais’ em vez de ‘políticas’ e ‘econômicas’, desde o princípio o debate é conduzido em termos favoráveis às empresas de tecnologia.” Por isso, “espera-se que aceitemos que o Google seja a melhor e única forma possível de usar o correio eletrônico [e ferramentas de ensino remoto], e que o Facebook seja a melhor e única maneira possível de nos conectarmos uns com os outros, pelas redes sociais.” […] “o que mais poderia explicar os problemas de saúde senão suas deficiências pessoais? Certamente não o poder das empresas alimentícias ou as distinções de classe ou, ainda, as inúmeras injustiças políticas e econômicas.” (MOROZOV, 2020)
A dimensão política é, portanto, rebaixada à utilização individual de aplicativos em aparelhos sofisticados que encarnam o ideal de eficiência, status e inovação. O estatuto de consumidor privilegiado dos usuários sobrepuja o do cidadão com direitos, e os aplicativos oferecem soluções antes que seja possível , por exemplo, o valor das manifestações em áreas e praças públicas. O resultado é a aniquilação progressiva da imaginação política, substituída pela hipnose ideológica das telas e pelo bem-estar (falso) das ofertas e atualizações do momento. Nenhum software, no entanto, por mais IA que comporte, é capaz de considerar a pobreza, o racismo, a violência e as demais injustiças sociais como problemas originados pelo mesmo sistema que tornam esses mesmos ‘avanços’ tecnológicos possíveis.
Segundo Frederico Bertoni (2020), as etapas desse processo de aprofundamento do desmonte e da acelerada privatização na educação pública são:
“Fase 1: A emergência: a universidade ativa em tempo recorde o ensino remoto como única alternativa para todos os casos;
Fase 2: A crise: No próximo ano letivo, se o vírus permitir, muitas escolas e universidades adotarão uma modalidade mista [blended] com a justificativa de compensar a inevitável queda nas matrículas e de oferecer condições para quem não pode ou não tem meios para o ensino presencial.
Fase 3: O business: o sistema, beneficiado pela flexibilidade do mercado e implementado pela experiência forçada desses meses de isolamento, encontra condições propícias para transformar-se no “negócio perfeito”: infraestrutura, competência técnica, mentalidade preparada pelo uso, docentes “reprodutíveis” à vontade; investidores interessados e fornecedores de serviços de informática; estudantes que pagam a taxa, mas não demandam salas de aulas, estruturas e nem acarretam custos adicionais de gestão.”
Em essência, o ato docente, podemos dizer inspirados em Benjamin (1993), sempre foi reprodutível, mas no sentido de ser emulado, e o projeto de reproduzi-lo faz parte das conquistas da educação. O que docentes fazem, no exercício do ofício, sempre pode ser imitado pelos estudantes e pelos discípulos, nos estudos, pesquisas e, depois, na prática intelectual e profissional. Em contraste, a atual reprodutibilidade técnica representa um processo novo. Agora, pela primeira vez, o chamado corpo físico de docentes, estudantes e discípulos, e concreto das instituições, são liberados das experiências e responsabilidades propedêuticas formativas, que, como no cinema, passaram a estar restritos exclusivamente ao olho. Com a internet, os inúmeros aplicativos e a transformação dos celulares em computadores (máquina de escrever, fotográfica, câmera de filmagem, aparelho de reprodução de filmes, gravador de voz, televisão, rádio e telefone) de bolso, a reprodução técnica alcançou um patamar de disseminação que pode transformar tudo em suas imagens, submetendo a modificações profundas, como conquistar e colonizar para fins exclusivamente comerciais, por exemplo, um lugar entre procedimentos e práticas antes exclusivamente educacionais.
As perspectivas da educação em geral e da aula em particular, seja na escola, seja na universidade, durante a pandemia e no cenário pós-pandêmico dependem diretamente das nossas possibilidades de aprofundar o diagnóstico do presente, praticar urgentemente aquilo que Gramsci chamou de “responsabilidade histórica” e revalorizar o lugar da humanidade diante da tecnologia. Se o que digo aqui faz algum sentido, é forçoso reconhecer que “temos um grande passado pela frente”, como escreveu Millôr Fernandes. Não vejo nenhuma chance de modificação dessa nefasta dinâmica sem começar por re-politizar as discussões, indagando, por exemplo, em benefício de quem são tomadas as decisões oficiais, sobre os limites entre aderir e recusar as determinações que aprofundam essa lamentável realidade e os resultados éticos a que podem levar nossas propostas de crítica ou de mera obediência às regras do jogo. Para cujas elaborações e respostas devemos, necessariamente, recusar a ansiedade do tempo emergencial em voga.
Esperança residual
A contraposição necessária, no entanto, não passa pelo esforço, ademais inútil, de fazer apenas a crítica da ideologia e dos interesses em voga, tentando apontar incoerências e contradições em seus próprios termos. Com as energias utópicas leigas tão em baixa, a esperança residual sobrevive, se for possível dizer tanto, somente pela determinação intelectual de manter-se na resistência, um pouco por princípio, outro por responsabilidade, um tanto por orgulho, outro por costume, estudando, debatendo, intervindo, ainda que a derrota seja diariamente reeditada. Um trabalho de Sísifo. Crer no processo que a resistência instaura, manter-se engajado no que desencadeia, orientar-se pelos êxitos pontuais e eventuais, precaver-se contra as armadilhas dos esquematismos, examinar criticamente as conformações que chamam presente, pensar muitas vezes antes de ceder aos voluntarismos, manter-se fiel aos princípios nos quais as pessoas são sempre mais importantes do que as coisas e os procedimentos.
Como toda crise, esta de agora produz, dentre inúmeros agravamentos e desorientações e, por isso mesmo, pede firmeza acerca de princípios, para nós, inegociáveis, balizas a partir das quais considerar a proporção dos desafios e a força necessária para enfrentamentos e propostas. Destaco o que me parece um dos alicerces desses princípios: Uma concepção de universidade que seja pública, gratuita, de qualidade, para todos e socialmente responsável.
Para nos precavermos contra o voluntarismo adesionista e solucionista que se transformou na segunda natureza do funcionalismo público na universidade, o alarmismo de apocalípticos pode oferecer alternativas fecundas para dimensionar melhor os problemas. Qualquer crítica do presente tem de ser ao mesmo tempo um diagnóstico desapaixonado, tanto quanto possível.
Por isso, importa ponderar muitas vezes antes de ajuizar e, mais ainda, antes de decidir o que propor e fazer, sobretudo em relação a dados e constrangimentos oficiais e a informações e emergências midiáticas. Pois, sabemos, importa muito mais, nas humanidades, como disse e escreveu Alcir Pécora (2015), “não resolver nada e, antes, criar novos problemas e, de preferência, que importunem para sempre”.
Manter-se bem informado é daquelas responsabilidades e necessidades que a crise aprofunda, o que quer dizer, conferir a legitimidade das fontes, desconfiar dos vocabulários, confrontar e examinar perspectivas, considerar comparativamente experiências em outros países, e mesmo em outras circunstâncias políticas e históricas. E socializar e debater sem trégua.
Distinguir as tarefas e responsabilidades da vida pública e da vida pessoal (reformulação baseada na famosa distinção kantiana entre uso público e uso privado da razão) é crucial. Como a escola e a universidade invadem a casa, é preciso, mais do que nunca, uma contraofensiva de estabelecer limites, que valem, inclusive e talvez mais fecundamente, para as elaborações do pensamento.
Como decorrência, convém, no exercício da função pública do pensamento, examinar que tipo de sociedade está pressuposta e é preconizada na formulação de propostas. No sentido de anular o que Bertoni (2020) chama de “mobilização total”, imposta pelas atuais circunstâncias. O efeito sobre a função privada tende a ser liberador.
Sobre a responsabilidade histórica, importa intervir tanto nos colegiados universitários, quanto nos fóruns mais amplos de discussão sobre problemas educacionais comuns entre os chamados pares, e jamais negligenciar as posições políticas dos ímpares.
Importa lembrar que, como professores e professoras, trabalhamos visando, fundamentalmente, os e as estudantes. Portanto, acolher, orientar e acompanhar estão dentre as atribuições que dão sentido e norte às nossas outras funções profissionais. Por isso, diaimporta decisivamente nosso esforço no sentido de garantir a vigência de práticas propriamente intelectuais e universitárias, de reunião, ainda que virtual, com os estudantes para restabelecer vínculos institucionais e solidários, para reavivar o sentimento de participação na vida acadêmica e, quem sabe, com isso atenuar prejuízos e combater sofrimentos pessoais e sociais. Mais do que a ideia moderna de autonomia, importam contemporaneamente a solidariedade e a sensibilidade social.
Se não formos nós, haverá sempre alternativas comerciais, oportunistas e privatistas de plantão, pelas quais os estudantes (mas não só) são rapidamente convertidos em consumidores de produtos e serviços no mercado global de educação. Por isso, convém, se for possível, estar na linha de frente do acolhimento aos estudantes.
Precaver-se permanentemente contra a assimilação fisiológica (sempre também patológica) dos processos e das dinâmicas institucionais, e, simultaneamente, pela neutralização do canto de sereia dos projetos de disputa de poder oficial. Historicamente, a vitalidade e força dos movimentos político-sociais de protesto, contestação e recusa dependeu diretamente desse zelo essencial.
Para concluir, traduzo o trecho final do texto de Bertoni (2020): “Aqui estamos em plena utopia: resistir com absoluta intransigência a cada constrangimento ou especulação na defesa de uma ideia de universidade (e de escola) pública, aberta, generalista, bem comum e essencial, não só lugar de transmissão de conhecimento, mas instrumento imprescindível de igualdade [e justiça] social, na letra e no espírito. E se não tivermos êxito em enfrentar coletivamente, porque os interesses em campo são forte demais e as posições muito heterogêneas, que cada um possa, ao menos, resistir por si, recusar-se a fazer ensino remoto [teledidattica] e possa dizer em voz alta: não em meu nome”.
De algum modo, penso, as sementes de novas utopias poderiam encontrar algum solo fértil em nós e, confesso meio encabulado um otimismo beirando o delírio, brotar, ainda que discretamente, dessas providências, precauções e propostas, e, para mim, é o que parece nos restar como residual esperança no momento.
*Denilson Cordeiro é professor no Departamento de Filosofia da Unifesp.
Referências
Benjamin, Walter. “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica”. In: Magia e técnica, arte e política. Obras escolhidas 1. Trad. Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1993.
Bertoni, Frederico. Insegnare (et vivere) ai tempi del vírus. Bolonha: Ed. Semi/Nottetempo, 2020.
Morozov, Evgeny. Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política. Trad. Claudio Marcondes, São Paulo: Ed. Ubu, 2018
Pécora, Alcir. “Letras e humanidades depois da crise”. Revista da Anpoll, n. 38, pp. 41-54, Florianópolis, jan./jun./2015.
Xavier, Ismail. “Melodrama, ou a sedução da moral negociada”. Revista Novos Estudos Cebrap, n. 57, julho de 2000.
Nota
[i] A respeito disso, sugiro o excelente artigo de Ismail Xavier, “Melodrama, ou a sedução da moral negociada”. Revista Novos Estudos Cebrap, n. 57, julho de 2000. No qual pelo melodrama tratado como conceito o autor discute o efeito de “simplificações de quem não suporta ambiguidades nem a carga de ironia contida na experiência social, alguém que demanda proteção ou precisa de uma fantasia de inocência diante de qualquer mau resultado.” (pp. 81-2).