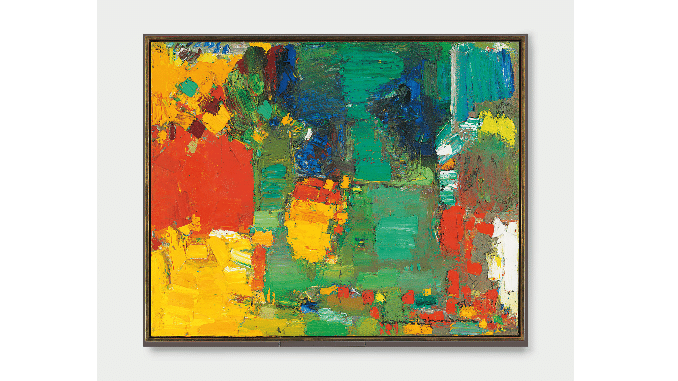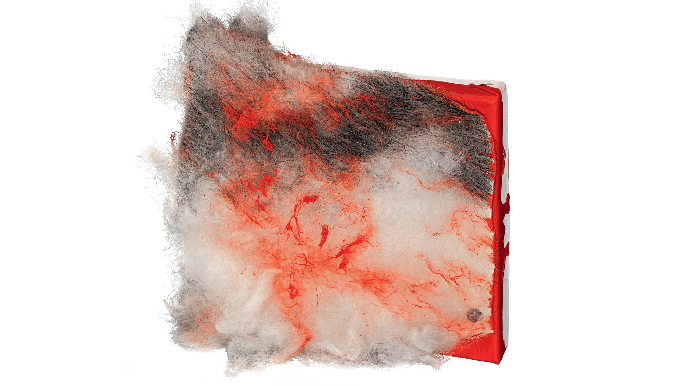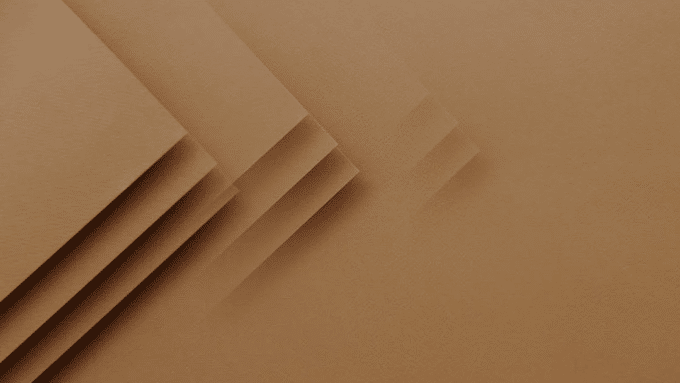Por DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA*
Toda essa expansão de políticas baseadas no extermínio, na tortura, no encarceramento, na guerra às drogas, ao crime, à população pobre e negra forneceu peças de uma máquina que produz desejo
O recente vídeo da reunião dos ministros juntamente como a nota dos militares da reserva que apontam para um risco de guerra civil é um modo de aparição do Estado de Bando. Bando é precisamente uma relação[i], mais do que simplesmente um estado de coisas. O que define o bando é a relação pela qual o que está posto fora da lei é incluído nele pela sua própria exclusão. É o que Agamben denomina de exclusão inclusiva como característica do Estado de exceção como uma relação entre violência e direito ou violência e Estado que é originária do próprio Estado de Direito. O Estado de direito ou o ordenamento jurídico-político teria essa estrutura de bando que define a Soberania como uma unidade ou uma interioridade que sempre pressupõe um fora apropriável de direito, isto é, um fora que pode e deve ser incluído de direito enquanto fora. Deleuze e Guattari assinalam como a Soberania só se exerce sobre um fora, como ela “só reina sobre aquilo que é capaz de interiorizar, de apropriar-se localmente”. Entretanto, seguindo a afirmação de Hegel segundo a qual “todo Estado contém em si os momentos essenciais de sua existência”, Deleuze e Guattari acrescentam que a forma-Estado pressupõe a si mesma, pressuposição pela qual ela interioriza o seu fora como se já pertencesse desde sempre a sua forma, pertencesse de direito. Um fora que não é aquele da política externa entre Estados, mas aquele de uma exterioridade na qual o direito não vigoraria, como uma terra sem lei, mas que, por isso mesmo, é apropriável por sua remissão ao Estado ou a Lei. Isso porque o Estado ou a interioridade da lei em sua generalidade ou universalidade só pode se aplicar originalmente lá onde ela não se aplica ou não tem vigência efetiva, ou seja, só pode se aplicar pelo Estado de exceção que consiste numa situação em que a lei está ao mesmo tempo fora de si mesma, em que lei e fora da lei se confundem pradoxalmente. Ou, dito de outro modo, a forma da lei só se realiza pela sua exteriorização que consiste, justamente, numa violência com força de lei sobre um fora que se busca capturar e submeter a esta lei.
“A afirmação segundo a qual ‘a regra vive somente da exceção’ deve ser tomada, portanto, ao pé da letra. O direito não possui outra vida além daquela que consegue capturar dentro de si através da exclusão inclusiva da exceptio: ele se nutre dela e, sem ela, é letra morta”.[ii]
Do ponto de vista da formação do Estado é como se houvesse, assim, uma “acumulação original” a partir do qual o Estado produz aquilo sobre o qual ele se exerce, por isso “a polícia de Estado ou a violência de direito” constitui um regime histórico de violência específica, pois “ela consiste em capturar ao mesmo tempo em que constitui um direito de captura. É uma violência estrutural, incorporada, que se opõe a todas as violências diretas. Definiu-se com frequência o Estado por um ‘monopólio da violência’, mas essa definição reenvia a uma outra, que determina o Estado como ‘estado de Direito’”. (Deleuze, G.; Guattari, F. Mil Platôs 13). É justamente por esse vinculo específico entre violência e direito, sendo o direito fundado por uma violência de captura, que faz com que a ações do Estado não apareça como violência, ou, quando aparece, aparece como uma violência que responde a uma violência de um fora que o ameaça, portanto, que a violência do Estado aparece “magicamente” como violência de direito de uma forma pressuposta.
Essa violência originária, que se reproduz nos estados de normalidade e que é fundante, vem à luz ou à superfície nas situações de exceção, mas também se verifica nos territórios de fronteira, lá onde o direito vigora pela sua suspensão e tem nessa suspensão a condição de sua realização a partir da instauração de uma ordem que se encontra, paradoxalmente, suspensa, a partir da criação de uma realidade efetiva que corresponda ao direito. É por isso que Agamben, sobre esse problema da relação do direito com sua referência na ordem dos fatos, dirá:
“O direito tem caráter normativo, é norma (no sentido próprio de ‘esquadro’) não porque comanda e prescreve, mas enquanto deve, antes de mais nada, criar o âmbito da própria referência na vida real, normalizá-la”.[iii]
Ao mesmo tempo que o Estado deve criar – pela inclusão de algo que está excluído do direito – uma ordem ao qual o direito se refira, esse fora ou isso que está excluído já se refere, contudo, a uma ordem jurídica pressuposta. Assim, há uma pressuposição recíproca entre o direito e seu fora de modo que aquilo que se captura já está pressuposto, configurando o paradoxo da Soberania e do Estado de exceção: não uma anomia externa à estrutura do direito, mas uma violência estrutural e interna ao próprio direito e pelo qual o direto se põe na realidade efetiva, cria uma objetividade que lhe corresponda. Esse paradoxo se evidencia para Agamben quando da criação e acionamento de dispositivos jurídicos como Estado de Sítio ou de Emergência pelo qual o Estado se coloca por vias jurídicas fora do próprio ordenamento jurídico, reclamando uma situação de necessidade que ameaça a ordem de direito e que se trata de restabelecer a partir de nexo do direito com seu fora.
Deleuze e Guattari argumentam, portanto, que o direito é justamente esse nexo ou esse laço que faz da violência do Estado um regime próprio e estrutural de relação social. O que significa, assim, que o Estado deve ser pensado não como um instrumento externo às classes sociais que seria apropriável por grupos sociológicos cindidos para um exercício monopolista sobre uma realidade que seria exterior. Na medida em que se trata de uma relação estrutural constitutiva do próprio Estado, o Estado produz uma ordem que corresponde a ele a partir de uma relação de captura. O Estado assim, como forma social, é pressuposto aos seus processos concretos de realização e aos objetos sobre o qual se exerce e constitui intrinsicamente suas relações de dominação: entre Soberano e súditos, governantes e governados. É uma lição que os autores tiram de Clastres e seu estudo das sociedades contra o Estado. Estas se caracterizam justamente por um modo de relação em que não há divisão hierárquica e o surgimento do Estado não pode ser, assim, explicado como um instrumento de dominação de classes que já estaria pré-estabelecidas, como se a estrutura de relações sociais existisse antes mesmo da própria forma ou modo de produção ao qual elas pertencem. Ao contrário, o aparecimento do Estado marca uma ruptura qualitativa nas relações: o Estado secreta a divisão de classes e a relação de captura do seu fora, ele é a forma mesma dos diversos tipos de monopólios: da renda da terra, do tributo, da violência e do sobreproduto do trabalho público.[iv]
É tendo isso em vista, que Deleuze e Guattari poderão seguir uma análise do Estado como forma fetichista de relação social que constitui uma realidade objetiva, que é “um movimento objetivo aparente”, isto é, uma natureza ou realidade produzida pela forma do Estado e seus modos de captura monopolista. É o que assinala Sibertin-Blanc: “Nesse sentido, o monopólio tem uma estrutura fetichista. Ele é o efeito principal do ‘movimento objetivo aparente’ da forma-Estado. Fetiche estático, o fato monopólio é o fetichismo de base”.[v]
II
Se é verdade que há na fundação do Estado uma violência originária a maneira de uma acumulação primitiva pela qual o Estado cria aquilo sobre o qual se exerce e pelo qual a relação social própria à forma-Estado é reproduzida, é preciso, entretanto, analisar mais especificamente como isso se dá no capitalismo. Questão a partir da qual podemos pensar, de uma maneira muito sumária, a questão da historicidade do Estado. A violência originária, no que diz respeito a formação do Estado moderno e do direito público Europeu, no interior do qual os Estados Soberanos se reconheciam, se territorializava justamente na América. A exceção ou a violência originária do Estado não só tem um topos estrutural, mas também se especializa espaço-temporalmente. A colonização consistia justamente nessa espacialização da exceção onde um nómos só aplicava ou vigorava se suspendendo a partir dessa captura do seu fora. Agamben mostra, assim, como a América aparecia para a consciência de teóricos modernos do direito, como Locke e Hobbes, como um estado de natureza no qual tudo é lícito, espaço “livre e juridicamente vazio”. Essa consciência só é possível porque tal espaço já se refere ao nómos Europeu, sua exceção tem um nexo estrutural com o espaço jurídico estabelecido na Europa e que disciplinava as relações entre os Estados. Desse modo, o estado de natureza nos ajuda menos a entender as sociedades ameríndias, do que as próprias sociedades modernas estatais e sua violência originária: “o estado de natureza é, na verdade, um estado de exceção”.[vi]
A apreensão moderna das sociedades contra-o-Estado como sociedades “sem fé, sem lei, sem rei” é, primeiramente, uma apreensão que toma como ponto de referência ou de positividade as próprias sociedades ocidentais estatais, monarquícas e católicas. Mas, mais do que isso, é uma apreensão ou uma consciência que se forma já pela relação de exceção própria as formações estatais e pelas quais estas buscam incluir, pela exclusão, o seu fora, legitimando, assim, a violência do Estado sobre um espaço de exceção colonial. É a colônia, assim, o nómos, a origem do Estado de Direito da modernidade, antes do próprio campo de concentração, como queria Agamben. É essa relação de fronteira, entre externo e interno, que se dá a historicidade do Estado moderno.
Esse processo de formação dos Estados modernos é, além disso, o da formação da máquina capitalista. Se o Estado desempenha ai um papel preponderante é na criação de uma máquina social que o excede e que o determina. O Estado é ultrapassado por uma forma de relação social baseada na acumulação de dinheiro. Para Deleuze e Guattari, os Estados “mudam de forma e assumem um novo sentido: modelo de realização de uma axiomática mundial que os ultrapassa”. Sendo essa axiomática a exigência de valorizar o valor, de acumular dinheiro, o Estado passa a ser, portanto, uma modelo de realização do valor, ou, dito de outro modo, formas de territorialização do Capital. Podemos pensar, assim, no papel constante na história do Capitalismo do Estado de fixar a força de trabalho, de garantir que ela se encontre com o dinheiro e gere produção de mais-valia. Uma dessas formas de territorialização se dá a partir da nacionalização. Constituir um Estado-nação implica “uma descodificação da população. É sobre esses fluxos descodificados e desterritorializados que a nação se constitui, e não se separa do Estado moderna que dá uma consistência À terra e ao povo correspondente. É o fluxo de trabalho nu que faz o povo, como é o fluxo de capital que faz a terra e seu equipamento”.
O que diferencia o Estado moderno dos Estados pré-capitalistas é justamente o fato do Estado não ser mais propriamente territorial, isto é, de não ter mais como objeto a terra, mas ser um Estado de população, que é um Estado que tem como objeto fluxos abstratos de força de trabalho e de dinheiro, de pessoas e de mercadorias que devem ser governados a partir de uma ciência do Estado e por um processo crescente de tecnização da arte de governar. É nesse ponto, aliás, que Agamben vê o surgimento da biopolítica. Isto é, aquilo que o Estado busca incluir na forma jurídica é justamente a vida biológica que, entretanto, não é um dado pre-existente ao direito: a vida nua, a vida matável é justamente a vida sem direito, isto é, a vida biológica como resultante da sua inclusão a ordem político-jurídica a partir da sua suspensão (o que se realiza a partir de critérios raciais, de gênero e classe). Seguindo nossa argumentação, a biologização da política e politização da realidade biológica (a raça e o sexo como objetos biopolíticos que remetem a acumulação primitiva, com a mercantilização do corpo negro e a reprodução como assunto de Estado) pressupõe, entretanto, o trabalho abstrato, como trabalho vivo nu, e o dinheiro como forma geral da riqueza.
É Foucault que mostra, em Segurança, Território e População, que a população como espécie, isto é, como fato biológico, surge no século XVI como objeto da economia política como ciência de governo e dos governos dos Estados quando, simultaneamente, a economia surge como realidade social específica sobre a qual o governo dos Estados se exerce:
“É graças à percepção dos problemas específicos da população e graças ao isolamento desse nível de realidade que se chama economia, que o problema do governo pôde enfim ser pensado, refletido e calculado fora do marco jurídico da economia”. [vii]
Que a população surja como objeto de governo, que se trate de governar as condições da população, da sua saúde, da sua vida e que a vida biológica da população seja pensada em relação à riqueza econômica é o que redefine o papel da soberania, e que faz com que a soberania seja determinada por uma relação social que a ultrapassa e não esteja mais centrada em garantir a vontade de um soberano absoluto. Essa mudança marca uma mudança de uma sociedade que tinha no Estado sua síntese social, sua forma determinante de organização, centrada na figura da Soberania, para uma sociedade baseada na produção de riqueza abstrata: “Creio que temos aqui uma ruptura importante, enquanto a finalidade da soberania está em si mesma e enquanto ela tira seus instrumentos de si mesma sob a forma da lei, a finalidade do governo está nas coisas que ele dirige; ela deve buscada na perfeição, na maximização ou na intensificação dos processos que ela dirige”[viii].
O Estado passa ter a função, portanto, de regular e garantir o processo infindável de acumulação de riqueza abstrata quantitativa. Regular um processo, portanto, no interior do qual o Estado já não tem nenhum papel determinante. Sendo determinante a acumulação de dinheiro, o Estado é compelido, enquanto aparelho de regulação ou administração de fluxos quantitativos de dinheiro e de pessoas, a uma tecnização crescente pela qual regula os fenômenos populacionais e econômicos, amparando-se em um conjunto de ciências ou saberes do Estado que permitiriam controlar tais fenômenos em suas leis próprias, e, consequentemente, conduzido a uma impessoalidade do poder característico da modernidade e que foi assinalada por Foucault. É com essa mudança que o poder do Estado passa a ser limitado com vistas a torna-lo o menos oneroso possível, normalizado e disciplinado tendo em vista os objetivos da sociedade burguesa.
Isso faz com que a relação de Bando ou o Estado de Exceção tenha que ser compreendido a partir do seu nexo com o processo de acumulação econômica: a violência soberana ou de bando passa a estar ligada não mais a figura do soberano, mas a do Capital e sua história: a exceção é a violência de direito pelo qual se faz valer o direito da acumulação capitalista. É por isso que no capitalismo, apesar da soberania do Estado já não desempenham nenhum papel determinante, há uma nostalgia constante de um Estado todo poderoso, sobretudo quando o que se está em jogo é a expansão da imposição do Capital (por exemplo, na colonização pela qual o trabalho passou a ser imposto às populações ameríndias e africanas pela escravização) ou em momentos de crise em que se trata de garantir a realização das relações econômicas ameaçadas a partir de “golpes e ditadura mundial, de ditadores locais e de polícia toda-poderosa”.
III
O Estado bolsonarista é precisamente um Estado de Bando, sendo seus ministros, deputados e demais funcionários da burocracia os membros desse bando soberano. Enquanto bando, estão ao mesmo tempo fora e dentro da lei.
O estado de abandono que parcelas da população estão submetidas encontra sua correspondência nesse Estado de bando ou, se se quiser, no Estado de exceção. Mas seria preciso fazer uma espécie de genealogia desse atual Estado de bando que foi fermentado em anos de políticas baseada no genocídio e no encarceramento em massa e numa racionalidade neoliberal ou empresarial que passou a fazer parte inclusive do mercado ilegal de proteção por bandos milicianos. O pressuposto do estado de coisas atual são anos de exercício de um capitalismo que suscitou pelo seu governo a formação e expansão de diversos bandos com relações umbilicais com o Estado, máquinas de guerra que não só tecem alianças com o Estado, mas tomaram conta do Estado. Assim, seria preciso ver a atual formação de bandos para além da esfera do Estado, e referi-la a uma axiomática ou a uma forma muito mais universal e abstrata de relacionamento Quer dizer, a máquina de guerra social que as milícias compõem excedem os Estados que se tornam peça delas, até porque sua lógica não é simplesmente política num sentindo estatal, mas é também mercadológica, sendo um empreendimento econômico que excede o Estado, retira dele seu monopólio da violência e se serve dele como meio de pilhagem econômica, confundindo cada vez mais processos econômicos com a realização da guerra e a política como a continuação dessa guerra econômica por outros meios.
O que há de fascista nesse governo e seu surgimento deveria ser, portanto, buscado num nível mais molecular do que na centralização política do Estado: deveria ser buscado no trabalho sujo do carcereiro disseminado em anos pela política de expansão do parque industrial-prisional, das milícias que surgem em território “abandonados” pelo Estado (em que o Estado se faz presente pela suspensão de direitos, pela sua ação de exceção, de violência), pelo papel que os agentes militares passam a desempenhar articulados com políticas de assistência social focalizada e pela marcação biográfica e cotidiana da militarização urbana, do encarceramento e do genocídio. Como micro-buracos negros que foram germinados e agora vai sugando tudo por ressonância, a exceção se torna nexo social cotidiano, moeda de troca na sociedade brasileira.
Toda essa expansão de políticas baseadas no extermínio, na tortura, no encarceramento, na guerra às drogas, ao crime, à população pobre e negra forneceu peças de uma máquina que produz desejo: “O desejo nunca é uma energia pulsional indiferenciada, mas resulta ele próprio de uma montagem elabora, de um engineering de altas interações: toda uma segmentaridade flexível que trata de energias moleculares e determina eventualmente o desejo de já ser fascista”. Por isso é consistente a base de cerca de 30% do Bolsonaro, é uma máquina muito eficiente que operou durantes anos num nível micropolítico, dentro das prisões, nas cidades, nos bairros, nas famílias, pelas mídias etc, realizando uma micro-gestão dos pequenos medos, da insegurança e do abandon a partir da guerra contra um inimigo interno.
Deleuze e Guattari localizam na Guerra Fria a formação de uma máquina de guerra mundial, que excede os Estados e se autonomiza em relação aos seus objetivos nacionais. O esboço de uma máquina de guerra autonomizada foi o fascismo, isto, é no fascismo:
“trata-se de uma máquina de guerra. E quando o fascismo constrói para si uma Estado totalitário não é mais no sentido de uma tomada de poder por um exército de Estado, mas, ao contrário, no sentido da apropriação do Estado por uma máquina de Guerra. (…) Existe no fascismo um niilismo realizado. É que, diferentemente do Estado totalitário, que se esforça por colmatar todas as linhas de fuga possíveis, o fascismo se constrói sobre uma linha de fuga intensa, que ele transforma em linha de destruição e abolição puras”.[ix]
Mas o fascismo era apenas o início disso que viria a ser uma máquina de guerra que se autonomiza em relação ao Estado e devém guerra total. Por isso, na guerra fria:
“não havia mais necessidade do fascismo. Os fascistas tinham sido só crianças precursoras, e a paz absoluta da sobrevivência vencia naquilo que a guerra total havia falhado. Estávamos já na terceira guerra mundial. A máquina de guerra reinava sobre toda a axiomática como potência do contínuo que cercava a ‘economia-mundo’, e colocava em contato todas as partes do universo”.[x]
A guerra fria seria uma guerra total travada mundialmente pela paz e contra um inimigo disperso e seria exigida pela continuação da economia-mundo capitalista que demandava para sua realização o investimento num complexo tecnológico-militar-financeiro. Tal guerra total se caracterizaria: 1) por ser uma mobilização total do investimento do capital em capital constante e variável para constituir uma economia de guerra. 2) por um aniquilamento total que não visa apenas o exército inimigo, mas a população inteira e sua economia. 3) pela constituição de uma máquina de guerra que já não se restringe as determinações do Estado, pois o objeto é uma guerra ilimitada, isto é, que não nem tem um horizonte restrito e determinado de realização. Nesse aspecto, quando a guerra enquanto objeto se torna ilimitado, seus fins já não se restringem as determinações políticas, mas se torna a própria permanência da guerra. É na transposição desse limiar político de determinação dos fins da guerra que começara a se constituir uma máquina de guerra autonomizada e mundial, que traça as novas ordens, os fins, de modo que os “Estados não passam de objetos ou meios apropriados para essa nova máquina”[xi] A guerra fria, ao fazer da paz o objeto da guerra, ao desfazer a distinção entre tempo de paz e tempo de exceção, consolida, assim, a autonomização da guerra ilimitada que excede os Estados e suas decisões sobre a guerra com objetivos limitados, nesse sentido: “é a política que devém a continuação da guerra, é a paz que libera tecnicamente o processo material ilimitado da guerra total.”
Desse ponto de vista, a guerra da ditadura militar brasileira contra o inimigo interno fazia parte dessa mudança histórica da noção de guerra e da constituição de uma máquina de guerra mundial permanente e autonomizada, que continuaria na democracia como guerra ao crime e guerra às drogas.[xii] Essa nova forma de guerra configura, aliás, uma guerra irregular contra os próprios civis, que, segunda as novas doutrinas militares, já não são distinguíveis de terroristas ou criminosos. Como argumenta Achille Mbembe em Crítica da Razão Negra, as novas formas de guerra operam sem distinção entre interno e externo, nacional e transnacional, legal e ilegal:
“Face à transformação da economia da violência no mundo, os regimes democráticos liberais consideram-se agora em estado de guerra quase permanente contra novos inimigos fugidios, móveis e reticulares. O palco dessa nova forma de guerra (que exige uma concepção total da defesa e uma construção dos princípios de tolerância para exceções e infrações) é simultaneamente externo e interno. O clássico paradigma de combate que opõe duas entidades num campo de batalha delimitado, e onde o risco de morte é recíproco, é substituído por uma lógica vertical com dois protagonistas: a presa e o predador”[xiii]
Lembremos que é essa concepção de guerra – que transforma a cidade é um estado de sítio, e que é uma guerra travada contra os pobres, pessoas negras e periféricas, visando, justamente, pessoas que são cada vez mais “abandonadas” pelo Estado no mesmo passo que são excluídas da ordem mercantil centrada no trabalho, sem, entretanto, poder sair dessa forma de sociabilidade de fato[xiv], tornando-se cada vez mais supérfluas do ponto de vista do sistema capitalista – que apareceu no discurso do então secretário da justiça de Michel Temer, em 2018, a respeito do combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro:
“A guerra moderna não é a que lutamos em 1945, que você tinha terreno inimigo, inimigo com uniforme, estruturado, com batalhão, pelotão, companhia etc. Você não sabe quem é o inimigo, a luta se dá em qualquer ponto do território nacional. Você não sabe que arma virá, não sabe quantos virão. O seu inimigo não tem linha de comando longamente estabelecida, tem duas ou três linhas e acabou. Você não tem um centro nevrálgico para atacar, combater e desmontar o batalhão. O Exército não tem sede, está esparramado em qualquer lugar, qualquer ponto do território nacional.”[xv]
Evidentemente, o recurso aos expedientes “extra-econômicos” de violência não é uma novidade na história do capitalismo, mas deve ter ai uma mudança pela qual podemos entender a mudança da violência de direito do capital em sua crise permanente a partir da década de 80. Tal crise, marca assim, o encerramento de uma guerra que poderia ser feita juntamente com “desenvolvimento social”. Não sendo mais uma violência de imposição da forma de valorização e de suas territorialidades numa história ascendente de acumulação de fluxos monetários, deve ter algo de uma violência de desintegração que deve ser realizada para manter o jogo de formas de relações sociais que já não podem ser estabelecidas em seu desdobramento lógico-histórico “normalizado”, mas que tem na própria anomia, ou na própria irregularidade a maneira de mantê-lo, formando, assim, bandos soberanos executores das relações em crise. Stephen Graham em Cidades Sitiadas – O novo urbanismo militar, demonstra que um outro aspecto das guerras realizadas a partir da década de 80 pelas grandes potências aos países do oriente médio transformados em inimigos é conduzir a uma “desmodernização” a partir da destruição de sua infra-estrutura, fazendo-os voltar “à idade da pedra”. Efeito semelhante produz as políticas de austeridade articuladas com as guerras aos pobres que se conduz há anos no Brasil: elas levam a uma destruição das infra-estruturas sociais que permitem a socialização da riqueza (saúde, educação, previdência), ao mesmo tempo que submete as pessoas a uma violência cotidiana nas periferias própria de zonas de guerra. Ou seja, se a modernização significou um processo de integração ascendente de toda a humanidade no interior da ordem social capitalista, a desmodernização significa a sua desintegração sem que nada seja posto no lugar, eliminando Estados e regiões inteiras.
Agamben, assim, pode falar de uma tendência histórica em que a exceção adentra cada vez mais no primeiro plano da vida social: o processo histórico de normalização do poder para assim dar lugar à exceção ou à violência direta e desregrada. Esse processo, como indicamos, está estruturalmente ligado com uma crise absoluta do capitalismo que se inicia na década de 80. Tal crise consiste no tornar estruturalmente obsoleto o dispêndio de trabalho como fundamento da riqueza socialmente produzida, o que, operando como uma “emancipação negativa” tem resultados catastróficos e necropolíticos. Trata-se da centralidade da relação de Bando que é não só uma relação político-jurídica, mas como vimos, econômica e que faz com que cada vez mais as relações sociais baseadas na mercadoria e no dinheiro só possam se estabelecer pelo recurso a violência e a pilhagem social: manter o jogo econômicos só é possível, cada vez mais, pela expropriação urbana a partir da remoções para garantir a especulação financeira, pelo recurso ao uso das armas para realizar empreendimento como: venda de segurança, fornecimento de gás, energia e transporte. E uso do Estado para enriquecimento, transformando o próprio Estado em objeto de pilhagem de bandos ou de máquinas de guerra.
A nota dos militares indica como o governo Bolsonaro é assinada por indivíduos que formam um agenciamento muito distinto da própria instituição militar, o que implica um outro agenciamento enunciativo, que não é aquele do exército, é um agenciamento próprio de bando, extra-institucional, apesar de perpassar as instituições. É um bando com tendência mais ecumênicas do que nacionalitárias, pois baseiam-se na suspensão não só da lei do Estado, na abstração da Forma da lei e da captura que ela realiza do seu fora, mas de uma anomalia permanente da capacidade do dinheiro criar dinheiro enquanto corpo social. O nexo das categorias sociais: mercadoria, trabalho, dinheiro etc., não se faz mais sem a exceção, a ilegalidade, a violação de direitos, a violência armada e sua extensão como numa metástase social em que a conservação da forma social só é possível pela pilhagem, pelo banditismo.
*Danilo Augusto de Oliveira Costa é mestrando no departamento de filosofia da USP.
Notas:
[i] É de Agamben que me aproprio do termo bando, por sua vez inspirada em Jean-Luc Nancy. O termo do antigo germânica desgina tanto a exclusão da comunidade quanto o comando do Soberano, mas que em Agamben designa mais precisamente uma relação não só político-jurídica, mas uma relação que constitui a relação entre Estado e vida, o que está fora e dentro de uma comunidade política definida pelo Estado de Direito. Aqui manterei esses significados, mas modificando-os também. Sobre isso, ver AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. P.36.
[ii] AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: Editora UFMG, p. 202.
[iii] Ibidem, p. 33
[iv] CLASTRES, P. A Sociedade Contra o Estado. In: A sociedade Contra o Estado.
[v] Blanc–Sibertin. Politique et Etat chez Deleuze e Guattari: Essai sur le matérialisme histórico-machinique
[vi] AGAMBEN, G. O Homo Sacer. Op. Cit., p. 115.
[vii] FOUCAULT, M. Segurança, Território, População. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 138
[viii] Ibidem p. 132.
[ix] Deleuze, G. Guattari, F. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 2, vol.3. São Paulo: Editora 34
[x]. Deleuze, G. Guattari, F. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 2, vol.5. p. 182
[xi] Sobre os aspectos da guerra total, ver Deleuze, G. Guattari, F. Op. Cit., p. 115.
[xii] Gabriel Feltran mostra assim como a guerra se torna central para entender nossa democracia: São Paulo, 2015: Sobre a Guerra. Blog da BOITEMPO.
[xiii] MBEMBE, A. Crítica da Razão Negra.
[xiv] Mbembe dramatiza assim nossa situação histórica: “Se, ontem, o drama do sujeito era ser explorado pelo capital, hoje, a tragédia da multidão é não poder já ser explorada de todo, é ser objeto de humilhação numa humanidade supérflua, entregue ao abandono, que já nem é útil ao funcionamento do capital”. (Mbembe, A, Crítica da Razão Negra).
[xv] “Não há guerra que não seja letal”, diz Torquato Jardim ao Correio Braziliense.