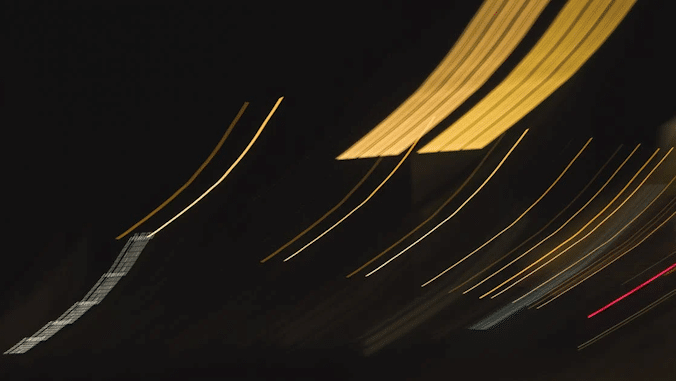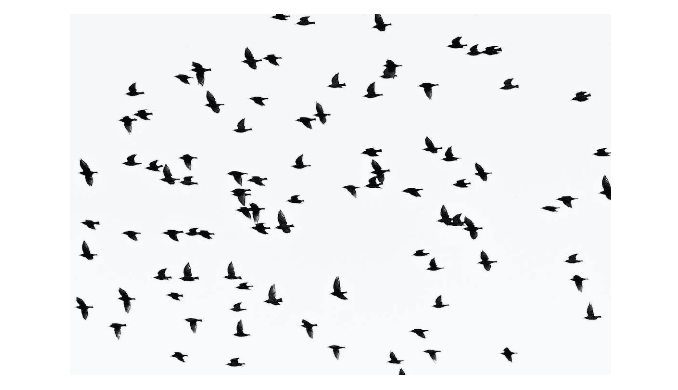Por FABRINA FURTADO & GABRIEL GOMES STRAUTMAN*
A financeirização da natureza, apresentada como solução inovadora, consolida na verdade um paradoxo perverso: subordina a sobrevivência do planeta à lógica do retorno financeiro
1.
Uma década de passou desde a assinatura do Acordo de Paris, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Os compromissos assumidos em 2015, voltados à redução de emissões e à mobilização de recursos financeiros para mitigação, adaptação e descarbonização, seguem longe de serem concretizados. O abismo entre metas meios mobilizados, constitui eixo central das narrativas sobre a crise climática, evidenciando o fracasso das políticas fundamentadas na lógica de mercado, ajustes tecnológicos e disputas de financiamento entre Norte e Sul Global.
Nesse cenário, em nome do clima, proliferam arranjos institucionais e financeiros que reorientam fluxos de capital, por meio da indução à participação e ao fortalecimento do setor privado, bem como da redefinição das funções do Estado. Esse processo chamado de financiamento climático – ou verde – se materializa em instrumentos como ativos verdes, fundos climáticos, mercados de carbono, reforçando e ampliando dinâmicas da financeirização.
A narrativa predominante sustenta que, diante de um Estado ineficiente e sem recursos, o engajamento do setor privado é indispensável. Mas este engajamento depende do próprio Estado, que mobiliza instituições financeiras estatais para reduzir riscos e atrair investimentos. A retórica da escassez de recursos e da alta percepção de risco legitima o uso de dinheiro público por meio de garantias, subsídios e estruturas financeiras ditas “híbridas” (blended finance). Assim, a privatização e a financeirização da política climática avançam, consolidando uma arquitetura em que compromissos ambientais se subordinam às expectativas de retorno privado. O setor público assume papel subsidiário, como amortecedor de riscos. Veremos alguns exemplos.
Diferente de situações de guerra, em que fundos centralizados são mobilizados, a chamada transição ecológica opera no terreno difuso da “autoconfiança coletiva”, sem inimigo externo definido e sem instrumentos que obriguem o setor privado a transformar as suas práticas. A mobilização de recursos depende de compromissos voluntários, dos próprios agentes que estão na origem do problema.
Nas palavras de Chiapello, “não se trata de derrotar um inimigo externo comum, mas sim de derrotar a si mesmos”.[i] Assim, a limitação legal e política reforça narrativas de escassez de recursos públicos e de alto risco climático, consolidando a premissa de que apenas projetos rentáveis atraem capital. Quando isso não ocorre, recorre-se ao Estado para reduzir riscos e garantir rentabilidade. Disfarçada de inovação, a abordagem híbrida transfere recursos públicos para viabilizar lucros privados.
A financeirização da política climática é um desdobramento do regime de acumulação em que a lógica do capital financeiro domina a economia, a política e as relações sociais. Foram assim criados ativos ambientais que transformam a natureza em justificativa e objeto do capital, fortalecendo a influência de atores, instituições, mercados e lógicas financeiras à abordagem da sociedade no que diz respeito “à natureza”. Grandes ONGs têm papel central na difusão de narrativas que legitimam esse modelo, atuando como interlocutores estratégicos entre governos, organismos multilaterais e investidores que promovem reformas na arquitetura financeira global e flexibilizam instrumentos regulatórios em nome da atração de capitais.
O relatório do World Resources Institute (WRI) sobre finanças climáticas de 2025 exemplifica essa abordagem ao projetar a necessidade de US$ 300 bilhões anuais até 2035 apenas para os países em desenvolvimento, e uma meta global de US$ 1,3 trilhão por ano.
Tais números reforçam a tese de que sem o setor privado as metas são inalcançáveis, legitimando mecanismos de alavancagem que utilizam fundos públicos para atrair capital. Em linha semelhante, a declaração dos BRICS em 2025 cobra maior financiamento dos países do Norte e aponta para as finanças híbridas e os mercados de carbono como catalisadores da participação privada.[ii]
2.
Analisaremos essa configuração e suas implicações a partir de quatro processos recentes: (i) as reformas no Banco Mundial destinadas a ampliar sua capacidade de alavancagem financeira; (ii) a proposta promovida sob a chancela brasileira para a criação do Tropical Forest Forever Facility (TFFF) durante a COP 30; (iii) a criação de Fundos de Investimento em Participações (FIPs), com aporte do BNDES, voltados à mineração para a transição energética; e (iv) a nova Lei do Mercado de Carbono no Brasil, que impõe ao setor segurador a obrigação de internalização dos chamados riscos climáticos.
A guinada torna-se evidente nas reformas conduzidas pelo Banco Mundial desde 2023. Sob liderança de Ajay Banga, ex-CEO da Mastercard, a instituição flexibilizou parâmetros de risco, reduzindo a razão capital próprio/empréstimos para ampliar capacidade de crédito em até US$ 190 bilhões. Isso significa assumir maior risco sistêmico em nome da urgência climática, movimento que contraria lições da crise financeira de 2008, quando a alavancagem excessiva foi apontada como fator central da instabilidade global.[iii]
As reformas implementadas têm como principal fundamento um conjunto de estudos técnicos produzidos pela consultoria Risk Control[iv], contratada pela Fundação Rockefeller a partir de uma demanda do G20 para avaliar caminhos de ampliação da capacidade financeira do Banco Mundial. A lógica é a da maximização da alavancagem com base na premissa de que os riscos podem ser redistribuídos, e parcialmente absorvidos, por instrumentos de mitigação ou pela confiança na resiliência da instituição.
O relatório argumenta que as metodologias vigentes superestimam o risco real, resultando em uma subutilização da capacidade de crédito do Banco. Cabe registrar, no entanto, o próprio alerta metodológico emitido pela consultoria: as conclusões dependem de suposições específicas, o que exige cautela na interpretação de valores numéricos sobre a “folga” fiscal, ainda que os achados gerais e suas implicações sejam considerados sólidos e confiáveis.[v]
Essa guinada, legitimada pela narrativa de emergência climática, reforça a tendência de reconfiguração do papel dos bancos multilaterais de desenvolvimento. Ao assumir mais riscos sem contrapartidas proporcionais de seus acionistas, o Banco Mundial reafirma seu papel como indutor da participação privada em investimentos climáticos, mesmo que isso signifique comprometer ainda mais princípios outrora apresentados como referência para a regulação financeira internacional.
O Tropical Forest Forever Facility (TFFF), apresentado como mecanismo de captação de recursos para a preservação de florestas tropicais e com lançamento anunciado para a COP 30, representa mais um caso emblemático de financeirização radical. A inovação alegada é substituir doações tradicionais por captação via mercado, criando um fundo (TFIF) que aplica recursos em carteiras financeiras para sustentar repasses futuros.
Metas ambientais são subordinadas ao desempenho de investimentos. A promessa de US$ 4 por hectare conservado, frente à multa de até US$ 400 por hectare desmatado, revela a desproporção e o caráter punitivo. Além disso, o fundo depende de rendimentos mínimos e está sujeito à volatilidade dos mercados, gerando incerteza para países e comunidades. Ao transformar a natureza em ativo negociável e priorizar a rentabilidade dos fundos, o TFFF reproduz a lógica da mercantilização dos territórios, reduzindo sua complexidade socioambiental a métricas quantitativas.
3.
O desenho de governança, dominado por instituições financeiras, reforça assimetrias e pode enfraquecer a autonomia de povos indígenas e comunidades locais, que recebem apenas uma fração dos recursos e são tratados como potenciais agentes de desmatamento. A promessa de participação direta das comunidades, refletida no compromisso de repassar até 20% dos recursos recebidos pelos países elegíveis diretamente a povos indígenas e comunidades locais, tem levantado suspeitas.
Não apenas por sua formulação vaga e pela ausência de mecanismos concretos de controle social ou de consulta prévia, livre e informada, mas, sobretudo, por se basear na lógica de que é preciso atrair capital privado para “manter a floresta em pé”, como se os povos indígenas e as comunidades tradicionais fossem os principais responsáveis pelo desmatamento.
A iniciativa retira o foco das causas do desmatamento e da necessidade de políticas públicas para fortalecer os territórios tradicionais e se legitima a partir da ideia de que beneficia as comunidades.
A experiência acumulada com projetos de Redução de Emissões do Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+), por exemplo, mostra que o reconhecimento formal de repasses não é suficiente para evitar conflitos e violações, especialmente quando não há consulta livre, prévia e informada, conforme previsto no direito internacional. Em muitos casos, os processos de consulta foram apressados, manipulados ou simplesmente ignorados, desconsiderando as lógicas de tempo, organização e tomada de decisão das próprias comunidades.[vi]
Tudo isso levanta sérias preocupações, sobretudo porque, embora os povos indígenas e as comunidades tradicionais sejam cada vez mais reconhecidos por seu papel na proteção das florestas – e considerados elegíveis para compensações financeiras – esse reconhecimento ocorre apenas na medida em que são enquadrados como potenciais agentes do desmatamento e submetidos à lógica dos mercados e do capital financeiro. Essa condição imposta traz implicações políticas e territoriais profundas. Na prática, o poder decisório e os principais benefícios permanecem concentrados nas mãos de atores privados distantes, com pouca ou nenhuma exposição à responsabilização pública.
Outro aspecto crítico diz respeito à aplicação dos recursos. Parte do capital do TFIF será alocada em títulos da dívida soberana de países em desenvolvimento; ou seja, os países que seriam beneficiários do TFFF tornam-se também emissores dos papéis em que os recursos são investidos. Na prática, configura-se uma engrenagem de reciclagem de dívida: países do Norte aportam capital ao fundo, que é investido em dívidas do Sul, e os juros pagos pelos países em desenvolvimento retornam como lucros aos investidores do Norte. Logo, longe de ser apenas um instrumento de cooperação, o TFFF pode reforçar fluxos assimétricos de transferência de renda em favor dos detentores de capital financeiro.
Nos últimos anos, o uso de Fundos de Investimento em Participações (FIPs) com aporte público se consolidaram como estratégias do Estado brasileiro para financiar setores considerados estratégicos, como infraestrutura e transição energética. A atualização do marco regulatório dos fundos de investimento em 2023 pela Resolução CVM 175 facilitou a estruturação de FIPs temáticos, aproximando o sistema financeiro nacional da lógica das finanças climáticas globais permitindo que bancos públicos atuem como investidores-âncora.
Os FIPs reúnem recursos de investidores para participação direta no capital de empresas, com decisões estratégicas concentradas em gestoras privadas. Quando o poder público atua como investidor-âncora, aporta recursos, assume parte dos riscos iniciais e atrai capital privado, tornando viáveis projetos de alto risco ou retorno de longo prazo, como energias renováveis e minerais críticos.
A justificativa predominante para o uso desses instrumentos tem sido a urgência da transição energética e a necessidade de garantir o fornecimento dos chamados minerais estratégicos para tecnologias como baterias, turbinas e painéis solares; processo já questionado pela sua lógica e implicações. Um exemplo emblemático é a criação, em 2024, de um FIP em minerais estratégicos com participação do BNDES e da Vale, cada um com aporte inicial de R$ 250 milhões[vii].
O fundo terá volume estimado de até R$1 bilhão, voltado ao financiamento de até 20 empresas júnior e de médio porte, com foco em minerais como lítio, cobre, cobalto, níquel, manganês e terras raras. A gestão do fundo será feita por um consórcio privado selecionado por chamada pública, formado pelas gestoras Ore Investments e JGP BB Asset. Apesar do protagonismo do BNDES no aporte de recursos públicos, a decisão final sobre os investimentos caberá à gestora privada, de acordo com as regras do regulamento do fundo.
Isso levanta questões sobre a real capacidade do Estado em direcionar o uso desses recursos para o atendimento de objetivos públicos e climáticos, em especial diante da pressão por rentabilidade. Assim, tudo indica que os projetos priorizados obedeçam mais à lógica de retorno financeiro do que a critérios socioambientais, o que amplia desigualdades territoriais, conflitos com comunidades e implicações ambientais eventualmente irreversíveis.
4.
Entre os dispositivos mais polêmicos da recém-aprovada Lei nº 15.042/2024, que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, destaca-se o Artigo 56, que obriga as seguradoras a aplicar ao menos 0,5% de suas reservas técnicas em chamados ativos ambientais[viii]. O Sistema, além de não enfrentar as causas da mudança climática, legitima a possibilidade das corporações de continuarem poluindo, estimulando a corrida por terras e os conflitos territoriais.[ix] No entanto, o artigo 56 provocou forte reação no setor financeiro, que alega interferência estatal em estratégias de investimento.
A justificativa é dupla: fomentar o mercado verde nacional e internalizar riscos climáticos nas carteiras das seguradoras, altamente expostas a eventos extremos cada vez mais frequentes, como enchentes, secas e incêndios. Esses desastres elevaram custos de indenizações e pressionaram a estabilidade do setor, tornando inevitável revisar modelos de precificação e alocação de recursos. Nesse contexto, o Artigo 56 procura reorientar portfólios para projetos de “resiliência climática”, como reflorestamento e infraestrutura verde. Porém, trata-se mais de uma adaptação de imagem ao mercado do que de mudanças estruturais, já que os prazos de retorno financeiro dificilmente coincidem com ciclos ambientais.
Assim, a obrigatoriedade reforça a financeirização da natureza. Transforma riscos climáticos em ativos de valorização e desloca políticas climáticas para o mercado, tratando a natureza como portfólio de investimento em vez de bem comum. Critérios ESG funcionam como ferramentas de reputação, sem assegurar transformações substantivas. O resultado é priorizar a sinalização de comprometimento climático ao mercado, em detrimento de ações de mitigação reais.
No entanto, entidades do setor classificaram a medida como “intervenção indevida” e estimam que ela movimente até R$ 9 bilhões. Alegam falta de ativos ambientais de qualidade e risco às carteiras. A CNseg chegou a questionar a constitucionalidade do artigo no STF. O governo, por sua vez, o defende como alavanca para estruturar um mercado climático robusto. A Susep, ligada ao Ministério da Fazenda, acompanha a implementação, destacando desafios regulatórios, mas também oportunidades de ampliar o mercado de créditos de carbono.
O Artigo 56 se insere, assim, na tendência mais ampla de mobilização, ainda que por força da lei, de capitais privados por meio da financeirização da natureza, como ilustram iniciativas aqui já discutidas, a exemplo do TFFF e dos FIPs com aporte público. Logo, deve ser compreendida como expressão emblemática da financeirização da natureza: legitima a noção de risco climático como oportunidade de valorização de ativos e, mais uma vez, desloca o centro das políticas climáticas para os mercados financeiros.
A natureza passa a ser tratada como base para um portfólio de investimento, e não mais como bem comum. Em vez de fortalecer a regulação voltada à redução efetiva de emissões ou à transformação das práticas produtivas, a medida introduz um arranjo normativo que reforça a lógica de autorregulação do capital, utilizando critérios de Environmental, Social and Governance (ESG) como ferramentas de “capital reputacional”[x] mais do que instrumento de mudança substantiva. Ao obrigar as seguradoras a investir em “ativos ambientais”, o dispositivo legal prioriza a sinalização de comprometimento climático ao mercado e à gestão da imagem de risco das próprias seguradoras, em detrimento de uma ação climática estruturante.
5.
Os quatro casos aqui analisados — as reformas no Banco Mundial, o Tropical Forest Forever Facility (TFFF), os Fundos de Investimento em Participações (FIPs) voltados à mineração com recursos do BNDES e a nova Lei do Mercado de Carbono no Brasil – revelam o quanto a arquitetura das finanças climáticas tem sido moldada por uma lógica de alavancagem de capital privado, ancorada na atuação do Estado como redutor de risco e garantidor de rentabilidade. O discurso de urgência climática tem legitimado a flexibilização de regras e de direitos e a absorção pública de riscos, tudo em nome da atratividade financeira dos projetos.
Ao priorizar mecanismos que operam segundo critérios de retorno financeiro, essa nova geração de políticas climáticas oculta e ou marginaliza a necessidade de políticas e projetos de longo prazo, como aqueles voltados à transformação de sistemas produtivos e à regularização fundiária. Reforça-se, assim, a concentração de recursos em ativos considerados seguros pelos mercados e não necessariamente nos mais urgentes do ponto de vista socioambiental. O uso de instrumentos como blended finance, garantias públicas e exigências regulatórias de investimento, como no caso das seguradoras, expõe a assimetria estrutural na qual o risco é socializado enquanto os lucros permanecem privados.
A crescente adoção da categoria “risco climático” representa um deslocamento significativo na forma como a crise climática é compreendida e enfrentada. Ao traduzir a crise em termos de risco, prioriza-se uma abordagem tecnocrática e gerencial, voltada à quantificação das incertezas, a modelagem de cenários e a formulação de respostas consideradas financeiramente viáveis e, muitas vezes, lucrativas. Essa mudança de enquadramento favorece a financeirização da crise, transformando vulnerabilidades socioambientais em oportunidades de investimento e securitização, ao mesmo tempo em que obscurece as causas estruturais da crise climática e silencia as lutas por justiça climática.
A linguagem do risco atua como vetor de despolitização do debate climático. Em vez de responsabilizar os países e corporações historicamente mais emissores, ela contribui para a consolidação de um regime climático global que protege esses interesses, ao mesmo tempo em que transfere o ônus da adaptação e da reparação para os países do Sul Global e, sobretudo, para os povos mais vulnerabilizados. O custo político dessa virada tecnocrática das finanças climáticas reside justamente na renúncia ao enfrentamento das causas estruturais da crise em nome da gestão eficiente de seus sintomas.
A financeirização da natureza, travestida em neutralidade técnica, opera como um mecanismo de despolitização da transição ecológica, enfraquecendo seu potencial transformador. Não há justiça climática possível quando os instrumentos criados para enfrentá-la reforçam os interesses de quem mais se beneficia da instabilidade ecológica que dizem querer mitigar.
*Fabrina Furtado é professora de Ciências Sociais Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
*Gabriel Gomes Strautman é mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ.
Notas
[i] Chiapello, Eve. Stalemate for the financialization of climate policy. Economic sociology_the european electronic newsletter Volume 22, Number 1, November 2020
[ii] BRICS. Declaração de Líderes do BRICS. Rio de Janeiro, 6 jul. 2025. Disponível neste link.
[iii] The Guardian. World Bank chief resigns after climate stance misstep. Publicado em 15 fev. 2023. Disponível neste link; Shalal, A. World Bank chief Banga unveils new plans to boost lending firepower. Reuters, 18 jul. 2023. Disponível neste link.
[iv] Risk Control Limited. About Us. n.d. Disponível neste link.
[v] Risk Control Limited. Ratings and Capital Constraints on IBRD and IDA. [s.l.]: Risk Control Limited, 1 set. 2023a.
[vi] Paim; Furtado, op. cit.; WRM é de 2022, na verdade: WRM. 15 anos de REDD: um esquema corrompido em sua essência. WRM, 2022. Disponível neste link.
[vii] Terra. Vale e BNDES investirão R$250 mi cada em fundo para minerais estratégicos. Terra, 2024. Disponível neste link.
[viii] BRASIL. Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024. Institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 dez. 2024. Disponível neste link.
[ix] Furtado, F; Strautman, G. O direito de poluir como política climática: uma análise crítica da Lei nº 15.042/2024, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. In. Paim, E; Furtado, F. Politizando o clima: poder, territórios e resistência. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo; Funilaria, 2025.
[x] Designa a capacidade das grandes corporações e do próprio capitalismo apresentarem-se como comprometidos com a defesa do meio ambiente e o combate à pobreza. Ver: BOISTEL, Philippe. Reputation: un concept à définir. Communication et organisation, v. 46, p. 211-224, 2014.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA