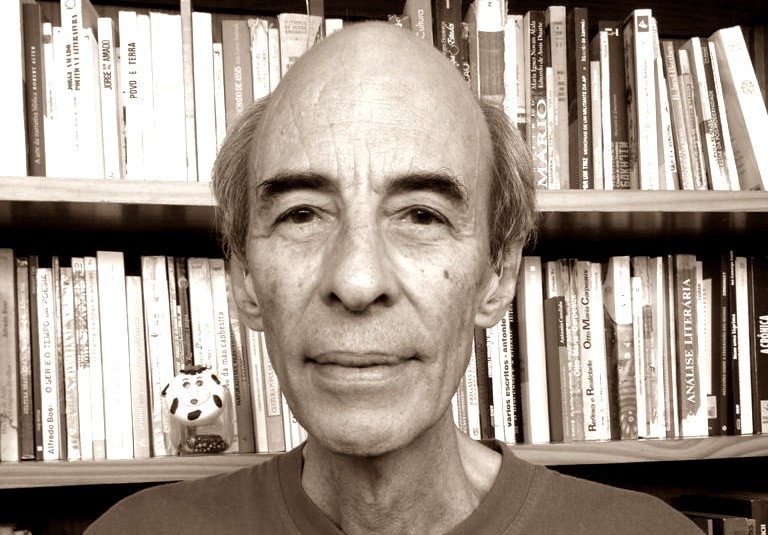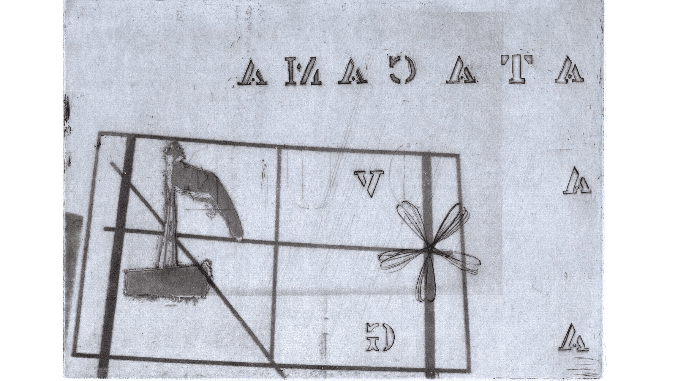Por CELSO FREDERICO*
Um esboço de interpretação histórica da oposição entre o universalismo e o culto às diferenças.
A interpretação da cultura já esteve vinculada sucessivamente a diversos conceitos, como nação, classes sociais, grupos, indivíduos.
(I) Muito se escreveu sobre “o caráter nacional” de um povo ou da literatura como expressão da formação da nacionalidade. No movimento pela independência das colônias nas Américas, por exemplo, a literatura adquiriu uma função política: formar o ideário nacional.
A reivindicação da particularidade de cada cultura nacional foi também o argumento usado contra o discurso universalista dos direitos humanos, tal como era propagado pelo Iluminismo. Os adversários do Terceiro Estado, na Europa, recorreram à tradição, aos costumes, ao folclore, ao “espírito do povo”, àquilo que é comum num país determinado, vale dizer, a sua cultura.
Iniciava-se, assim, um embate de longa duração. De um lado, os defensores do secularismo, do racionalismo, dos direitos universais do homem e de seu corolário político (a democracia) e filosófico (o pensamento totalizador). De outro, os críticos modernos do universalismo apelarão para a particularidade, a diversidade, o direito à diferença, o pluralismo, a tolerância e seu corolário político (o liberalismo) e filosófico (o nominalismo).
(II) Mas a cultura também costuma aparecer vinculada às diversas classes sociais. No pensamento marxista, essa vinculação foi pensada de diferentes modos.
Num ponto extremo estão os defensores da proletkult com sua crença na existência de uma cultura própria da classe operária. Aqui, cultura e ideologia são equiparadas enquanto expressões imediatas dos interesses classistas. Uma versão sofisticada da vinculação classe/cultura encontra-se na obra de Lucien Goldmann e em sua teoria sobre a “homologia das estruturas” – a correlação necessária entre classes sociais e formas de expressão artísticas.
A equiparação entre cultura e ideologia ganhou contornos rígidos em Althusser e sua famosa teoria sobre “os aparelhos ideológicos do Estado”. De certa forma, pode-se fazer uma analogia entre essa teoria e o velho positivismo que via a consciência humana moldada integralmente pelas instituições. Os leitores de Durkheim devem se lembrar do papel coercitivo que a “consciência coletiva”, encarnada nas instituições, exerce sobre a consciência individual. De modo assemelhado, os aparelhos ideológicos formatam a consciência dos indivíduos. Há uma indisfarçável ontologização da ideologia nessa versão estruturalista do marxismo: as ideologias “falam” através dos indivíduos. Como consequência dessa concepção determinista, o sujeito desaparece. Ele, aliás, é o “assujeitado”, o “interpelado”, o canal por onde escoam as ideologias.
No campo marxista, a relação entre cultura e ideologia será o divisor de águas que irá separar os discípulos de Gramsci dos de Althusser.
A equiparação entre cultura e ideologia não existe em Gramsci, autor preocupado em ver como a realidade das classes é vivida, interiorizada e expressa. Assim pensando, Gramsci via a cultura em sua relação viva com os processos sociais, a estrutura de poder e a luta pela hegemonia. Cultura não é mais um reflexo passivo da base material e nem uma formação coerente e fechada como a ideologia, mas um campo de tensão onde se trava a luta pela hegemonia. E quem fala em hegemonia, fala também em contra-hegemonia.
Gramsci, assim, passou a ser a referência dos estudos marxistas da cultura, como aqueles realizados por Thompson, Williams e Stuart Hall.
Essa orientação, que vinculava a cultura com as classes sociais, será, entretanto, progressivamente abandonada. Figura chave nesse percurso é Hall, autor que passou a ser a principal referência dos Cultural Studies. Gramsci continua a ser citado, mas o seu pensamento, como veremos, foi “adaptado” às teorias culturalistas.
(III) Em seus primeiros trabalhos, Stuart Hall pensava a cultura em suas relações com a economia, o poder e as classes sociais. Seus estudos nos anos 60 sobre a subcultura juvenil mostram o aguçamento das desigualdades sociais. Os temas então dominantes na sociologia – welfare state, manipulação das massas, passividade – eram contestados por Hall em sua preocupação com as formas de resistência contra-hegemônicas da juventude. Mesmo o famoso ensaio sobre Codificação/Decodificação, apontava para a resistência oposicionista que parecia ter como pano de fundo a existência das classes sociais e de suas lutas.
A virada para as teses pós-modernistas ocorreu durante o thatcherismo. Estudando esse fenômeno, Hall constatou como ele pôs fim ao referencial teórico das esquerdas. Thatcher atacou de frente o movimento sindical e nem por isso a classe operária reagiu. A partir daí, Hall abandonou o referencial classista, decretando o fim das “solidariedades tradicionais”, preferindo falar sobre outras formas de identificação baseadas no gênero e etnia para, finalmente, remeter o tema da identidade para o indivíduo, o sujeito nômade, flutuante, híbrido, portador de influências díspares.
Esse percurso tortuoso acabou por aproximá-lo de Antonio Negri na busca de forças sociais capazes de resistir à globalização: “Não o proletariado, nem o sujeito descolonizado, mas sobretudo o que Antonio Negri chama de “multidões”, forças difusas. Há toda espécie de forças que não podem ser unificadas pelo que é chamado de nova ordem mundial. E eu ouço essas vozes na arte, na música, na literatura, na poesia, na dança. Eu ouço essas vozes que ainda não podem realizar-se como sujeitos sociais coletivos”.
Teoria sem disciplina
Nesse percurso das classes sociais ao indivíduo, o pensamento de Gramsci, em Hall, sofreu drásticas transformações, sendo substituído pelo “pós-método” ou “pós-metodologia”. A atração exercida pelo pós-estruturalismo foi assim explicada por Hall: “agrada-me ser eclético, diria “ilógico”. Não me agrada ficar ligado a um único sentido dos conceitos, agrada-me tirá-los de suas posições originais, ver se conseguem funcionar em outras prospectivas. É isso que eu chamo de “pensamento indeterminado”, considero-me certamente um autor “indisciplinado”. Ainda mais porque o próprio mundo tornou-se um lugar “indeterminado”, onde tudo se entrelaça, não pode ser enfrentado com conceitos ou categorias rígidas. A interconexão dissolve as diferenças radicais ou absolutas. Por isso, tenho sido atraído pelas concepções pós-estruturalistas sobre o processo de significação”.
“Conceitos ou categorias rígidas” dizem respeito, basicamente, às relações entre a base material e a superestrutura e, também, a “determinação em última instância” pela primeira. A imagem espacial e dualista de Marx – base e superestrutura – havia sido contestada por Raymond Williams que não aceita conceber a cultura como reflexo da superestrutura. Originalmente, diz ele, cultura referia-se a cultivo, colheita. A palavra, assim, remetia à prática material dos homens. Sendo assim, a arte, por exemplo, não é reflexo, mas um produto material.
Os seus produtos são materiais (livro, quadro, disco) e os meios com os quais trabalha também são materiais (papel, tinta, petróleo). A metáfora espacial de Marx, contudo, reproduz a separação entre a esfera material (a produção) e a superestrutura (cultura, arte). Para unificar as duas esferas, Williams propõe uma nova concepção: o “materialismo cultural”, que entende a cultura como uma força produtiva, pois, sem ela, a produção mercantil não se realiza.
Hall, que durante tantos anos trabalhou e conviveu com Williams, tinha à sua disposição essa visão materialista, histórica e totalizadora. Mas, curiosamente, preferiu aproximar-se de Althusser.
Althusser foi um dos primeiros a reelaborar a categoria modo de produção, que, em Marx, dizia respeito sobretudo à base material. Modo de produção, para Althusser, é uma estrutura formada por três instâncias: a econômica, a jurídico-política e a ideológica, cada uma delas dotada de autonomia relativa, de níveis próprios de historicidade. A base econômica é determinante em última instância, mas outra instância pode ser a dominante: no feudalismo, a instância ideológica; no capitalismo, a econômica é tanto determinante como dominante.
Assim pensando, Althusser procurou criticar o determinismo monocausal, o primado absoluto da economia. As lutas sociais poderiam então ser pensadas num leque mais amplo. Por exemplo: as lutas ideológicas do movimento feminista ou das minorias étnicas, cuja dinâmica não pode ser reduzida somente à dimensão econômica. O marxismo, desse modo, iniciava a passagem do privilégio concedido às classes sociais e à luta de classes para os movimentos sociais moleculares.
No campo teórico, o caminho que leva do determinismo rígido para a indeterminação celebrada por Hall estava, enfim, aberto. O próprio Althusser referia-se à “hora longínqua e apagada” da determinação econômica. O modo de produção, como vimos, foi fragmentado por Althusser para, assim, autonomizar as “instâncias”. A intenção perseguida era livrar-se da “totalidade expressiva” de Hegel – um todo que se reflete e se faz presente em todos os momentos particulares. Althusser prefere falar em “todo-complexo-estruturado-já-dado” para afastar-se daquela visão que lhe parece simplista e historicista e, assim, pôr em relevo a articulação das diferentes instâncias.
Yuri Brunello, numa análise brilhante, observou que Hall pretendeu transformar Gramsci “em uma espécie de idealizador ante litteram da teoria das articulações, vale dizer, da visão que Hall deriva de Althusser via Laclau, segundo a qual as forças sociais, as classes, os grupos e os movimentos políticos não se tornariam unitários por causa dos condicionamentos econômicos objetivos para depois dar lugar a uma ideologia unificada, mas seguiriam o processo oposto. Qual processo?” Segundo as palavras de Hall, os grupos sociais se constituem como agentes políticos através da “ideologia que os constitui”.
Não são as condições materiais de existência que possibilitam a convergência de interesses. A visão desmaterializada de Hall retoma a ontologização da ideologia, tal como preconizada pelo estruturalismo (Althusser, Pêcheux, Foucault) e reafirmada pelos pós-estruturalistas.
Olhando retrospectivamente para os Cultural Studies, Hall arriscou uma definição para dar conta da heterogeneidade de temas e abordagens: “os cultural studies são uma formação discursiva, no sentido de Foucault”. Para este autor, as formações discursivas integram a “arqueologia do saber” – uma história do pensamento centrada na análise das “regras de formação” através das quais os enunciados alcançam uma unidade. O discurso científico não é mais a reprodução do real, pois é ele, contrariamente, quem constitui os objetos da ciência.
O que interessa a Foucault é o estudo das práticas discursivas, que estabelecem “as condições de exercício da função enunciativa”. Sai assim de cena a concepção de ciência como conhecimento do mundo exterior, como tentativa racional de desvelar o em-si da realidade. O que interessa à arqueologia foucaultiana é a compreensão da prática discursiva, pois é ela que constrói os objetos a serem estudados. A ideia de referente não consta dessa empreitada, pois as coisas não têm significados intrínsecos – somos nós que atribuímos sentidos a elas.
A mudança de orientação teórica que aproximou Hall do pós-estruturalismo e, como consequência, com os estudos pós-coloniais, teve resultados paradoxais. O “pensamento indeterminado”, por exemplo, tem permitido aos adeptos dos Cultural Studies falar sobre todos os assuntos, sem os rigores do pensamento científico. A “transdisciplinariedade” ocupou o lugar da interdisciplinariedade, pois esta, segundo Hall, conserva as “velhas disciplinas”, como a sociologia, estudos literários etc. Desse modo, celebra-se, de fato, a ausência de disciplina.
Pode-se fazer uma análise sociológica, sem o controle exercido pelos dados empíricos; discorrer sobre temas filosóficos sem o rigor que o pensamento filosófico exige; escrever sobre literatura sem o enfrentamento com o texto, o contexto e a especificidade do literário, reduzido que foi a um texto cultural equivalente a qualquer outro; pode-se também estudar a história sem o rigoroso cotejo com os documentos e as fontes primárias.
Estamos, portanto, girando em falso no campo do discurso e, pior, é através dele que se pretende compreender o mundo que nos cerca. A “virada linguística” de Hall, entretanto, convive com as referências constantes a Gramsci. Além de linguística, a virada também é cultural, pois, segundo afirma Hall, “o capitalismo contemporâneo funciona através da cultura”. Gramsci é então convocado para, uma vez mais, ser um aliado na luta contra o “essencialismo” e o “determinismo” econômico – fantasmas que Hall pretende exorcizar. É o que veremos a seguir.
Contra o “essencialismo”: a cultura popular e o negro
Levando adiante o projeto pós-estruturalista, Hall pretende desconstruir todos os referentes fixos. É o caso, por exemplo, da “cultura popular”: “assim como não há um conteúdo fixo para a “cultura popular”, não há um sujeito determinado ao qual se pode atrelá-la – “o povo”. O “povo” nem sempre está lá, onde sempre esteve, com sua cultura intocada, suas liberdades e instintos intactos”.
Em outro ensaio, Hall analisa a categoria “raça”. Esta, tradicionalmente, nomeava e identificava um sujeito. Em seu empenho desconstrutivista, Hall recorre ao conceito de etnicidade para distinguir as várias subjetividades recobertas pela indistinta categoria “negro”. Um negro jamaicano, como Hall, não é o mesmo que um negro africano ou americano. Assim, contra o “essencialismo” ele acena para os posicionamentos e reposicionamentos. Não há mais ponto de apoio fixo, mas sim um deslizante hibridismo: “os negros da diáspora britânica devem, nesse momento histórico, recusar o binário negro ou britânico” e aderir à fórmula “negro e britânico”, pois assim se passa para “a lógica do acoplamento, em lugar da lógica da oposição binária”. Mas, mesmo esses dois termos acoplados “não esgotam as nossas identidades”.
Saímos, portanto, da genética para ingressarmos na cultura e na vertigem das proliferantes diferenças: da classe ao povo, deste para os grupos sociais e para os indivíduos. O “negro essencial” não existe e, com essa convicção, Hall afirma que “é para a diversidade e não para a homogeneidade da experiência negra que devemos dirigir a nossa atenção”, pois “há outros tipos de diferença que localizam, situam e posicionam o povo negro. (…). Estamos constantemente em negociação, não com um único conjunto de oposições que nos situe sempre na mesma relação com os outros, mas com uma série de posições diferentes. Cada uma delas tem para nós o seu ponto de profunda identificação subjetiva. Essa é a questão mais difícil da proliferação do campo das identidades e antagonismos: elas frequentemente se deslocam entre si”.
O negro, como se pode ver, é um significante flutuante que se posiciona e se reposiciona de acordo com os diferentes contextos que interpelam a sua subjetividade. Evidentemente, essa concepção traduz, no plano dos estudos culturais, as ideias pós-estruturalistas em seu movimento de afirmação das diferenças e de crítica das identidades “essenciais”.
É sobre esta última que se volta o comentário em que Hall força uma divergência entre Gramsci e Marx: “Ele [Gramsci] nunca incorre no erro de acreditar que, já que a lei do valor tende a homogeneizar a força de trabalho em toda a época capitalista, então pode-se presumir que essa homogeneização exista em uma dada sociedade. De fato, creio que a abordagem de Gramsci nos conduz a questionar a validade dessa lei geral em sua forma tradicional, uma vez que, precisamente, ela nos encoraja a ignorar as formas pelas quais a lei do valor, que opera no global em oposição à escala meramente doméstica, funciona através de e por causa do caráter culturalmente específico da força de trabalho, e não – como a teoria clássica nos faria supor – pela sistemática erosão daquelas distinções como parte inevitável de uma tendência de época da história mundial. […]. Conseguiríamos compreender melhor como o regime de capital funciona através da diferença e da diferenciação, e não através da semelhança e da identidade, se levássemos mais seriamente em consideração a questão da composição cultural, social, nacional, étnica e de gênero das formas de trabalho historicamente distintas e específicas”.
A lei do valor, uma vez mais, é vítima de interpretações distorcidas. Marx e, antes dele, a economia clássica, pretendia explicar o princípio que regulava o intercâmbio entre mercadorias diversas. O que permite a comparação entre valores de uso diferentes? A referência ao tempo de trabalho necessário – trabalho abstrato – foi vista como a melhor resposta para um tema central da economia política. A dissolução das diferenças qualitativas numa medida foi a solução encontrada, pois só existe comparação possível entre coisas que tenham algo em comum. Essa redução, contudo, foi operada pelo próprio mercado e não por Smith, Ricardo e Marx – eles apenas captaram no plano conceitual uma realidade posta pela prática social dos homens. A teoria é “verdadeira” para o pensamento porque existente na vida real. Estamos no campo da ciência e da ontologia e não no discurso.
Há outras decorrências da lei do valor que poderiam interessar às preocupações culturais e identitárias de Hall.
Para Marx, diferentemente de seus predecessores, a lei do valor além de ser uma medida é também e principalmente uma teoria sobre a sociabilidade reificada no mundo capitalista. O caráter social dos diferentes trabalhos concretos só se manifesta na forma-mercadoria que homogeneiza as diferenças, reduzindo as diversas formas operantes à condição de trabalho abstrato. Os resultados dessa homogeneização se estendem também à superestrutura, ao plano cultural: Adorno teve o mérito de construir a teorização sobre a indústria cultural tendo como referência a padronização imposta pela lei do valor que se espalha da economia para todos os poros da sociedade.
Mas, além do intercâmbio mercantil e da mercantilização da cultura, a lei do valor impõe um padrão de sociabilidade que molda a subjetividade dos indivíduos que não conseguem reconhecer a criação do valor como resultado de sua própria atividade e, por isso, vivem num mundo fantasmagórico em que as coisas parecem governar a realidade, sensação que reforça um comportamento resignado perante um mundo incompreensível.
Marx, entretanto, mostrou que os trabalhadores não podem se acomodar definitivamente a uma situação que os iguala às coisas. A força de trabalho – a mercadoria animada – reage à desumanidade do mundo burguês. E a sua revolta é possibilitada pela condição comum – pela igualdade – a que foram relegados e não pelos arranjos incertos e transitórios das variantes culturais, sexuais e étnicas.
A alienada sociabilidade capitalista estrutura-se sob a base da contradição social e é esta que põe os homens em movimento. Mas Hall, contrariamente, prefere falar em “negociação”, termo extraído do mundo mercantil, para referir-se à formação das identidades híbridas, que “confere a cada indivíduo, dilacerado e cindido pelo jogo do capitalismo, a ilusão da recomposição numa ótica de experiências, valores e projetos compartilhados”.
Contra o determinismo: as classes sociais
A celebração das diferenças culturais, como vimos, voltou-se contra a lei do valor da economia clássica e procurou ter em Gramsci um aliado. O mesmo argumento que sustentou essa crítica – a recusa à homogeneização em nome das diferenças – reaparece na discussão sobre as classes sociais. Estas não se organizariam em função de uma mesma posição na estrutura produtiva.
Para Hall, esta é uma concepção simplista de unidade pré-determinada. Por isso, prefere falar num processo instável de unificação, sujeito às mutantes “negociações”: “não há identidade ou correspondência automática entre as práticas econômicas, políticas e ideológicas. Isso começa a explicar como a diferença étnica e racial pode ser construída como um conjunto de antagonismos econômicos, políticos e ideológicos, dentro de uma classe que é submetida a formas mais ou menos semelhantes de exploração…”. A teoria marxista das classes é substituída por “modelos de estratificação mais pluralísticos”. Para essa substituição, contudo, Gramsci não é um bom aliado.
Quando Gramsci fala em classes sociais e luta de classes, ele pensa sempre na necessidade de unificação a ser construída a partir dos interesses materiais: estes permitem a unidade e não a ideologia ontologizada, tal como a entende o estruturalismo e o pós-estruturalismo. Gramsci é explícito: “Qual é o ponto de referência para o novo mundo em gestação? O mundo da produção, o trabalho”.
Com essa referência material, ele trouxe para o marxismo o conceito de “vontade geral”, que, nos Cadernos do cárcere, muitas vezes, é chamado de “vontade coletiva nacional-popular”. Em todas as acepções, a vontade geral efetiva um princípio de universalização, representa a vitória do interesse comum sobre os interesses privados.
Já em Rousseau, um dos interlocutores de Gramsci, ela é a vontade de uma comunidade determinada, a expressão da igualdade, do bem-comum perseguido, que protege os indivíduos contra suas próprias paixões. A volonté générale não se identifica com a vontade de todos – a soma das vontades particulares que expressam o interesse privado.
O conceito reaparece na Filosofia do direito de Hegel, como uma decorrência do movimento objetivo do Espírito que se completa no Estado (visão distante do contratualismo rousseauniano). Entre os interesses privados e o interesse público há instâncias mediadoras que encarnam o que ele chama de “eticidade” – os valores que historicamente se desenvolveram na vida social e que fazem a ponte entre os interesses privados (a vontade singular dos indivíduos) e a vontade geral (que se realiza no Estado).
Carlos Nelson Coutinho observou que “enquanto para o pensador genebrino a vontade geral resulta do esforço ético dos cidadãos para pôr o interesse geral acima do interesse particular, o que Hegel chama de “die objektive Will” é o resultado um pouco fatalista do próprio movimento do Espírito”. Seria, digamos, um produto da “astúcia da razão”, que, nos bastidores, comanda o movimento da vida social. Coutinho procurou mostrar como Gramsci oferece uma superação dialética entre a visão subjetivista, do primeiro, e objetivista, do segundo.
Para Gramsci, a vontade tem uma dupla determinação. Inicialmente, à vontade é reservado um papel ativo, uma iniciativa que foge do cego determinismo objetivista do sistema hegeliano. O exemplo citado por Carlos Nelson Coutinho é a reflexão gramsciana sobre o “moderno Príncipe” e sua ação consciente que não se rende ao determinismo. Mas isso não significa voluntarismo caprichoso, dever-ser abstrato movido pelo imperativo ético. A vontade, contrariamente, se orienta pelas “condições objetivas postas pela realidade histórica” – ela pressupõe, portanto, um núcleo “racional” e “concreto”. Ou como diz Gramsci: “a vontade como consciência operosa da necessidade histórica, como protagonista de um drama histórico real e efetivo”.
Como se pode ver, o foco de Gramsci procura ligar não só os indivíduos entre si como também os indivíduos com a “necessidade histórica de um drama real e efetivo”. Há um claro movimento de transcendência: ir além do momento presente, recusando os grilhões da férrea necessidade e, também, o desejo de universalização, de superação da mera individualidade, pois nesta ficamos restritos à “vontade de todos”, isto é, a somatória dos interesses privados. Na “vontade coletiva nacional-popular”, há, contrariamente, uma superação da esfera privada, dos interesses econômico-corporativos, que faz nascer uma consciência ético-política. Os indivíduos, então, manifestam plenamente a sua sociabilidade, são “indivíduos sociais”.
Gramsci retoma esse movimento de universalização quando escreve sobre “o homem-indivíduo e o homem-massa”. Uma multidão de indivíduos, diz ele, “dominada pelos interesses imediatos ou tomada pela paixão suscitada pelas impressões momentâneas […] unifica-se na decisão coletiva pior…”; nessas multidões, “o individualismo não só não é superado, mas é exasperado…”. Numa situação de assembleia, contrariamente, “os elementos desordeiros e indisciplinados” são unificados “em torno de decisões superiores à média individual: a quantidade transforma-se em qualidade”.
Na sequência, Gramsci observa que o homem-coletivo do passado existiu sob a forma da liderança carismática. Assim, obtinha-se “uma vontade coletiva sob o impulso e a sugestão imediata de um “heroi”, de um homem representativo; mas essa vontade coletiva era devida a fatores extrínsecos, compondo-se e decompondo-se continuamente. O homem coletivo de hoje, ao contrário, forma-se essencialmente de baixo para cima, à base da posição ocupada pela coletividade no mundo da produção.
Com essa visão de quem quer ir além do imediato e projetar o caminho para uma nova sociedade e uma nova cultura, Gramsci não autonomiza a superestrutura e muito menos interpreta a cultura como um obstáculo intransponível entre os homens, um empecilho impedindo a unificação. Ilustrativa de sua posição é a correspondência com sua cunhada Tatiana a respeito do filme “Dois mundos”, que conta a impossibilidade de amor entre uma jovem judia e um tenente austríaco. Tatiana assistiu ao filme e, escrevendo para Gramsci comentou: “[O filme] dá a entender que a união é impossível, dado que [os amantes] pertencem a dois mundos diferentes. O que pensa a respeito? Mas eu penso, realmente, que o mundo de um é diferente do mundo do outro, são duas raças diferentes, é verdade”.
A resposta de Gramsci, em tom áspero, expressa a sua indignação com o comentário da cunhada: “Como pode acreditar que existam estes dois mundos? Este é um modo de pensar digno dos Cem-Negros, da Ku Klux Khan americana ou das suásticas nazistas”. Numa outra carta, voltou ao tema: “O que quer dizer com a expressão “dois mundos”? Que se trate de algo como duas terras que não podem se aproximar e estabelecer comunicação entre si? […]. A quantas sociedades pertence cada indivíduo? E cada um de nós não faz esforços contínuos para unificar a própria concepção de mundo, na qual continuam a subsistir fragmentos heterogêneos de mundos culturais fossilizados? E não existe um processo histórico geral para unificar continuamente todo o gênero humano?”.
Tal procedimento discrepa do encaminhamento proposto por Hall que exaspera as diferenças e, assim fazendo, mantém os indivíduos presos em seus particularismos étnicos, culturais, sexuais etc. O impulso para fora, o reencontro de todos como integrantes do gênero humano, como “indivíduos sociais”, foi por Hall substituído pelo movimento para dentro, que conduz ao interminável jogo serial da diferenciação. Assim, apoiando-se em Laclau pôde afirmar que o universal é um signo vazio, “um significante sempre em recuo”.
Quando Gramsci fala em unificação, não pensa somente na política como o caminho para superar as contradições sociais. Também a cultura é parte estratégica desse movimento. É ilustrativo o conceito de nacional-popular, conceito tão mal interpretado quando identificado a um nacionalismo estreito ou, então, como uma concepção estética “popularesca” superada pelo advento da cultura “internacional-popular”.
A primeira coisa a ser lembrada é que para Gramsci o nacional-popular nomeava um objeto inexistente na Itália. Em seus textos, é comum a comparação com a França, país em que os escritores eram homens públicos que expressavam os anseios populares. Na Itália, contrariamente, havia um abismo a separar os escritores do povo e da nação. O nacional-popular, no contexto italiano, significava uma reivindicação, um caminho na luta pela hegemonia. O internacionalista Gramsci nunca foi adepto do nacionalismo: “Mas uma coisa é ser particular, outra é pregar o particularismo. Aqui reside o equívoco do nacionalismo. […]. Ou seja, nacional é diferente de nacionalismo. Goethe era “nacional” alemão. Stendhal “nacional” francês, mas nenhum dos dois era nacionalista. Uma ideia não é eficaz se não for expressa de alguma maneira, artisticamente, isto é, particularmente”.
“A nacionalidade é uma propriedade primária”, diz Gramsci, por isso ela pode se fechar no particularismo ou, como quer o autor, se abrir para a universalização. É para essa última possibilidade que se volta o nacional-popular – ele é um momento de passagem para “todo o gênero humano historicamente unificado em um sistema cultural unitário”.
O cenário histórico
Caberia um comentário final para interpretar historicamente a oposição entre o universalismo e o culto às diferenças.
Hegel foi o primeiro a observar que a ideia de universal não nasceu da cabeça de nenhum filósofo. Ela, ao contrário, foi posta no interior da vida social antes de chegar à consciência dos homens. Coube ao cristianismo o mérito de afirmar a existência de um único deus para todos os homens. Rompendo com o politeísmo, o cristianismo introduziu na vida social o princípio universalista e, por extensão, a ideia da igualdade entre os homens. Com isso, ele foi além das antigas religiões nacionais e tribais que dividiam a humanidade em comunidades estanques e hostis, cada qual adorando o “seu” deus.
O princípio universalista e a igualdade entre os homens foram bandeiras do Iluminismo que informaram a Declaração dos Direitos Humanos. Na sequência, o marxismo passou a lutar pela igualdade econômica entre os homens.
Não por coincidência, as correntes intelectuais que celebram as irredutíveis diferenças são contemporâneas da derrocada do mundo socialista, que, bem ou mal, fazia da igualdade o objetivo a ser perseguido pela humanidade. No mesmo período, a igreja católica abandonou a teologia da libertação enquanto assistia à ascensão das seitas evangélicas e sua “teologia da prosperidade”, e dos diversos fundamentalismos, aferrados ao intolerante particularismo.
Eric Hobsbawn, analisando as tragédias do século XX, estava atento aos reflexos da igualdade derrotada nos estudos históricos: “O maior perigo político imediato, que ameaça a historiografia atual, é constituído pelo “anti-universalismo” para o qual “a minha verdade é tão válida quanto a sua, sejam quais forem os fatos”. O anti-universalismo seduz, naturalmente, a história dos grupos identitários, nas suas diferentes formas, para os quais o objeto essencial da história não é o que aconteceu, mas de que modo o que aconteceu diz respeito aos membros de um grupo particular.
Em geral, o que conta para esse tipo de história, não é a explicação racional, mas “o significado”; não, portanto, o acontecimento que se produziu, mas o modo pelo qual os membros de uma comunidade, que se define em contraposição a outras – em termos de religião, etnia, nação, sexo, modo de vida, etc. – percebem aquilo que aconteceu… O fascínio do relativismo impactou a história dos grupos identitários”.
Relativismo; recusa do universal; a interpretação ao invés do acontecimento histórico; a desmaterialização da realidade – são esses os ingredientes principais que compõem o repertório dos Cultural Studies e dão vida ao mau-infinito das proliferantes diferenças. Esse movimento cultural, como acreditamos, ganhou considerável impulso com a “derrota da igualdade”. Este é o seu aspecto regressivo.
Stuart Hall, numa entrevista, acabou reconhecendo – malgré lui– a superioridade do princípio republicano e universalista da cidadania. Comparando Inglaterra e França, foi obrigado a reconhecer a importância da “tradição laica e republicana emanada da Revolução Francesa, tradição que constitui a posição mais avançada sobre as questões da diferença cultural. Qualquer um, não importa quem, pode pertencer à civilização francesa, por menos que esteja integrado. Os Britânicos jamais tiveram algo equivalente. Os Britânicos jamais puderam acreditar que todo o mundo pudesse ser integrado. E os Britânicos sempre encontraram o meio de assegurar a coexistência de leis indianas e leis britânicas, de línguas indianas e da língua inglesa, etc.”.
Completando o seu raciocínio, Hall citou uma conversa com Aimé Césaire, poeta, militante anti-colonialista e o primeiro intelectual a divulgar o conceito de negritude. Ao ser interrogado sobre sua nacionalidade, ele, que nasceu na Martinica, respondeu a Hall: “É claro que eu sou francês! Como você pode me colocar essa questão?”. Após mais de sessenta anos vivendo na Inglaterra, Hall, contrariamente, afirmou: “eu não sou britânico”, ou, então, “eu sou um Britânico negro”.
Se os princípios universalistas estão atualmente em baixa, como atesta o comentário de Hall, as “políticas da identidade”, influenciadas pelas ideias culturalistas, estão presentes e atuantes em diversos países.
Enquanto essas políticas identitárias permanecem prisioneiras de uma concepção de cultura autonomizada que glorifica os indivíduos híbridos, a crise estrutural do capitalismo segue em ritmo frenético, desorganizando a solidariedade social e neutralizando o potencial revolucionário das chamadas minorias. A imigração para os países desenvolvidos tem sua razão de ser fora do mundo celestial da cultura, como uma consequência do primado do capital financeiro e do processo de globalização.
“O multiculturalismo fracassou”, disse a chanceler alemã Angela Merkel. A sociedade multicultural, longe de promover a harmonia e a integração, foi sacudida pela crise do capital. Os conflitos sociais, agitações e ações terroristas atribuídas aos imigrantes, e a reação xenófoba nada tem a ver com “choque de civilizações” e confrontos entre culturas, “lutas textuais” etc., mas sim com as condições precárias vividas pelos imigrantes no novo país, condições resumidas na frase “viver lado a lado, em vez de conviver”. Do modo semelhante o “caldeirão” cultural norte-americano redundou na não-assimilação e na criação de guetos.
A celebração do hibridismo tem desviado o foco da desregulamentação do Welfare State e seus efeitos deletérios para as “lutas textuais” e a busca pelo reconhecimento de indivíduos e grupos sociais fragmentados. A condição material é o pano de fundo para se entender a situação da cultura, e não os “deslocamentos”, “ressignificações simbólicas” e “negociações” que rodam em falso na esfera subjetiva.
*Celso Frederico é professor aposentado e sênior da ECA-USP. Autor, entre outros livros, de Ensaios sobre marxismo e cultura (Morula).
Referências
ALIZART, Mark , MACÉ, Éric, MAIGRET, Éric, Stuart Hall (Paris: Amsterdam, 2007).
BRUNELLO, Yuri “Identità senza rivoluzione. Stuart Hall interprete di Gramsci”, in Critica Marxista, vol. 1, 2007.
COUTINHO, Carlos Nelson, De Rousseau a Gramsci. Ensaios de teoria política (São Paulo: Boitempo, 2011).
FREDERICO, Celso, A sociologia da cultura. Lucien Goldmann e os debates do século XX (São Paulo: Cortez, 2006).
GRAMSCI, Antonio, Cartas do cárcere, vol. VI (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005).
GRAMSCI, Antonio, Cadernos do cárcere, vol II (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000).
HALL, Stuart, Da diáspora. Identidades e mediações culturais (Belo Horizonte: UFMG, 2003).
HALL, Stuart, A identidade cultural na pós-modernidade (Rio de Janeiro: DP&A, 1999).
HALL Stuart e GAY, Paul (orgs.), Custiones de identidade cultural (Buenos Aires: Amorrortu, 2011).
HALL, Stuart, “Teoria senza disciplina. Conversazione sui “Cultural Studies” com Stuart Hall”. Entrevista concedida a Miguel Mellino, in Studi Culturali, número 2, 2007.
HOBSBAWN, Eric, “La storia: una nuova epoca della ragione”, in L’uguaglianza sconfitta. Scritti i interviste (Roma: Datanews, 2006),