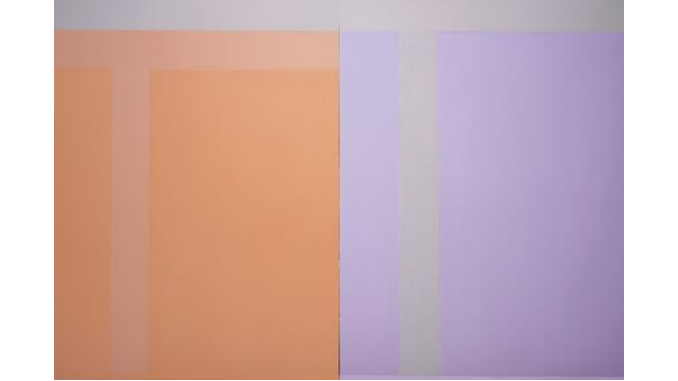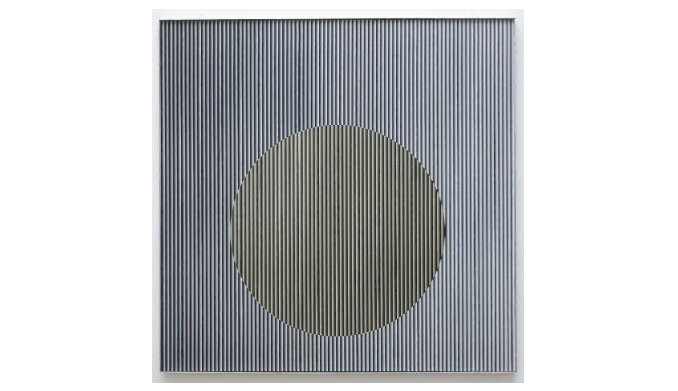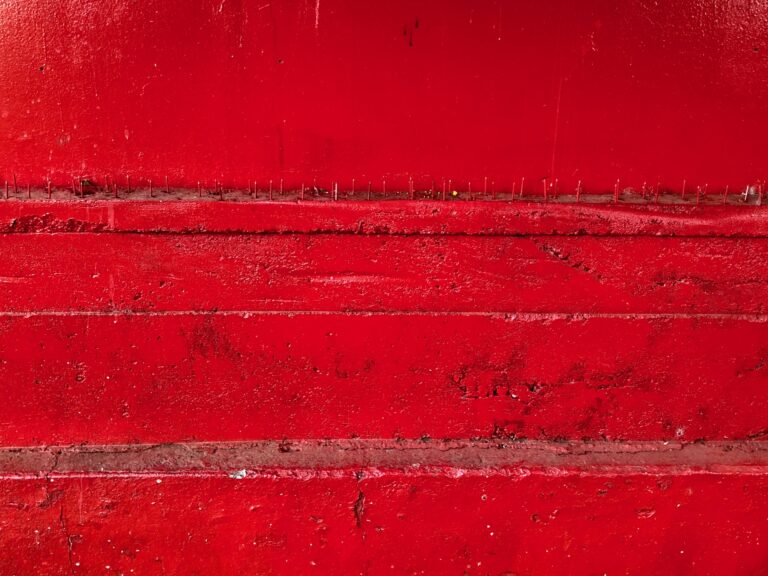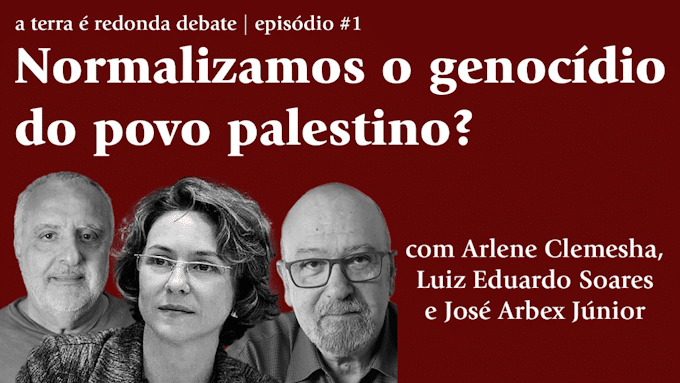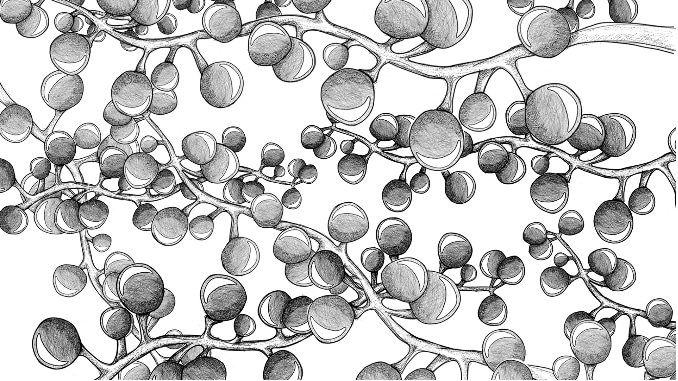Trump precisa de uma guerra para tentar garantir sua reeleição, mas de uma guerra que não acene para a possibilidade de um novo e interminável Vietnã, de uma guerra executada por meio de “toques cirúrgicos”
Por Flavio Aguiar*
Somente idiotas, como os patetas que hoje dirigem o Itamaraty, acreditam que o assassinato de Qassem Suleimani vai ajudar a combater o terrorismo ou – pior ainda – ajudar “a proteger vidas norte-americanas”, “to protect american lives”. Bom, há outra hipótese para a repetição deste mantra: a hipocrisia.
A decisão de autorizar o assassinato por parte de Donald Trump tem três alvos evidentes, além do morto: (1) bombardear a pauta do seu impeachment na frente interna, substituindo-a ou pelo menos contrabalançando-a com o tema emocional de uma beligerância contra os “anti-americanos”; (2) prosseguir a liquidação do que Trump vê obsessivamente como “o legado de Barack Obama”, incluindo aí coisas que vão da proposta de universalizar o sistema público de saúde ao acordo sobre o programa nuclear do Irã; (3) reafirmar que quem manda no mundo são os Estados Unidos e que Washington pode fazer o que quiser quando e onde quiser.
Na esteira deste terceiro objetivo se inclui a disparatada, mas certeira declaração subsequente de Trump de que, caso o Irã retalie, os Estados Unidos bombardearão 52 alvos naquele país, incluindo sua “herança cultural”, o que contraria explicitamente leis e convenções internacionais. Neste caso há uma mensagem especial para seus “aliados” europeus, que se esmeram em colocar cartazes anti-bomardeio nos tetos de hospitais e prédios de seu patrimônio histórico. O recado é o de que o atual governo de Washington está se lixando para convenções deste tipo, e outras.
Sabe-se que houve uma reunião na Flórida – significativamente nas instalações de um campo de golfe, imagem de descontração e facilidade em tomar decisões tão graves – entre o presidente, o secretário de Estado Mike Pompeo, o de Defesa Mark Esper e o general Mark Milley, chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas do país, antes da decisão pelo assassinato. Não se sabe muito bem o papel desempenhado aí por Esper e Milley. Pompeo é, sabidamente, junto com o vice-presidente Mike Pence, um dos chefes-de-fila dos “falcões” (“warmongers hawks”, belicistas, militaristas, instigadores da guerra), no jargão político norte-americano. Sabe-se também que nesta reunião foram colocadas várias opções perante o presidente, inclusive a do assassinato.
Especula-se sobre a hipótese de que outros assessores de Trump não acreditavam que ele fosse capaz de tomar a decisão que tomou. Especula-se também sobre o papel desempenhado aí por seu genro Jared Kushner, tido como muito próximo ao governo israelense; não pode se descartar a hipótese de que o clima beligerante reforçado pelo assassinato venha a favorecer a posição, tão ameaçada quanto a de Trump, de seu aliado Benyamin Netanyahu na próxima eleição em Israel, prevista para março.
Ainda outra especulação afirma que, embora quase todo o staff de Defesa dos Estados Unidos tenha sido tomado de surpresa pela decisão presidencial monocrática, a CIA e o Pentágono passaram de imediato a trabalhar febrilmente sobre a melhor maneira de levar a cabo a empreitada, acabando por apontar como melhor solução a do drone no aeroporto de Bagdá.
Morreram no ataque, além de Suleiman, Abu Mahdi al-Muhandir, líder das milícias para-militares iraquianas, e quase uma dezena de guarda-costas. Mas estes foram “baixas colaterais”; o alvo era mesmo o general iraniano, algo destinado obviamente a açular a beligerância do regime de Teerã. Por quê?
Porque Trump precisa de uma guerra para tentar garantir sua reeleição. Porém, ressalte-se, não qualquer guerra. Ele precisa de uma “guerra controlada”, que não acene para a possibilidade de um novo e interminável Vietnã. Em outras palavras, trata-se de uma guerra executada por meio de “toques cirúrgicos”, como este de eliminar um “perigoso” general do inimigo, toques que mantenham a impressão/percepção de que Trump está a cavaleiro da situação, controlando-a soberanamente.
Ele conseguirá seu objetivo? Há algumas dúvidas no caminho. Abaixo discrimino algumas.
A decisão pelo assassinato reforçou a imagem beligerante do presidente, mas aumentou o isolamento internacional de Washington. Descontando reações cretinas e irrelevantes no plano geopolítico como as de Ernesto Araújo e Jair Bolsonaro, é evidente a desconfiança e o temor demonstrado ou insinuado por várias lideranças europeias. O novo encarregado das relações internacionais na União Europeia, o espanhol Josep Borrell, apressou-se a convidar o ministro de Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, para conversar em Bruxelas, e tudo indica que este irá aceitar o convite.
Se Netanyahu reagiu favoravelmente ao assassinato, coisa que não surpreende ninguém, a Arábia Saudita teve uma reação mais cautelosa. O “silêncio obsequioso”, embora óbvio, da Suíça, que representa os interesses norte-americanos no Irã, do Japão, de Oman, que normalmente também servem de canais de comunicação entre Teerã e Washington, também é expressivo.
As massas iranianas e alguns dirigentes – como o aiatolá Khamenei – podem clamar por “vingança”, mas Teerã tem uma enorme gama de opções políticas para responder ao ataque norte-americano. A primeira já veio à tona, ditada por uma decisão ousada, mas formulada com cautela, o que pode parecer uma contradição, mas não é: o Irã anunciou que não vai mais seguir as limitações do acordo nuclear quanto ao enriquecimento de urânio, acordo que, de resto, Trump já denunciara (por sua obsessão de “derrotar Obama” mais do que outra coisa), mas ao mesmo tempo declarou que continuará “sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica” da ONU. Trocando em miúdos, ou melhor, em graúdos: o Irã reforçou tanto sua posição “de força” no Oriente Médio, como sua imagem de “diálogo” naquele que, apesar de tudo, continua sendo o principal fórum geopolítico mundial (a ONU).
Se Trump atacou com seus cavalos no tabuleiro de xadrez, o primeiro movimento iraniano foi um roque defensivo/ofensivo no mesmo tabuleiro. Outras opções iranianas não descartam a escolha de alvos militares. Entretanto dificilmente Teerã levaria a cabo um ataque frontal a forças norte-americanas, devido à disparidade do poderio bélico entre os dois países, levando-se em conta que os Estados Unidos dispõem de milhares de soldados e uma frota naval considerável no Oriente Médio.
O Irã também obteve um trunfo extra no Iraque, onde a oposição à influência iraniana sai, na verdade, enfraquecida depois do assassinato tanto de Suleiman quanto de al-Muhandir. O parlamento iraquiano aprovou uma moção pedindo a retirada imediata de todas as tropas estrangeiras, o que inclui os cinco mil militares norte-americanos lá estacionados. Numa reação bem típica de sua mentalidade e de suas obsessões, Trump declarou que os Estados Unidos só retiram suas tropas se o Iraque pagar bilhões de dólares como indenização pelos investimentos feitos na base militar dos EUA no país. A declaração de Trump favorece sua posição junto aos seus eleitores financistas nos Estados Unidos, mas aumenta a imagem da presença norte-americana na região como uma intervenção alienígena. Sutilmente, Rússia, China, Bashar al-Assad e Erdogan comemoram.
Claro: Washington sempre poderia acionar Israel para fazer um ataque ao território iraniano, porém cabe a pergunta: terá Netanyahu forças para tanto, ele que está tão contestado internamente, a ponto de ter de pedir ao parlamento que vote em favor de sua “imunidade”?
Em resumo, a decisão de Trump colocou os Estados Unidos numa espécie de “brete sem saída”. “Brete”: aquele corredor da morte em que os bois entram, no matadouro, para serem abatidos. Há duas possibilidades neste caminho sem retorno: (a) a situação se complica e ele perde a eleição; (b) ele mobiliza os milhões de crentes norte-americanos e vence o pleito em novembro. Mas que vitória ele irá administrar depois? E sua eventual derrota, o que trará? Ninguém sabe.
Uma das declarações mais enigmáticas deste imbróglio foi a do general-de-brigada iraniano Ali Fadavi. Segundo ele, a Embaixada Suíça em Teerã teria encaminhado ao governo iraniano uma mensagem provinda dos Estados Unidos, contendo um pedido: que a resposta iraniana fosse “proporcional ao que fizemos”. Blefe? Mentira? Verdade? O que seria isto de “proporcional”? Não se sabe. Mas no carnaval de disparates que é a política externa de Trump, que promete tirar os Estados Unidos de guerras pelo mundo e, ao mesmo tempo, enviar mais tropas para o Oriente Médio, tudo é possível. Até que Teerã jogue o jogo de sua reeleição. Afinal, Trump também reforça a“linha dura” iraniana, contra Javad Zarif e o presidente Hassan Rouhani.
*Flávio Aguiar é jornalista, escritor e professor aposentado de literatura brasileira na USP