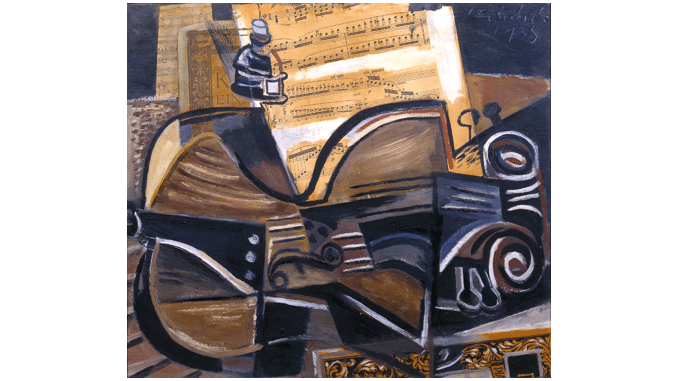Por RONALDO TADEU DE SOUZA*
A Arendt o que é de Arendt, a esquerda o que é da esquerda
Hannah Arendt (1906-1975) voltou ao debate brasileiro no último período. De certo modo, quem a recuperou de seu silêncio momentâneo foram personalidades do cenário público-político brasileiro (progressista e de esquerda) e pesquisadores das humanidades. A pensadora da ação política foi chamada à baila como a responsável por qualificar de totalitarismo o regime stalinista; que seria para alguns a versão de “esquerda” do hitlerismo. Por um lado, setores da esquerda comentam criticamente acerca da leitura arendtiana do fenômeno do stalinismo — enquanto regime totalitário. Por outro lado, investigadores das ciências humanas que apreciam a teoria política de Arendt, afirmam dos equívocos e da leitura apressada que por vezes se fazem do pensamento da filósofa. Não há dúvida e seria tolice duvidar que Hannah Arendt forjou para nós um dos maiores empreendimentos da filosofia política. Sua obra teórica é algo, inexpugnavelmente, da ordem do gigante. Negar isso é insisto tolo. E reafirmar isso a toda vez que se pega da pena para apreciar sua obra, idem. Grandes pensadores não são clubes de futebol. Que Arendt redefiniu os modos pelas quais se faz teorização da política, que ela nos provocou com conceitos eloquentes e formulações labirínticas imaginativas, tudo isto está registrado em textos como A Condição Humana, o espetacular Sobre a Revolução e Lições sobre a Filosofia Política de Kant. Seu “conceito” de mentalidade alargada (propiciado na ação política) é decisivo para aquelas e aqueles que pensam a política para além da restrição das instituições representativas – hoje profundamente em crise e que pouco dizem aos que só tem o suor do rosto para vender. Ela também escreveu questão complexas sobre a cultura de esquerda difícil de serem chanceladas. Ora, afirmar isso significa dar a Arendt o que é de Arendt. Mas também dar a seus críticos de esquerda o que é deles. O que isso quer dizer?
Ao escrever Origens do Totalitarismo Arendt pretendia compreender não apenas e exclusivamente, o fenômeno do nazismo; se fosse assim ela não teria necessidade de investigar o antissemitismo e o imperialismo – as partes primeira e segunda da obra que tem o mesmo nome, Antissemitismo e Imperialismo. Esta consideração é da ordem do evidente e está na própria superfície do livro que apresenta estas duas partes antes da sobre o totalitarismo, nomeada, igualmente de Totalitarismo. (Aqui vale a formulação de Leo Strauss em Thoughts on Machiavelli (Pensamentos sobre Maquiavel) – “na superfície das coisas, e somente na superfície das coisas, está o núcleo das coisas”.)
Ao observar isso se quer chamar a atenção para uma má sorte do livro; invariavelmente, perpetrado pelos próprios arendtianos, se é que há estes como corrente ou como conjunto delineado claramente. Vamos, então, nomeá-los por vezes de apreciadores das reflexões da filosofia política de Hannah Arendt. O texto de As Origens do Totalitarismo não está restrito à crítica ao campo de concentração nazista e stalinista mesmo que essa possa ser a parte mais substantiva e importante do livro (a própria Arendt temia que isso ocorresse, ainda que o que a tocou em termos irrefutavelmente profundos e existenciais, haviam sido os locais de extermínio), não é uma obra que “exclusivamente se dirige” à repreensão dos burocratas de Stalin e à condenação enfática do hitlerismo e seus líderes. Assim, Arendt, como ex-aluna de Heidegger estava preocupada com uma nova forma de existência política que se intensificou na era moderna. Ora, o sentido mesmo do antissemitismo e do imperialismo pouco lembrados por leitores da teórica respondiam a esta angústia. Arendt estava consciente que o “antissemitismo moderno deve ser encarado dentro da estrutura geral do desenvolvimento do Estado-nação […]”[1]. E mais: “[na] expansão imperialista e [de] destruição das velhas formas de governo [estão] a história da relação entre os judeus e o Estado que deve conter indicações elementares para entender a hostilidade entre camadas da sociedade e judeus”[2]. Foram estas camadas da sociedade, que na medida em que os judeus perdiam sua função de emissores “de empréstimos governamentais”[3], um monopólio exercido sobretudo pelos “Rothschilds”[4] – Arendt dirá ainda que a “casa Rothschild [representava como] família […] o símbolo da realidade prática do internacionalismo judaico num mundo de Estados-nações e povos organizados” – que os perceberam como descartáveis. Aqui o entendimento do desenvolvimento da sociedade burguesa foi fundamental nas explicações e argumentações críticas de Arendt[5].
Mas contraditoriamente o antissemitismo ainda resguardou um espaço à virtude e ao vício para posicionar os povos judaicos numa Europa já em crise. Em uma das narrativas mais espetaculares do As Origens… Hannah Arendt mobiliza o Em busca do tempo perdido de Marcel Proust, para compreender o sentido existencial deste fenômeno. Elisabeth Young-Bruhel, no principal documento biográfico-intelectual escrito sobre Arendt, dirá que a filosofa entendeu o significado da narrativa de Proust quando este constrói o ambiente do antissemitismo[6]nos salões franceses ao longo das páginas do Em Busca…, sobretudo no volume O Caminho de Guermantes. Assim, o Sr. de Charlus, cinicamente tolerado pela sociedade aristocrática em decadência e burguesa[7] em ascensão, por seu “encanto pessoal e gestualidade inusitada e atraente era o espelho do judeu. Charlus era um homem/homossexual que frequentava com elegância, combinada com andar e conversação excêntrica, os diversos salões do Faubourg Saint-Germain – e toda essa postura tornava ele (os judeus) figuras “enobrecidas [e] toleradas”[8]. Entretanto, a sociedade europeia com seu sentimento do pertencer nacional não “modificava as suas ideias e preconceitos”[9]. Aos seus olhos e atitude, diz Arendt, “homossexuais eram criminosos e judeus eram traidores”[10]. Aqui As Origens… apreendeu um fenômeno complexo e de difícil discernimento (de nossas sociedades até os dias de hoje): a “doença [do] tédio e o cansaço geral da burguesia [e das classes medias]” a fizeram ser atraídas pelos “marginais e parias”[11] (judeus e homossexuais) em certo momento da evolução social e cultural da Europa (no caso a França). “Em busca pelo exótico, fossem quem fossem, jamais e deixavam dominar pelo tédio”[12]. Ora, como um estoque de excitação e de cultivação do escândalo (prazeroso) a sociedade burguesa de então para atenuar o torpor do cotidiano rotinizado recebia com desfaçatez o “estranho e o viciado” – o “judeu (ou o homossexual)”[13]. O que estava subjacente neste fenômeno original argumenta Arendt era as raízes do conceito histórico de raça . O outro, o exótico, o estranho – o eventualmente exterminável. (No texto como tal, Arendt não faz nenhuma insinuação da relação entre este evento e o comunismo enquanto, a não ser um certo antissemitismo de esquerda que circulava na Europa; mas a disposição teórica e histórica era não só a França de Proust, como também a Alemanha– o núcleo político do nazismo – e a quantidade de artistas e escritores de origem judaica que fomentaram o brilho rebelde dos dias de glória da República de Weimar.)
O surgimento do imperialismo agravava a situação europeia para as raças destituídas, paradoxalmente, do enquadramento do Estado-nação. Arendt nesta parte de As Origens do Totalitarismo necessitava para construir sua argumentação de teorias que tivessem no eixo de análise, o sistema europeu de Estados burgueses. Lenin foi deste modo, uma das “referências” importantes nesta parte da obra[14]: Arendt leu Clausewitz como ele, e também concordava que “as guerras [imperialistas] colapsa[va] o sistema europeu de nações-estados”[15]. O impulso por traz dessas circunstâncias históricas (e econômicas) havia sido na teorização de Hannah Arendt a emancipação política da burguesia. Ora, o ciclo das revoluções burguesas fez estas crescerem “junto e dentro do Estado-nação, que, quase por definição, governava uma sociedade dividida em classes”[16]. Na medida em que a expansão dos negócios para países do continente africano passava a norma, as funções políticas do Estado nacionais modernos perdiam relevância. A classe burguesa incutiu na sua forma de existência a noção e prática que apenas o poder era necessário para governar e administrar as novas terras colonizadas além Europa. Com efeito; “a consequência da exportação do poder foi esta: os instrumentos de violência do Estado, a polícia e o Exército – que na estrutura da nação, existindo ao lado das demais instituições nacionais, eram controladas por elas –, foram […] [lançadas a] países fracos ou não civilizados”[17]. Com isto, não havia o menor senso de escrúpulos para uma burguesia europeia ávida por expansão de seus negócios capitalistas em fazer uso sistemático da violência e do “princípio destrutivo”[18]. “Ecoando” as teorias imperialistas do início do século (John Hobson, Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburgo, Kautsky e Lenin) Hannah Arendt pode dizer – “a força e a violência administrativa [pura]” estavam agora a serviço “da acumulação incessante de dinheiro que gera dinheiro”[19]. A questão de por que uma teórica com tais compreensões, altamente, consistentes e sofisticadas de dois fenômenos decisivos na conformação do século XX (antissemitismo e imperialismo) fez uma assimétrica condenação da argumentação de intelectuais como Frantz Fanon e Jean-Paul Sartre quando estes refletiram sem nenhuma louvação sobre o problema da violência e da violência psíquica (e mesmo do poder, que Arendt por vezes ponderou acerca de sua decantação de homens que se reúnem para agirem juntos) que os imperialismos produzem (ou produziram) nas neocolônias no decurso do século passado é intrigante, para dizer o mínimo? (Admiradores de Arendt no Brasil precisam meditar acerca destas circunstâncias; buscar o lugar-comum de passagens de A Condição Humana, Sobre a Revolução e Entre o Passado e o Futuro não é suficiente. Novamente não é de responsabilidade da esquerda a instabilidade intelectual – e política – do monumental edifício teórico construído por ela.)
É notável, para não afirmarmos espantoso, que estas duas partes de As Origens…, partes de uma excelência textual, de uma inventividade crítica, de uma sensibilidade política e cultural, sejam pouco mobilizadas, raramente a bem da verdade, por pesquisadores que apreciam o pensamento e as ideais de Arendt – de quando ela vem à baila como no último período. Mas neste tópico há algo a ser dito: se a “interpretação” proustiana do antissemitismo e a “ressonância” das teorias do imperialismo na crítica radical até do momento imperialista são de Hannah Arendt, pertenceu a ela: a parte sobre o totalitarismo e, particularmente, o capítulo (acrescido à obra depois) Ideologia e Terror: uma nova forma de governo, também pertencem. Infelizmente, são esses dois textos de As Origens do Totalitarismo (aqui estou tratando particularmente desse referido trabalho, que veio à cena recentemente) que facultam o enorme prestígio e paixão desabrida entre muito arendtianos quando estes vão ao debate público para comentar sobre a autora em contexto de polêmica política e intelectual. São desses dois momentos teóricos, pouco criativos em comparação com os dois primeiros, que se parte para inferir de certo modo a moderação, a recusa aos extremos, a valorização da pluralidade e o apreço pela República de Arendt. (Que seja.)
A ideologia totalitária foi a responsável por extirpar estes atributos da vida pública e da ação política nas sociedades ocidentais. Nazismo era a principal explicitação histórica desta nova forma de governo. E o comunismo, o stalinismo – e mesmo o marxismo?
Na parte mais substantiva do Totalitarismo a análise sobre o fenômeno no mundo soviético de fato é de menor vigor compreensivo, bem como a extensão dos comentários, em comparação ao nazismo, são mais modestos. O elogio a ser feito a esta parte de As Origens do Totalitarismo é a abordagem acerca do “colapso do sistema de classes [que] significou automaticamente o colapso do sistema partidário, porque os partidos, cuja função era representar interesses, não mais podiam representá-los”[20]. Com efeito, é em decorrência deste fator histórico e social que a Europa viu “se desenvolver a psicologia do homem de massa”[21]. Daí a organização da propaganda dirigida às massas – massas estas que são o contrário, na verdade muito ao contrário, do que alguns apreciadores de Arendt deixam nas entrelinhas, sugerem, do movimento de trabalhadores organizados e seu ethos antagonista – se tornar possível. Como argumentação lógica, somente assim “os movimentos totalitários são organizações maciças de indivíduos atomizados e isolados”[22], e que foi mobilizada pelos líderes nazistas e stalinistas. “A grande realização de Hitler [Himmler e Goebbels]” residia em ele ter conseguido “organizar o movimento [de massas] nazistas”[23]; e o de Stalin em “transformar [a revolução] de Lenin em completo regime totalitário”[24]. Propaganda, “realidade” fictícia, subsunção da contrariedade exterior à ideologia e a própria ideologia em si, somente são viáveis numa sociedade fundamentalmente massificada. Em que se estabelece que a estruturação e conflito entre as classes – passa a ser destituída de sentido existencial. Afirmar por um lado que o destino trágico de uma nação foi resultado da stab in the back cometido por um povo (ou raça) específico e que o metrô de Moscou é único no mundo só são factíveis em uma sociedade na qual não há diferenciação entre os que, supostamente, levaram a facada e em que uma ínfima burocracia tem acesso à realidade exterior de outros metrôs.
Entretanto, ainda que a parte 3 do As Origens… seja sugestiva do ponto de vista interpretativo dos fenômenos peculiares que trata – fenômenos nunca presenciados anteriormente nas sociedades ocidentais –, o conjunto da esquerda (e dos marxistas) não estão obrigados a aquiescer a teoria política de Hannah Arendt. (É uma ideia fundamental e, absolutamente, equivocada que a esquerda desde sempre fez vistas grossas e ouvidos moucos aos gritos que vinham da Sibéria. Até hoje, de certa maneira responde-se e paga-se penitência sobreo que ocorreu com e na burocracia stalinista. Quem nunca viu, ouviu ou presenciou Veras Magalhães espalhadas por nossa mídia plural e democrática questionarem um político, uma política, um intelectual ou uma ativista se ele ou ela é socialista. Parafraseando Moshe Lewin: não podemos convencer alguém convicto que um hipopótamo é igual a uma girafa que eles são diferentes – o que podemos fazer é perguntar porque essas pessoas por vezes possuem “uma cadeira [universitária] de zoologia?”[25]) Há uma literatura imensa no campo de esquerda que tratou (e trata) disso. Iná Camargo Costa em seu provocativo Dialética do Marxismo Cultural tem razão ao asseverar que a tradição de esquerda “é rica em confrontos, divergências e polêmicas infindáveis […] o próprio marxismo [é repleto de] múltiplas […] denominações”[26].Não precisamos recorrer a Trotski e seu esforço intelectual e político em explicar a degeneração da revolução de outubro. Alguns dirão que Trotski estava obrigado a isso para não comprometer sua própria imagem vaidosa como um dos artífices do evento. Alex Callinicos e Slavoj Zizek; Ernest Mandel e Herbert Marcuse; Ferdinand Claudin e Isaac Deustcher; Moshe Lewin e Perry Anderson são autores, obviamente suspeitos, que empreenderam tempo em entender a Rússia após o acontecimento de 1917. E o diálogo frutífero com outras explicações? A diversidade de entendimento sobre um mesmo fenômeno como fica? O uso da multiplicidade de visões tão fundamental nas humanidades é possível negá-lo? Podem-se cultivar tais circunstâncias no debate intelectual e público. Isso está fora de dúvida – mesmo para a esquerda. E neste caso Arendt pode sim sugerir interpretações outras além daquele cenáculo de autores. Mas insisto; na medida mesmo daqueles esforços, às vezes nem sempre bem sucedidos, não se está obrigado a subscrever As Origens do Totalitarismo, A Condição Humana e Sobre a Revolução.
Ainda assim; é ou deveria pertencer à cultura intelectual e política de esquerda a condenação veemente e intransigente do stalinismo e sua burocracia corrupta e assassina. Se não conseguirmos chocar o mundo com nossas ideias (e intervenções) não conseguiremos transformá-lo. E aqui não é recomendável ser facilmente seduzido pela “contradição performativa”: extirpar a moral da análise acerca do stalinismo de sorte a recorrer a uma historiografia científica, materialista mesmo, fria e realista (pode) se transfigura numa veleidade moral-normativa com o instrumento de investigação em si. Desde os tempos da Comuna de Paris Marx advertia sobre certas excentricidades da esquerda. Ora, Stalin e seus asseclas, não os bolcheviques (Arendt, relativamente, se equivoca neste ponto mesmo resguardando a figura de Lenin), destruíram impiedosamente o maior vislumbre de outra forma de vida que já existiu até nossos dias desde que o capitalismo foi instaurado [sobre isso ver o acima referido ensaio de Iná Camargo Costa e o trabalho de Cinzia Arruzza, especialmente Ligações Perigosas: feminismo e marxismo, casamentos e divórcios. Parte desses dois trabalhos enfatiza as inovações e esforços pela libertação da mulher no contexto de outubro]. Não há porque ponderar sobre isto, definitivamente.
Voltando, para terminar, a Arendt e a parte famosa do seu monumental trabalho. Conquanto As Origens do Totalitarismo nas duas primeiras partes, Antissemitismo e Imperialismo, nos proporcionem construções teóricas altamente sugestivas para compreendermos fenômenos políticos decisivos na história do século XX, e mesmo a parte três, Totalitarismo, que trata do nazismo e do stalinismo como vimos, contenha interpretações que inspiram a averiguarmos com o intelecto atento nossas experiências passadas, há infelizmente o derradeiro capítulo, Ideologia e Terror: uma nova forma de governo. E aqui Hannah Arendt atribui elementos totalitários ao pensamento e filosofia de Marx. Isto tem duas implicações. A primeira é indireta e externa, de certo modo, ao texto referido e as intervenções de Arendt. A segunda, de meu ponto de vista a mais problemática, diz respeito ao sentido imanente do argumento teórico arendtiano que completa o As Origens…no capítulo citado.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial não havia mais a necessidade de combater o nazismo; o hitlerismo estava absolutamente sepultado tanto em termos militares como em termos de ideias. No entanto, a União Soviética e os regimes que a seguiram estavam presentes. Ora, foi mais que natural os arquitetos da Cold War – utilizarem artifícios concernentes à batalha de ideais e às disputas culturais neste contexto de incerteza sobre o concerto internacional das nações. Assim, “teóricos políticos liberais logo adotaram o termo […] totalitarismo, [ele] foi o grande conceito que unificou e mobilizou”[27] os interessados no conflito nos Estados Unidos. É preciso ser condescendente para afirmar que “a imagem generalizada do totalitarismo [mobilizada pelos teóricos da Cold War] não encontrou [sustentação conceitual] em seminais textos imaginativos do período”[28]. As Origens do Totalitarismo (e mesmo A Condição Humana), sobretudo a parte três e o capítulo Ideologia e Terror que obviamente são os que mais cativaram os democratas e a “tradição liberal”, era um daqueles textos seminais de acordo com Jeffrey Brooks; era de fato o texto seminal. E justamente o capítulo que estamos aludindo é o que apresenta os aspectos, de acordo com Arendt, de totalitarismo em Marx e na tradição marxista. A autora de Sobre a Revolução estava consciente e convencida destas complexas circunstâncias políticas, intelectuais e históricas. Pois o Ideologia e Terror acrescido à obra na segunda edição de 1958, havia sido um projeto de pesquisa – que pretendia, em meio àquele torvelinho, investigar os “elementos totalitários do marxismo”[29]. No período que passou em bibliotecas europeias trabalhando e colhendo material para o estudo, Hannah Arendt buscava completar seu texto de As Origens… investigando uma das “tradições políticas e filosóficas do Ocidente […] o marxismo”[30]. Que Arendt não era antimarxista é percebido por sua própria trajetória intelectual; sua troca de cartas em 1967 com Hans-Jürgen Benedict são reveladoras: nela a teórica diz que “jamais atacou o comunismo enquanto tal, muito menos o reduziu a uma posição totalitária. Sempre me manifestei com toda a clareza contra a identificação de Lênin com Stalin ou mesmo de Marx com Stalin”[31]; mas é sintomático no mesmo documento que ela diga não ter enviado o As Origens do Totalitarismo inteiro para Jürgen Benedict por “não valer a pena […] uma vez que não [havia] alter[ado] nada”[32] do que fora escrito antes. Hannah Arendt “sabia” da Guerra Fria, de como os conservadores, os liberais e a direita americana “utilizavam” seu trabalho monumental, em especial a parte que lhes interessava, a terceira e o texto do Ideologia e Terror. Ela poderia ter escrito uma longa introdução se diferenciando daqueles (a troca de cartas privadas com Blucher, seu marido, de quando estava na Europa, em que os dois criticam a grosseria anticomunista de Irving Kristol na Comentary não era suficiente[33]). Ademais em momentos cruciais Arendt tomou da pena (não gostaria de me referir a Little Rock[34] mas…) para se posicionar explicitando suas preocupações com o destino da República Americana – como ela o fez no fim do Reflexões sobre Little Rock. Estas circunstâncias envolvendo, externamente a parte três de As Origens… pertencem a Arendt. Concernente à Guerra Fria, entretanto, a própria esquerda do período atuou mal – seria ingenuidade, as tais veleidades que Marx advertia, esperar que os pensadores da Cold War agissem diferente. Perry Anderson sugere que os escritores socialistas aceitaram muito pacificamente a “aceleração ideológica do capital [impulsionado] pela conversão ocidental dos termos do conflito: não mais o capitalismo contra o socialismo, mas a democracia contra o totalitarismo […] Quaisquer que fossem as hipocrisias dessa nova construção”[35] a posição da esquerda de então havia sido equivocada por aceitar, relativamente, as condições da disputa.(Hoje pertence à esquerda não aceitar intransigentemente e em hipótese alguma os termos desse debate anacrônico de Guerra Fria: se quisermos acalentar algum futuro como opção política para os subalternos não podemos aceitar “as alegações arrogantes da direita, [os] mitos conformistas do centro [e as] tolices bem-pensantes de parte da esquerda [e de progressistas]”[36].)
Disso se segue a segunda implicação do Ideologia e Terror: uma nova forma de governo. Aqui há um problema sensível no que diz respeito à compreensão de Arendt, agora não mais do totalitarismo em si, mas da filosofia e pensamento de Marx e suas consequências. As formulações da parte três, as sugestivas evidentemente, foram dissolvidas sem nenhuma explicação teórica mais específica, na ânsia de Hannah Arendt em sustentar que as leis do movimento totalitário guardava no seu momento bolchevista a noção de luta de classes de Marx. Ela insiste em afirmar que a ideia “da sobrevivência da classe mais progressista”[37] estava presente na teoria social marxista: uma vez que ela foi ancorada naquela construção sobre as leis do movimento. Daí Arendt dizer que tais leis expressavam a emanação da “energia-trabalho dos homens”, que segunda ela Marx não via como “uma força histórica, mas natural-biológica – produzida pelo metabolismo com a natureza”[38]. Mas Hannah Arendt no impulso de negar qualquer lei que impusesse um sentido na história não percebeu que o tema do metabolismo é da imanência do ser (em sua multiplicidade e não uma lei unívoca) e não do trabalho – e mesmo aqui, ela que se recusou a aceitar as maneiras de existência da sociedade capitalista foi traída, pois, seu entendimento negativo do trabalho trazia as próprias determinações da forma capitalista. Senão como poderíamos explicar sua repulsa pelo trabalho em face da ação política e da pluralidade humana? (E na medida em que o metabolismo é da imanência do ser: o trabalho[39] é, inevitavelmente, um dos seus aspectos, como o é fazer poesia, amar loucamente, levantar construções arquitetônicas, contemplar a arte e refletir sobre a filosofia.) E quanto ao sentido da história no pensamento de Marx explicitado na lei da luta de classes, Arendt em Ideologia e Terror não questionou como uma filosofia política que se forjou na interpretação contingente dos conflitos sociais e que entendeu desde as insurreições de 1848 que os processos revolucionários não podiam se drogar com “a memória da história mundial” defendeu em algum aspecto de sua obra, mesmo sem intenção, qualquer tipo de lógica racional e única na e da história.
Ocorre que Hannah Arendt na busca por investigar a nova forma de governo enquanto supressão da liberdade que está abrigada “no coração dos homens”[40], a paixão por começar algo novo, teve de compelir, uma das poucas teorias que compreendeu no âmbito mesmo da sociedade moderna os obstáculos materiais (culturais e espirituais) para a realização da liberdade, a um enquadramento das supostas leis do movimento tal como entendida pela filósofa da ação.Com efeito, estamos diante de duas formas de compreender a liberdade; está a esquerda obrigada a consentir com a liberdade arendtiana? Além disso, é evidente que a transformação social de mulheres, homens e crianças (hoje com outros sujeitos políticos) pressupõe algum movimento, e pode se dizer radical e brusco, da ordem estabelecida – romper as correntes ou retirar as luvas de ferro para usar a bela imagem de Conceição Evaristo em Ponciá Vicêncio exige certa disposição –; daí afirmar que o “terror é a legalidade […] da lei do movimento”[41] é algo difícil de sustentar teoricamente. E aqui neste aspecto específico, e somente aqui, Arendt se aproxima problemática e infelizmente, da leitura conservadora da política (Leo Strauss, Eric Voegelin, Michael Oakeshott) – pelo que qualquer empreendimento moderno na incessante busca por transformação social, e tendo que movimentar-se para isso, e por vezes entrando em choque com os “governos constitucionais [e suas] leis positivas destina[das] a erigir fronteiras e a estabelecer canais de comunicação entre os homens”[42] descarrila para o terror. Como ela mesma gostava de dizer, somente grandes pensadores exigem nossa atenção. Assim, o que pertence à esquerda ao se defrontar, particularmente, com estas linhas de Arendt?
*Ronaldo Tadeu de Souza é pesquisador de Pós-Doutorado no Departamento de Ciência Política da USP.
Notas
1]Conf. Hannah Arendt – As Origens do Totalitarismo: Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo Companhia das Letras, 2013, p. 35.
[2]Ibidem.
[3]Ibidem, p. 56.
[4]Ibidem.
[5]Robert Pippin – The Persistence of Subjectivity: On the Kantian Aftermath. Cambridge University Press, 2005.
[6]Conf. Elisabeth Young-Bruhel – Hannah Arendt: Por Amor ao Mundo. Relume & Dumará, 1997, p. 160.
[7] É notável como os que utilizam a noção de totalitarismo deixa, invariavelmente implícito, que a base desse é o povo ignaro atraído pelo líder. Sem se quer problematizar o horizonte mesmo da sociedade burguesa onde a forma de governo se gesta; bem diferente de Arendt, ao menos, nesta parte do seu trabalho.
[8]Conf. Hannah Arendt – As Origens do Totalitarismo: Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo. Companhia das Letras, 2013, p. 129.
[9]Ibidem.
[10]Ibidem.
[11]Ibidem.
[12]Ibidem.
[13]Ibidem, pp. 130 e 131.
[14] É perceptível em algumas das obras de Hannah Arendt o respeito que ela cultivava sobre Lenin. Para os que estão sempre ansiosos e, mesmo dispostos a afirmarem que o totalitarismo já existia nos tempos do autor de Imperialismo a Fase Superior do Capitalismo irão se surpreender, com diversas formulações como esta no As Origens do Totalitarismo: “[…] finalmente, que a liquidação da Revolução Russa de Lênin havia sido suficientemente completa para que eles pudessem dar a Stalin seu entusiástico apoio”; “[…] o esforço de coletivização e eliminação dos kulaks, de 1928 em diante, na verdade interrompeu a NEP, a Nova Política Econômica de Lênin”; e “É verdade que os métodos usados pelos governantes, nos anos que se seguiram à morte de Stalin, ainda obedeciam aos padrões estabelecidos por este após a morte de Lênin […]”. Conf. Ops. cit., pp. 361, 423 e 426. E estas não são as únicas formulações de Arendt abordando dois períodos inteiramente diferentes, e não são frases soltas colhidas em um exercício retórico pouco frutífero.
[15] Conf. Elisabeth Young-Bruhel – Hannah Arendt: Por Amor ao Mundo. Relume & Dumará, 1997, p. 160.
[16]Conf. Hannah Arendt – As Origens do Totalitarismo: Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo. Companhia das Letras, 2013, p. 191.
[17]Ibidem, p. 204.
[18]Ibidem.
[19]Ibidem, p. 205.
[20]Ibidem, p. 443.
[21]Ibidem, p. 444.
[22]Ibidem, p. 453.
[23]Ibidem, p. 454.
[24]Ibidem, p. 447.
[25]Moshe Lewin – O Que Foi o Sistema Soviético? Revista Margem Esquerda, nº 10, 2007, p. 41.
[26]Iná Camargo Costa –Dialética do Marxismo Cultural. Expressão Popular, 2020, p. 46.
[27]Conf. Jeffrey Brooks – Totalitarism Revisited. The Review of Politics, nº 68, 2006, p. 319.
[28]Ibidem, p. 321.
[29]Conf. Elisabeth Young-Bruhel – Hannah Arendt: Por Amor ao Mundo. Relume & Dumará, 1997, p. 253.
[30]Conf. Hannah Arendt Apud Elisabeth Young-Bruhel – Hannah Arendt: Por Amor ao Mundo. Relume & Dumará, 1997, p. 253. Ver no trabalho de Young-Bruhel especialmente as notas 26, 27 e 28 no fim do livro.
[31]Conf. Jornal Folha de São Paulo, Suplemento Mais! de 04/05/2008. A carta de Arendt para Hans Jürgen –Benedict foi de 25 de novembro de 1967.
[32] Sobre este trecho da carta ver https://hannaharendt.wordpress.com/2008/05/17/arendt-na-folha-de-sao-paulo-a-arte-do-possivel/. Ou consultar o CEHA.
[33] Conf. Elisabeth Young-Bruhel – Hannah Arendt: Por Amor ao Mundo. Relume & Dumará, 1997, pp. 251 e 252 e nota 20.
[34] Nos Estados Unidos país que Arendt adotou esse debate está pegando fogo após seu retorno à cena intelectual com eleição de Donald Trump – e lá não se poupam as palavras. Ver https://www.diggitmagazine.com/column/racism-and-how-read-hannah-arendt.
[35] Conf. Perry Anderson – Ideias e Ação Política na Mudança Histórica. Revista Margem Esquerda, nº 1, 2003, p. 86.
[36]Ibidem, p. 92.
[37]Conf. Hannah Arendt – As Origens do Totalitarismo: Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo. Companhia das Letras, 2013, p. 616.
[38]Ibidem.
[39] Até aonde acompanho, e se minha memória não estiver me traindo este é um debate entre marxianos e sociólogos do trabalho: há em Marx uma ontologia do trabalho, ou uma ontologia do ser.
[40]Ibidem, p. 620.
[41]Ibidem, p. 618.
[42]Ibidem, p. 619.