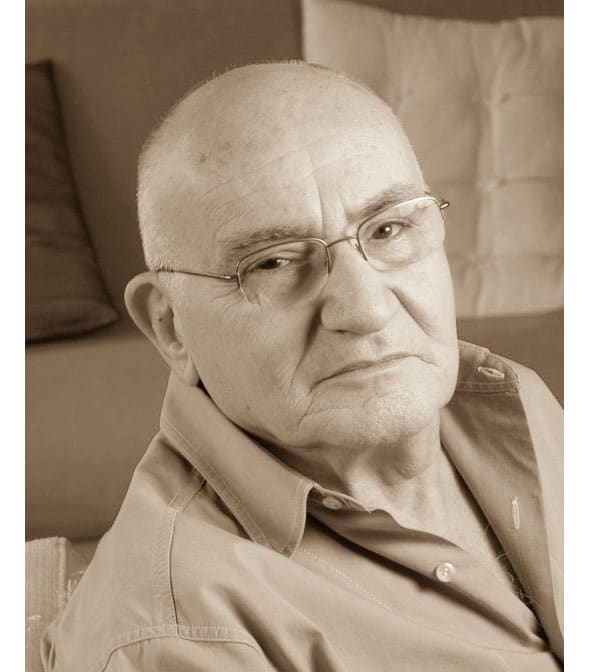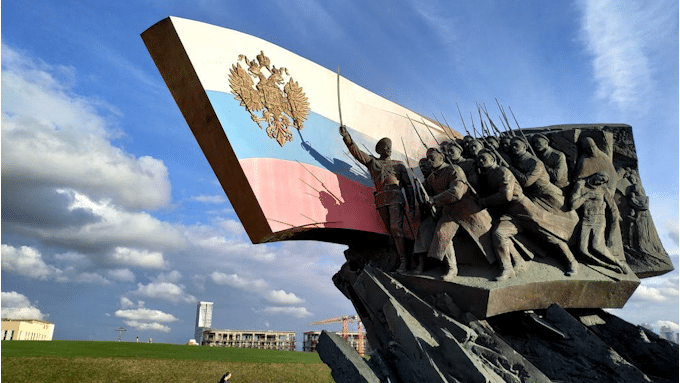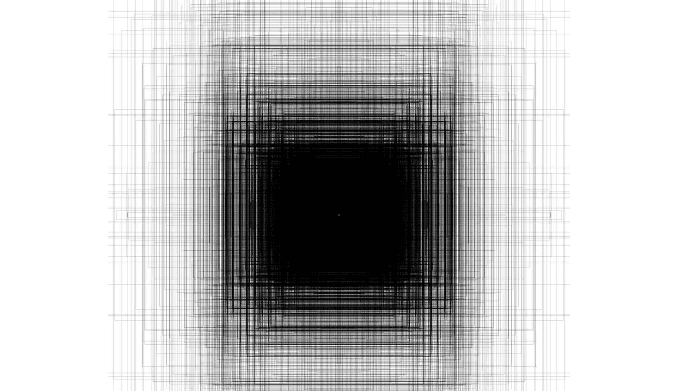Por MARIA RIBEIRO DO VALLE & GUILHERME MACHADO NUNES*
As ideias de Arendt são incorporadas a passos largos por parte da esquerda intelectual brasileira que adere acriticamente a este pensamento
Na segunda metade do século XX, a filósofa alemã Hannah Arendt se tornou uma importante referência nas Humanidades brasileiras, especialmente em trabalhos que buscavam analisar governos e sociedades “totalitárias”, conceito caro à autora. No entanto, se hoje em dia observamos constantemente a prática de “liberal washing”, ou seja, o apagamento de um passado de lutas – e não raro de militância comunista ou de esquerda – de forma a tornar uma figura mais “palatável” para o grande público (como ocorre com Nelson Mandela e Angela Davis, para citar apenas dois exemplos).
O caso de Hannah Arendt é o oposto: a filósofa, ainda hoje, é lida no Brasil majoritariamente como uma figura progressista, quando na verdade seus escritos sugerem justamente o contrário. O presente artigo trata dessa leitura peculiar da obra arendtiana, apontando trechos e interpretações que relembram o conservadorismo original da produção de Hannah Arendt para em seguida debater a sua recepção no Brasil.
A crítica contumaz de Hannah Arendt aos protestos dos anos 1960
No ensaio Sobre a Violência e no livro Da Revolução, obras dedicadas a pensar a conjuntura política dos anos 60, Hannah Arendt argumenta contra as ideias do marxismo clássico sobre a violência e, sobretudo, contra seus teóricos contemporâneos, particularmente Jean-Paul Sartre e Herbert Marcuse, que se colocam em linha de continuidade com elas. Tanto assim que Arendt se posiciona contrariamente ao movimento estudantil e aos movimentos de libertação colonial, negando-lhes qualquer potencialidade transformadora.
Na conjuntura por Hannah Arendt analisada e vivida, destacam-se a rebelião estudantil em diversos países do mundo e, especificamente, nos EUA onde ela só pode ser entendida relacionada aos confrontos raciais, à escalada da guerra do Vietnã e à opção dos militantes de esquerda por meios violentos de intervenção política. Em seu exame, enfatiza o avanço tecnológico na produção dos meios da violência, que traz à tona o temor de uma guerra nuclear, para refutar a via revolucionária e defender a reforma das instituições frente à impotência e ao desgaste das democracias. As suas reflexões têm como contraponto o posicionamento da Nova Esquerda sobre o papel dos meios violentos de resistência à opressão, como a emblemática guerra de guerrilhas nos processos de descolonização, especialmente na Ásia e na África.
Hannah Arendt, condenando totalmente a incitação à violência destes autores, rechaça os movimentos de libertação colonial por colocarem em risco até mesmo o governo constitucional da França, que teria, portanto, boas razões para as suas repressões na Argélia. Como, ao seu ver, o enfraquecimento do poder imperialista francês se manifestava na alternativa entre a descolonização e o massacre, ela justifica a violência da ordem instituída e condena os movimentos de protesto que eram defendidos por Sartre e Fanon. Para a filósofa alemã, eles eclodem pela sua fúria demente, tendo como único resultado a destruição.
Hannah Arendt posicionava-se também contrariamente à ala esquerda dentre os críticos da guerra do Vietnã que a concebiam como fascista ou nazista e igualavam os massacres e os crimes de guerra ao genocídio. Ao seu ver, nos Estados Unidos “nunca existiu em nenhum nível do governo [o] desejo de destruição em larga escala, a despeito do atemorizante número de crimes de guerra cometidos durante a guerra do Vietnã” (ARENDT, 1999, p.130).
Com esta justificativa, ela visa diferenciar a política de guerra dos Estados Unidos dos “totalitarismos” de Stálin e Hitler, que utilizariam o medo, isto é, o terror, como princípio de ação, como um cinturão de ferro que destrói a pluralidade, pautado por uma promessa na mão e um chicote às costas. Ao mesmo tempo em que busca livrar a política dos EUA de seus adjetivos totalitários, também diz ter encontrado provas que permitem desvinculá-la de objetivos imperialistas, sendo esse o seu grande aprendizado com as ofensivas norte-americanas no sudeste asiático: “Por fim, há uma lição a ser aprendida para os que, como eu, acreditavam que este país tinha se envolvido numa política imperialista; tinha esquecido completamente seus antigos sentimentos anticolonialistas e talvez estivesse conseguido estabelecer a Pax Americana que o presidente Kennedy tinha denunciado. Quaisquer que sejam os méritos destas suspeitas, poderiam ser justificadas pela nossa política latino-americana; se pequenas guerras não-declaradas – operações relâmpagos de agressão em terras estrangeiras – estão entre os meios necessários para se alcançar fins imperialistas, os Estados Unidos estão menos aptos a empregá-las com sucesso do que qualquer outra grande potência” (ARENDT, 1999, p.47).
Hannah Arendt ao defender o caráter não imperialista dos EUA, desconsidera todo o significado político e econômico da guerra do Vietnã. Ela nega que um de seus objetivos fosse criar um campo de provas para as táticas antiguerrilha, contribuindo para a continuidade de práticas neocolonialistas incidentes sobre os povos da África, Ásia e América Latina. E omite o fato de que vários de seus países continuam sendo fonte de matérias primas para o desenvolvimento da grande indústria, como, por exemplo, o petróleo na Venezuela e no Oriente Médio e os metais não-ferrosos na América Latina.
Vale lembrar que Hannah Arendt estava escrevendo em 1970, e se a participação estadunidense no Golpe de 1º de abril de 1964 no Brasil ainda não estava suficientemente clara, ela não poderia alegar desconhecimento acerca da participação da CIA no Golpe que derrubou Jacobo Árbenz na Guatemala, em 1954, e muito menos ignorar a década de quase-guerra declarada à Cuba revolucionária, que já contava com uma tentativa de invasão por mercenários em 1961 e um vigoroso bloqueio econômico-comercial. Essas ações não configuravam “pequenas guerras não-declaradas” ou “operações relâmpagos de agressão em terras estrangeiras”?
A importância econômica da guerra, totalmente minimizada por ela, se faz sentir não apenas externamente, mas também no âmbito interno, onde os prósperos negócios do complexo industrial-militar provam que os bilhões de dólares gastos não estão perdidos para todos, mas pelo contrário, são responsáveis pela orientação dos investimentos norte-americanos.[i]
Do ponto de vista das vítimas, ela recusa a existência da organização e da solidariedade da luta contra o colonialismo dos países terceiro-mundistas: “
Os únicos que têm um interesse obviamente político em dizer que existe um terceiro mundo são, é claro, os que estão nos níveis mais baixos – isto é, os negros da África. A nova esquerda pegou o lema do terceiro mundo do arsenal da velha esquerda. (…) O nivelamento imperialista de todas as diferenças é copiado pela nova esquerda, porém com rótulos trocados. É sempre a mesma velha história: deixar-se levar por qualquer lema; a incapacidade de perceber, ou então a má vontade de ver os fenômenos como realmente são, sem aplicar categorias a eles, na crença de que possam ser dessa forma classificados. É exatamente isto que constitui o desamparo teórico. O novo slogan – “Povos de todas as colônias, ou de todos os países subdesenvolvidos, uni-vos!” – é mais louco ainda que o antigo de onde foi copiado: “Trabalhadores de todo o mundo uni-vos!” – que no fim das contas tem sido inteiramente desacreditado” (ARENDT, 1999, p.180-1).
A seleção dos fatos históricos feita por Hannah Arendt, desconsiderando totalmente a existência real do terceiro mundo e a intervenção política americana em seu destino, está estreitamente ligada à sua recusa em admitir quaisquer traços de imperialismo nos EUA. As considerações arendtianas sobre o imperialismo, aliás, dariam um trabalho à parte. Em Origens do Totalitarismo a autora chega a afirmar que a Inglaterra “liquidou voluntariamente o seu domínio colonial” e “depois disso, nenhuma outra nação europeia poderia continuar a reter as suas possessões de ultramar” (1989, p. 147).
Se não há agência das colônias e tudo vem de cima – e com uma linha do tempo bastante “original”, por assim dizer, visto que Portugal e França seguiram com colônias strito senso até bem depois da coroa britânica – não haveria porque falar em Terceiro Mundo. Neste sentido, ela pode ser criticada pelo seu próprio argumento, utilizado para refutar as declarações dos encarregados das relações públicas do governo americano durante a guerra do Vietnã, por sua capacidade de reescrever “(…) a história uma e outra vez para adaptar o passado à ‘linha política’ do momento presente, ou de eliminarem dados que não se ajustam à sua teoria” (ARENDT, 1999, p.17).
Seu viés interpretativo do movimento estudantil nos anos sessenta e dos movimentos de libertação colonial centra-se na esterilidade teórica destes movimentos, fundamentalmente por perderem seu tempo com categorias do século XIX – a “nova esquerda” estaria se tornado a “velha esquerda”. Contudo, é bom frisar, Hannah Arendt questiona determinadas categorias deste século – sabidamente, o marxismo clássico. Pois, no que diz respeito a Tocqueville, também do século XIX, notamos uma substantiva influência de sua interpretação sobre as grandes revoluções na obra de Arendt, sendo ele também uma referência constante e enaltecida na defesa do mito da liberdade nos Estados Unidos. Tocqueville enaltecia como exemplo de revolução e de liberdade um país que manteve a escravidão em metade de seu território, e Hannah Arendt chancelava essa interpretação apesar dos efeitos ainda sentidos da Era Jim Crow no momento em que escrevia.
Enquanto a volta à origem proposta por ela resida na retomada dos artigos constitucionais escritos no século XVIII, a recuperação do espaço político deve ser buscada na tradição da Grécia antiga, ao seu ver isenta de violência e nutrida pelo consenso e pela persuasão. Está presente aqui a valorização do passado, da tradição, em detrimento de um futuro incerto e a recusa da solução hegeliano-marxista que coloca no horizonte a construção do novo, a transformação da sociedade. Mas como esse pensamento conservador foi recebido no Brasil?
A repercussão da obra de Hannah Arendt no Brasil
A obra de Hannah Arendt, no início da década de 60, quando escreveu Eichmann em Jerusalém – um relato sobre a banalidade do mal, teve pouca repercussão no Brasil. No final dos anos 60 e início dos 70, continuou pouco conhecida e citada no Brasil a não ser por um grupo de intelectuais, diplomatas e homens públicos como Celso Lafer, Marcílio Marques Moreira, José Guilherme Merquior e Hélio Jaguaribe.[ii]
No meio acadêmico, como mostra Celso Lafer, particularmente na USP, Antonio Candido, um anti-stalinista histórico, apresentava divergências com relação ao pensamento de Hannah Arendt, ao recusar a identificação estabelecida por ela entre nazismo e stalinismo uma vez que para ele o primeiro só comporta a destruição total como alternativa para a sua vitória, enquanto o segundo pode ser modificado por dentro por ser “um projeto de passagem a uma ordem humana”[iii] [1987].
Em contrapartida, Francisco C. Weffort interessa-se pelos escritos da filósofa alemã, apontando para o “significado de resistência intelectual da obra arendtiana para os que estavam no Brasil enfrentando os “tempos sombrios” do período autoritário. Salientava a importância do resgate arendtiano da vita activa; rejeitava a sua qualificação como conservadora; insistia na força de um pensamento aberto e indicava a relevância de sua contribuição para uma teoria da revolução – que era um de seus temas naquela época [1980]”. (WEFFORT in BIGNOTTO, p.37)
Na virada do século, os pressupostos reformistas arendtianos atingem grande repercussão no Brasil, o que talvez contribua para a retirada do debate sobre a revolução da agenda acadêmica. A ideologia hegemônica neoliberal é inclusive sustentada por pressupostos deste tipo, que renunciam à tradição e pregam o conformismo e o derrotismo. Em 2000, 25 anos após a morte de Hannah Arendt, várias comunicações apresentadas no colóquio “Hannah Arendt – 25 anos depois”, ocorrido em junho, na PUC-RJ, organizado pelos Departamentos de Filosofia e de História desta instituição e da UFMG, são publicados em uma coletânea chamada Hannah Arendt – Diálogos, reflexões, memórias.
Neste mesmo ano são publicados dois livros, O Pensamento à Sombra da Ruptura Política e Filosofia em Hannah Arent de André Duarte e Hannah Arendt & Karl Marx – o mundo do Trabalho de Eugênia Sales Wagner. Em linhas bastante gerais podemos dizer que este segundo defende a atualidade da argumentação arendtiana sobre a questão do trabalho, em nossa contemporaneidade, voltados a mostrar os limites das teses de Marx em torno de seu caráter emancipatório e civilizador.
Em 2013, a divulgação da obra de Arendt no Brasil tomou proporções inusitadas, sendo emblemáticos a “IV Jornadas Internacionais Hannah Arendt – Sobre a Revolução – 50 anos” no IFCH Unicamp e o “I Colóquio internacional Hannah Arendt – a crise na educação revisitada”, na faculdade de Educação da USP. A repercussão positiva de Hannah Arendt acontece, também, com o lançamento do filme Hannah Arendt, daquele mesmo ano, sobre a filósofa alemã, que, segundo pesquisa, logo depois da estreia, conquistou um público de 94 mil espectadores.
Se há uma novidade com relação ao aumento significativo da inserção do pensamento de Hannah Arendt quer no âmbito acadêmico, quer nos artigos que analisam o filme, por outro lado, o consenso acrítico (aproximando esquerda e direita) de enaltecimento à obra e à filósofa alemã permaneceu. Eles são escritos por monges, psicanalistas, professores universitários, homens públicos e enaltecem as reflexões de Hannah Arendt. Dos sete artigos pesquisados, escritos em sua maior parte por professores de renomadas universidades públicas, apenas um apresenta avaliação desfavorável. As críticas que são feitas ao filme só contribuem para superdimensionar a obra de Hannah Arendt ao afirmar que devido à sua complexidade, ela não pode ser abarcada por um longa-metragem.
As legendas do filme Hannah Arendt repercutem na fala dos articulistas que ressaltam uma feliz conjunção entre a arte, por um lado, e a grandiosidade da vida e a obra da filósofa alemã, por outro. O slogan diz: “No julgamento do século, uma das maiores pensadoras do mundo, confronta o significado do mal – baseado em uma extraordinária história real. As frases em destacadas em periódicos como Veja, Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo, entre outros, reverberam-no: “Uma vida de resistência”. “Filme Hannah Arendt reconstitui episódio crucial não só da vida da filósofa alemã, mas da história das ideias”. “Hannah Arendt sempre defendeu a dignidade da política”. “O extraordinário filme de Margareth von Trotta, Hannah Arendt relata um momento crucial na vida da notável filósofa”. “Filme Hannah Arendt convida a reflexões que ultrapassam a biografia e os fatos históricos”.
No filme, aspectos da história são selecionados para acusar as lideranças judaicas de não organizar seu povo para a insurgência, desconsiderando o registro histórico da resistência de judeus na França, Itália, Bélgica, Holanda e Dinamarca. Por outro lado, morando nos Estados Unidos, ela não faz qualquer menção em 1961 ao fato de que, assim como o nazismo institui a eliminação possibilitada pela ciência e a tecnologia, o Governo Truman (1945/1952), ao fabricar bombas atômicas e lançá-las sobre Hiroshima e Nagasaki, matou cerca de 220 mil japoneses de maneira direta – sem contar as consequências de longo-prazo.
Se ela condena os sistemas totalitários, identificando o stalinismo com o nazismo, como vimos, parece totalmente descabido o seu silêncio com relação aos EUA. Enquanto no filme ela diz não amar o seu povo, mas amar seus amigos, ela enaltece os EUA como o lugar que ela ama, que a acolhe e que, portanto, ela não pode perder. Além de estar a milhares de quilômetros dos fatos, em segurança, nos Estados Unidos e de ser seguidora de Kant, Tocqueville e Heidegger, ela escolhe ser professora na Universidade de Chicago, centro do conservadorismo estadunidense. Acreditamos que tais informações podem confirmar o posicionamento político liberal conservador de Hannah Arendt não apenas frente ao julgamento de Eichmann, como em toda a sua obra.
O mito da liberdade nos Estados Unidos, incorporado e difundido por Hannah Arendt, é colocado em xeque a todo momento pela política não apenas interna dos EUA através da reinvenção das formas de segregação racial, de gênero[iv] e do protecionismo econômico, mas também fora de suas fronteiras por sua política imperialista e de extermínio. Hannah Arendt, inclusive, chegou a escrever um artigo contrário à dessegregação escolar que se iniciava no final dos anos 1950 – aqui, não há como não apontar a contradição que é a grande aceitação da obra de Hannah Arendt na pedagogia brasileira.[v] Assim, Lazare (1998) mostrou que as liberdades civis derivadas da Declaração dos Direitos são, portanto, as únicas consideradas válidas pelos estadunidenses, e acreditamos poder acrescentar que também por Hannah Arendt.
Quando essas liberdades são comparadas às dos países industriais avançados europeus, saltam aos olhos a brutalidade dos EUA na guerra contra as drogas, o status de recordista em números de prisões (especialmente da população negra e latina), a arbitrariedade da pena de morte, um dos poucos países onde vigora o bipartidarismo, o país mais corrupto do mundo desenvolvido (o lobby é legalizado), ter o Senado menos representativo do Primeiro Mundo e ter uma legislação trabalhista extremamente deficitária – isso sem falar na impossibilidade objetiva de pessoas pobres (e cada vez menos pobres) usufruírem de acesso à saúde. Como agravante, há a quase impossibilidade de alterar a Constituição – que permanece praticamente intacta por duzentos anos.
A maioria destes fatos, por pertencerem à esfera social, é praticamente inexistente na argumentação de Hannah Arendt que, ao contrário, mostra que a solução deve ser restrita à questão política, ou seja, está na recuperação das origens da Constituição e da sua legitimidade. Argumento muito similar foi usado recentemente pela Suprema Corte estadunidense ao revogar o direito ao aborto.
Revistas e jornais de grande circulação, de diversos matizes e leitores, publicaram comentários uníssonos sobre o filme de Hannah Arendt ressaltando a importância e originalidade do seu conceito sobre a “banalidade do mal”, bem como a sua atualidade e pertinência para a análise de determinadas conjunturas e realidades sociais brasileiras. É importante ressaltar que mesmo a noção de “banalidade do mal”, embora bastante sedutora para tentar compreender e explicar alguns fenômenos e que certamente contribui para os avanços científicos na área das humanidades, se baseia em uma premissa bastante frágil e questionável: há diversas evidências que apontam para o fato de que o Eichmann capturado pela Mosad e que foi a júri em Jerusalém era muito diferente do que existia clandestinamente na Argentina. Vivendo sob outra identidade, Eichmann era saudoso e orgulhoso de seu passado nazista, e não uma mera engrenagem que apenas cumpria ordens.[vi]
Sendo assim, como entender o acolhimento tão favorável dos argumentos arendtianos no Brasil? Como compreender que até mesmo autores e editoras que há muito se autodenominam de esquerda e/ou marxistas tenham incorporado e reverberado argumentos e concepções teóricas liberal-conservadoras? Essa unanimidade não seria a expressão de uma banalização da crítica em um momento em que o universo acadêmico é marcado cada vez mais pela pasteurização da pesquisa universitária?
Uma pista para tentar explicar o fenômeno é compreender a ascensão do pensamento de Hannah Arendt em paralelo com eventos e situações que contribuíram para uma série de críticas ao marxismo hegemônico no período. O relatório Kruschev, lido no XX Congresso do PCUS em 1956, à invasão à Hungria ocorrida no mesmo ano, a Primavera de Praga em 1968, a questão afegã em 1979… e, finalmente, a queda do Muro de Berlim e a dissolução da URSS 1991 pavimentaram um longo caminho de descrença na revolução e no socialismo.
Obras que se dedicavam a criticar revoluções, ideias e experiências socialistas e a URSS como um todo ganharam notoriedade no meio acadêmico, especialmente a partir da criação do Congresso pela Liberdade da Cultura, em 1950. Financiado pela CIA, o CLC foi uma frente cultural anticomunista que abrigava intelectuais e artistas conservadores, por óbvio, mas também liberais, social-democratas e até trostskistas e anarquistas – todos tinham em comum a crítica aos rumos da Revolução de Outubro e à liderança de Stalin.
Essa é uma outra história, e parte dela já foi contada por Marcelo Ridenti (2022), mas talvez a criação de um bloco intelectual heterogêneo anticomunista, especialmente após a crise terminal do “socialismo real”, ajude a explicar a chegada e a difusão das ideias arendtianas no Brasil.
Considerações finais
Ao contrário do que pensam muitos daqueles que retomam o pensamento de Hannah Arendt pela importância teórica dada à ação no espaço público, a leitura que fazemos a partir desses seus pressupostos é a de que a participação política nesta esfera é restringida por ela aos livres e iguais que devem ser protegidos da tirania da maioria e não aos excluídos e às minorias do sistema capitalista. O fato dela diferenciar a esfera pública da esfera privada e desvincular totalmente a economia da política, corresponde à prática liberal, relegando a questão social aos sentimentos caritativos da sociedade, enquanto a política é exercida pelos talentosos, inteligentes e afortunados em prol da manutenção da propriedade privada, da lei e da ordem que a legitimam.
De seu ponto de vista, é a procura do lucro que leva ao aperfeiçoamento dos indivíduos, sendo, portanto, o interesse individual o motor que desencadeia o progresso econômico e social. Estes mandamentos do liberalismo clássico subjazem a toda a argumentação anti-welfare-state, anti-keynesiana, anti-planificadora, pela qual ela não recusa apenas o marxismo ou a economia planificada, mas, também, faz uma crítica dura a todo o Estado capitalista regulado, aproximando-se das tendências neoliberais mais extremadas.
Em que medida, então, o pensamento de Hannah Arendt pode lançar luz sobre as questões de políticas sociais, se o seu pressuposto é de que a solução da questão social não passa pela esfera política? Como recuperá-lo com o intuito de preencher as lacunas “evidenciadas pelo esgotamento da tradição filosófica que vai de Platão a Hegel”, sendo que ela está pautada tanto em uma tradição da antiguidade clássica como na tradição liberal conservadora do século XIX, principalmente no que diz respeito à leitura das grandes revoluções?
Se a revolução não se encontra mais na ordem do dia, como não é difícil observarmos, em que sentido um pensamento enraizado na Constituição estadunidense, berço do liberalismo, de um Estado historicamente genocida e imperialista pode ser evocado justamente para dar conta dos desastres sociais provocados pelo neoliberalismo? Como acreditar em seu viés democrático diante de sua defesa de um aparato jurídico-legal que exclui os canais sociais para a efetiva concretização da liberdade e da igualdade de todos?
Uma das principais críticas de Arendt à tradição marxista reside na proposição de que, com a revolução socialista, o Estado iria desaparecer, destruindo também a política, eleita por ela a esfera superior do diálogo, isento de conflito e de violência. Como pensar concretamente uma esfera pública onde os diversos interesses podem ser confrontados e conquistados pelo discurso e pela persuasão num momento em que os conflitos imperialistas, étnicos e raciais continuam responsáveis por guerras insanas que permanecem e se acentuam no século XXI?
Não nos cabe aqui registrar todas as interpretações da produção teórica de Arendt no Brasil. Porém, se em um primeiro momento ela parecia repercutir positivamente apenas entre aqueles que tomam à frente das decisões políticas neoliberais, relegando a questão social ao esquecimento, hoje suas ideias são incorporadas a passos largos por parte da esquerda intelectual brasileira que adere acriticamente a este pensamento, deixando de propor alternativas às formas de pensar e agir dominantes.
Nos movimentos de protesto de 1968, os debates teóricos da intelectualidade dividiam-se com relação ao seu espírito de ruptura e combatividade: se por um lado, parte dela busca nas teorias anticapitalistas do século XIX, a reelaboração de alternativas para explicar e transformar a realidade, outros, em contrapartida, dentre os quais Hannah Arendt, condenam a “lealdade à doutrina típica daquele século já refutada pelo desenvolvimento dos fatos.”[vii] Contudo as reflexões da filósofa alemã nesse momento têm muito pouca repercussão no Brasil.
Em 2013, como vimos, há um boom de eventos e publicações que divulgam o pensamento de Arendt no Brasil. E, é nesse ano também que eclodem aqui os protestos de junho que, no entanto, não evoluíram para um discurso claramente anticapitalista como ocorreu em vários países da Europa e no “Occupy Wall Street” em Nova York, por exemplo. O fato da incorporação dos pressupostos arendtianos, claramente opostos à contestação da ordem existente e construídos a partir da crítica contumaz aos ensinamentos de Marx, pela esquerda brasileira, não poderia explicar a sua dificuldade de estar contribuindo para canalizar tais movimentos à incorporação da questão social?
Tal fato poderia inclusive elucidar a cooptação desses protestos pelos (neo)conservadores da direita organizada que demonizam a entrada das massas na política. Não foi nosso objetivo analisar esse fenômeno e nem o Brasil pós-2013, mas talvez importante perceber como um pensamento conservador tido como progressista ajuda a limitar o horizonte de expectativas políticas e de transformações sociais. [viii]
*Maria Ribeiro do Valle é professora do Departamento de Sociologia da Unesp-FCLAR e Coordenadora do Centro de Documentação e Memória (CEDEM) da Unesp.
*Guilherme Machado Nunes é pós-Doutorando na Universidade Federal Fluminense (UFF).
Referências
ARENDT, Hannah. “O Conceito de História – antigo e moderno” in ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Perspectiva, 1972.
________________. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
________________. Da Revolução. São Paulo: Editora Universidade de Brasília em co-edição com a Editora Ática, 1990.
________________. A Condição Humana. São Paulo: Forense Universitária, 6ª edição, 1993.
________________. O Que é a Política? Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. 2ª edição.
________________. Crises da República. 2ª edição. São Paulo: Perspectiva, 1999.
________________. “Da Violência” In ARENDT, Hannah. Crises da República. São Paulo: Perspectiva, 2ª edição,1999.
BIGNOTTO, Newton, MORAES, E. J. (Orgs). Hannah Arendt. Diálogos, Reflexões, Memórias. 1ª ed. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001. 269p.
BRISKIEVITZ, Danilo Arnaldo. A dessegregação de Little Rocl a partir de Hannah Arendt. Pro-Posições, Campinas, V. 30, 2019, pp. 1-20.
ENGELS, Friedrich. “Introdução” à “As lutas de classes na França de 1848 a 1850”, in ENGELS, Friedrich e MARX, Karl. Obras Escolhidas. Vol.1.São Paulo: Alfa-Omega, s/d.
HAMILTON, Alexander, JAY, John e MADISON, James. Os Artigos Federalistas – 1787-1788.
HOROWITZ, Daniel. Betty Friedan and the making of the feminine mystique. Amherst: University of Massachusetts Press, 1988.
KRAMNICK, Isaac. “Apresentação”. In HAMILTON, Alexander, JAY, John e MADISON, James. Os Artigos Federalistas – 1787-1788. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.
LAFER, Celso. “Prefácio” in ARENDT, Hannah. Sobre a Violência, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.
LAZARE, Daniel. “America the Undemocratic”. In New Left Review, n°232 – Novembro/Dezembro, 1998.
LOSURDO, Domenico. “Marx, a tradição liberal e a construção histórica do conceito universal de homem”, IN Educação e Sociedade, ano XVII, n°57/especial, dezembro/96.
RIDENTI, Marcelo. O segredo das senhoras americanas: intelectuais, internacionalização e financiamento na Guerra Fria cultural.São Paulo: UNESP. 2022.
TOCQUEVILLE, Alex de. O Antigo Regime e a Revolução. Brasília: editora da UnB, 4ª ed., 1997.
_______________________. A Democracia na América – Leis e Costumes. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
Notas
[i] Ver “Documentário: O neocolonialismo dos Estados Unidos no Vietname” traduzido do Viet Nam Courier de 21 de agosto de 1967. In: Revista Civilização Brasileira, Ano III, n°18 – março-abril, 1968, pp. 238-9.
[ii] Ver LAFER in BIGNOTTO, 2001, p.16-17.
[iii] Apud CANDIDO in BIGNOTTO, p.20.
[iv] Vale lembrar que, enquanto Hannah Arendt escrevia a maioria de seus livros, nenhuma Universidade Ivy League aceitava mulheres em suas fileiras. Foi apenas em 1968 que Yale reviu esse posicionamento, em um movimento seguido pelas demais até 1983, quando Columbia seguiu o exemplo das outras sete instituições. Ver HOROWITZ, 1988.
[v] Sobre o texto Reflexões sobre Little Rock e sua repercussão, ver BRISKIEVICZ, 2019.
[vi] Ver, por exemplo, https://www.ihu.unisinos.br/categorias/186-noticias-2017/569865-o-mal-nao-e-banal-eichmann-antes-do-processo-de-jerusalem
[vii] Ver ARENDT, 1999, p.111.
[viii] Este texto parte de algumas reflexões desenvolvidas por Maria Ribeiro do Valle no livro de sua autoria intitulado A Violência Revolucionária em Hannah Arendt e Herbert Marcuse – raízes e polarizações (São Paulo: Editora da UNESP, 2003).