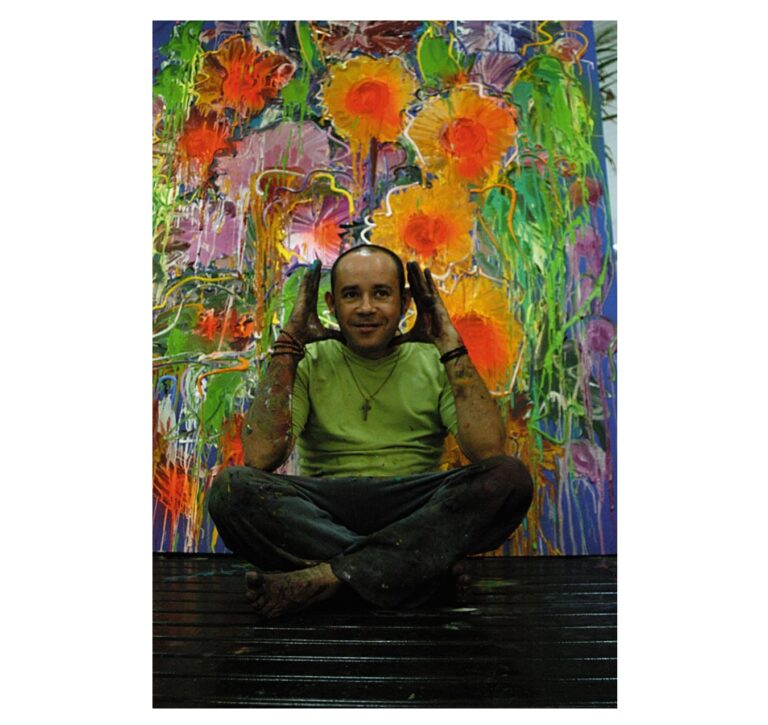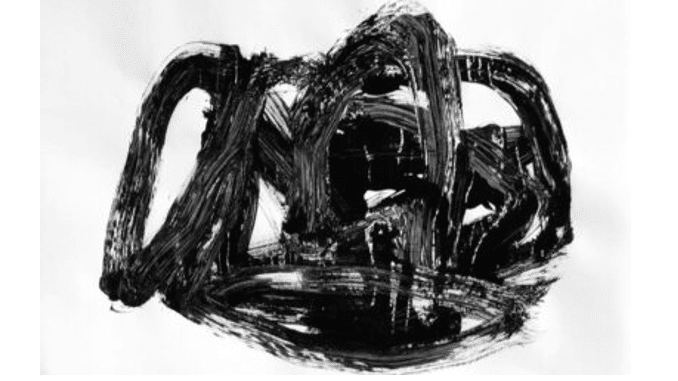Por RONALDO TAMBERLINI PAGOTTO*
Os problemas sociais não enfrentados não só não desaparecem como passam a ser narrados e tratados como características nacionais, sob o manto do cinismo e ceticismo
Neste ano completamos 35 anos da transição do governo militar para um civil e 32 anos da Constituição Federal de 1988. Passado esse tempo, o debate sobre os resquícios desse período está em alta, em razão da forte presença de setores das forças armadas no governo.
A transição da ditadura para a democracia foi gradativa e marcada por vitórias e derrotas. A derrota na emenda das Diretas não interrompeu a onda transformadora que logrou afastar os militares e iniciar a transição ocorrida entre 1985 e 1989.
A retomada da democracia não foi acompanhada de mudanças profundas e coube aos constituintes a missão de reformar o pacto nacional culminando na nova Constituição. O importante aqui é destacar que a transição não enfrentou a herança da ditadura militar e esse artigo pretende tratar apenas de parte dessas heranças, chamadas aqui de heranças do período ditatorial e caracterizadas como malditas.
É importante esclarecer que todo esforço aqui parte de um recorte dos processos históricos e isso é de alto risco: salvo para fins de pedagogia, esses recortes podem servir de manipulação. O esforço aqui é apenas pedagógico. Outra observação é que os problemas apontados não são originados na ditadura, mas agravados e intensificados nesse período.
A política sobre a lógica da Guerra Fria
A ascensão do nazifascismo na primeira metade do século XX foi resultado de muitos fatores, dentre eles a crise capitalista pós primeira guerra, a ameaça da revolução, a ascensão de movimentos sindicais, civis por direito ao voto, camponeses por terra, do ceticismo e do medo. Todos são fenômenos políticos ao mesmo tempo, históricos, e, também, comuns à crise do capitalismo, razão pela qual esse campo neofascista está sempre à espreita para disputar a sociedade.
A segunda guerra derrotou o nazifascismo, mas seus tentáculos seguiram vivos em Portugal, Espanha, Argélia e se espalhou via regimes de exceção, tal qual ocorridos na América Latina desde a Colômbia em 1948, Cuba e Guatemala na década de 1950, o Brasil em 1964 e daí por diante. Uma tempestade conservadora e autoritária passou pela América, África e Ásia.
No entanto, a vitória sobre o eixo permitiu a ampliação da área de influência e força do bloco liderado pela URSS, com o reforço da China em 1949, a vitória na Coreia e a humilhante derrota francesa na batalha Dien Bien Phu para a heroica resistência popular do Vietnã, seguidas do triunfo dos cubanos em 1959, passando pela onda de libertações nacionais pela América, África e Ásia submetidos ao jugo colonial.
Os golpes e a revolução eram dois caminhos abertos para os povos do assim chamado terceiro mundo. A contrarrevolução encontrou guarida no departamento de estado dos EUA e fez lá sua morada, assim como a luta revolucionária passou a contar com a retaguarda da URSS. Formados os dois blocos, nasce aí, a chamada guerra fria.
Nesse período os EUA promoveram uma guerra cultural impressionante em todo o mundo. Literatura, cinema, rádio, TV, costumes e uma hegemonia econômica, ideológica, tecnológica, militar e política. Essa hegemonia convenceu parte do mundo de que tudo vindo da URSS, China e Cuba, três símbolos maiores, era negativo, danoso, terrível. Alimentou um anticomunismo que sempre foi superior à simpatia ou adesão a este campo político. Com base em muita mentira, muito cinema com inimigos russos, chineses ou cubanos, criou e alimentou uma lógica de pensamento intolerante, persecutória e pouco afeita a qualquer debate.
E esse quadro de alimentar o combate ao bloco capitaneado pela URSS e China via o anticomunismo ocorreu no mundo todo e também dentro das fronteiras dos EUA. Um exemplo disso é a completa loucura do período do chamado macarthismo, tema muito bem descrito em dois filmes contemporâneos (“Boa noite, boa sorte” de direção do George Clooney e “Trumbo – lista negra”, dirigido por Jay Roach), ambos baseados em fatos, sobre a loucura política e paranoia da ameaça comunista.
As ditaduras foram uma resposta do campo influenciado pelos EUA. O Brasil estava inserido nesse contexto e a ditadura militar foi um golpe preventivo a uma suposta ameaça comunista (fato relembrado sempre pelo Bolsonaro, como na reunião ministerial do dia 22 de abril desse ano). Preventiva, antecipada, paranoica, doente. Religiosos formados nos EUA se espalharam pela América para levar a palavra do anticomunismo, da intolerância e dos malefícios de uma revolução popular. Assim se fez no movimento sindical, estudantil, cultural. Em todas as áreas a influência foi monstruosa. Os países liderados pelos EUA criaram a ideia de um monstro ameaçador e que precisava ser derrotado a qualquer custo. Com monstro não se dialoga, monstro não deve ser ouvido ou ser respeitado. Assim a lógica política da guerra fria por aqui fez morada. Em recente artigo[i] o tema do anticomunismo no Brasil foi abordado.
A ditadura não só aditivou esse quadro como usou essa paranoia para prender, torturar, executar e desaparecer com jovens envolvidos em pichação, ações culturais, agitação política e um grupo minoritário na heroica luta armada. Eram “perigosos terroristas” ameaçando o país de quase 100 milhões de pessoas à época. Obviamente que a ditadura encontrou uma resistência popular armada com Marighella, Lamarca, Osvaldão, Iara, João Leonardo e tantos outros que lutaram pela liberdade.
A lógica da abordagem a partir da guerra fria é a forma como é tratada qualquer luta popular, quaisquer ideias em desconformidade com o mercado: como uma ameaça gravíssima. Sempre recorrem à ameaça comunista que estaria à espreita para acabar com a família, com Deus, com a propriedade dos donos de padaria, bodegas e com o Brasil em si. Essa lógica não tem lastro com a realidade, muito menos guarda qualquer amparo racional. Ela se constrói independentemente de qualquer relação com o real. Essa lógica só precisa convencer as pessoas de que esses monstros precisam ser combatidos e derrotados. Se preciso for, torturados, mortos, desaparecidos, massacrados. Como na ditadura.
O oligopólio dos meios de comunicação de massa
A ditadura se estabeleceu em um período de auge do jornal e revista impressos e do rádio. A TV era ainda uma novidade e poucas casas dispunham de um aparelho, além da má qualidade. Desde então, esse meio se tornou central e a disputa pelo controle dos poucos canais públicos foi parte da disputa política.
A autorização para conduzir uma rádio ou uma TV é via concessão, com prazo e compromissos públicos. Desde os anos pós golpe, as oligarquias agrárias e a grande burguesia buscaram obter concessões para controlar e conformar seus ambientes de influência, para além do já conformado oligopólio nos jornais e revistas impressos.
O amanhecer dos promissores anos 1980 foram acompanhados de blocos de concessão para algumas famílias e a extensão disso nos estados com as concessões regionais. As poucas famílias da mídia televisiva (Marinho, Saad, Santos e, mais tarde, Macedo) e da mídia impressa (Cívita, Mesquita e Frias), conformaram o oligopólio que manda nas comunicações e controlam a maior parte da audiência. São máquinas de fazer política e manipulação de massas e essa hegemonia também reflete no domínio das verbas de publicidade.
O mais importante é observar que esse oligopólio é baseado em um sistema de concessão precário, que não tem nenhuma restrição real de concessão a políticos, senão uma restrição formal, e, tampouco, alguma regulação econômica anti oligopólio. Nada interfere nesse verdadeiro “quarto poder”, com aspirações de poder moderador, que influencia a visão de realidade de toda a sociedade, detém a confiança popular para mostrar o que é e o que não é realidade, educa politicamente e encaminham processos políticos. Induz e manipula o povo sem qualquer timidez.
Tendo como pano de fundo a hegemonia conservadora nas comunicações e a lógica da guerra fria/anticomunismo, a grande mídia historicamente esteve ao lado dos grandes inimigos do povo brasileiro: o capital financeiro, o latifúndio e as transnacionais. Não só ao lado, como é defensora e dependente desses inimigos, colaborando para eleger representantes que têm o programa central na manutenção dessa situação.
A grande mídia, especialmente a TV, concessionária pública, sequer cumpre regras republicanas, não educa, não ajuda a desenvolver ou a esclarecer. O que faz é tão somente disputar politicamente, e cuidar de garantir a hegemonia cultural desde muito tempo. Uma hegemonia ideológica inédita na história, que não sofre qualquer ameaça, mesmo com a presença das mudanças advindas da internet e outros canais.
Agentes do Estado com autorização para matar
A ditadura militar perseguiu, torturou, matou e desapareceu com milhares de pessoas. Não escondia isso e esse modus operandi não era uma reação a uma possível grave ameaça, mas um método de conter qualquer ímpeto rebelde e sobretudo para dar exemplos de como são tratados aqueles que pensam diferente no Brasil. Uma herança dos tempos coloniais e da própria organização das forças públicas, do exército e das polícias. Todos marcados sempre com autorização para a repressão, se necessária, letal. Especialmente com pobres com algum traço de rebeldia.
E no período da ditadura, as forças armadas e polícias tiveram prévia autorização para matar quem quer que fosse considerado inimigo do Brasil, com o julgamento e execução pelo “guarda da esquina”, temor de Pedro Aleixo ao comentar o AI-5 naquele dezembro de 1968.
As forças do aparato de segurança brasileiro são uma das que mais matam no mundo, só comparável a países em guerra.
As vítimas têm sempre características de classe: são pobres, moradores das periferias, meninos de pele preta. E desde o começo dos anos de 1980, o volume de mortos por arma de fogo ultrapassa a vergonhosa marca de 1 milhão de pessoas. Isto em dados oficiais. Grande parte em execuções sumárias de pessoas sem envolvimento ou passagem pela polícia, ainda que isso não justifique nada.
Essa leniência social com a violência de estado não nasceu com a ditadura, mas nesse período isso ganhou intensidade, amplitude e habitualidade: agredir, torturar e matar passou a ser até premiado. Não são poucos os agentes e ex agentes do Estado que se orgulham do número de Cpf´s (pessoas) que eles “cancelaram” em números oficiais, sem contar os casos não apurados, que merece uma observação. No Brasil matar é quase sinônimo de impunidade. A depender da vítima isso pode ser ainda pior, já que aproximadamente 90% das investigações dos homicídios não são concluídos e os autores processados. Matar aqui é barato, impune, e os agentes de estado estão entre os que mais executam.
A banalização da violência e da vida não nasceu na ditadura, mas a autorização para matar ganhou um aditivo nesses tempos. Nessa conta caberia um verdadeiro holocausto em que quase a totalidade das vítimas é pobre. E a vida de um pobre no Brasil não tem valor e não é diferente no trato dos agentes do Estado com essa população. Repiso: essa herança é histórica e reforçada na ditadura.
A ditadura estimulou os guardas da esquina a torturar e matar com julgamentos sumários sob a mira do fuzil. E findou sem qualquer apuração ou punição. E por aqui sequer houve aceitação para a atuação das comissões da verdade e memória.
Verdadeiros assassinos confessos morreram como bons avós, soltos, com aposentadoria pública por esse “trabalho” e sem qualquer incômodo. Foram homenageados com nomes de ruas, escolas, viadutos e praças. Os bons avós eram assassinos. O debate sobre memória e verdade foi combatido pela totalidade dos setores da grande mídia, dos agentes do Estado e pelas forças de segurança, quando proposto e conduzido pelo Governo da presidenta Dilma.
Importante destacar que mesmo na proposta realizada pela Comissão da Verdade, o tema da justiça sequer aparecia.
Há uma verdadeira força em luta constante pelo silenciamento em relação a esse passado terrível e que se conecta com a naturalização da absurda letalidade dos agentes públicos na atualidade.
Existe uma conexão do terror, unindo agentes das forças públicas do passado e do presente, em defesa da pena de morte decidida e aplicada pelos mesmos “guardas da esquina”, sob o olhar obsequioso e aquiescente dos superiores e parte das figuras públicas.
O extermínio segue a todo vapor nessa longa tradição aditivada pelo regime: covardia, impunidade e a banalização da vida dos meninos pobres, pretos e periféricos são heranças malditas desse período.
Sistema político frágil e democracia de baixa intensidade
O sistema político brasileiro não passou por mudanças com a transição da ditadura para a democracia, tampouco a Constituição Federal nascida sobre os escombros desse período. É um sistema que permite ao cidadão votar e ser votado, com grande complexidade para ser votado. Trata-se, pois, de um sistema político que permite uma democracia incipiente.
Pela história das classes dominantes brasileiras, nem esta democracia existiria.
Ela existe como conquista da luta do povo pelo direito ao voto, ou seja, limitada sob o aspecto do voto. Carece, portanto, de ampla efetividade, de efetiva participação popular.
Essa introdução nos parece importante ao tratar dos limites da nossa democracia.
A democracia brasileira tem um sistema de participação vinculada aos partidos políticos com grande liberdade de definição de programa, princípios, lutas, deveres dos filiados, etc, mas com regulação legal que adentra ao funcionamento e define como os partidos se organizam.
Há um regramento restritivo para a constituição de novos partidos, não obstante haja um quadro amplo de partidos. A possibilidade de candidaturas é condicionada à filiação partidária e tal requisito traz um aspecto limitador à recepção da dinâmica da luta de classes pela democracia. Ou seja, uma restrição formal que vincula qualquer liderança de organização popular, seja um movimento, um sindicato ou até mesmo as incipientes organizações não governamentais, à filiação.
O problema central reside na dinâmica em si, da relação entre os mandatos e eleitores, assim como a participação popular no intervalo entre as eleições a cada dois anos: o povo é chamado neste intervalo a fazer uma escolha e a voltar para casa. Nos interstícios desses momentos, ele ocupa o lugar de representado e é estimulado a uma postura passiva e de expectador.
A proposta de projetos de lei é passível de feita por iniciativa popular, mas para que possa ser apresentada, precisará ter passado por um verdadeiro calvário, de tal sorte que na nossa história apenas uma lei foi aprovada com origem na iniciativa popular: a lei da ficha limpa.
A esse sistema tem se chamado de democracia de baixa intensidade ou, para os mais clássicos, de democracia formal: funciona formalmente com a eleição de representantes. Não há mecanismos efetivos de participação, de proposição de projetos, decisão sobre temas relevantes ou até mesmo indiretamente, via conselhos (o tema dos conselhos, aliás, gerou um combate conservador, a fazer acreditar que seriam os Soviets tropicais -tema tratado nesse artigo[ii] de 2014).
De outro lado, a convocação de plebiscitos ou referendos são absolutamente excepcionais.
Estamos diante de uma democracia em que o povo é convocado a votar e depois colocado na condição de torcedor. Não há controle sobre o mandato, em relação ao cumprimento de compromissos assumidos ou a expressar a opinião majoritária do eleitorado.
A questão principal é que a democracia brasileira tem uma forma baseada no modelo dos EUA e se estrutura em dois grandes problemas.
O primeiro deles é a profunda desigualdade social – a mais desigual do mundo, considerado o porte da nossa sociedade. Não há formato capaz de democratizar um sistema em que grande parte da população sobrevive vendendo o almoço para comprar o jantar, que passa a maior parte do tempo no transporte da casa ao trabalho, um trabalho alienado, sem tempo para acompanhar o noticiário ou se envolver em política em razão da situação da vida. Não dá para esperar muito mais do que a luta pela sobrevivência.
A democracia não chega a esse cidadão, não escuta seus problemas e ele só é considerado para formar segmentos de pesquisas ou como indicador social. Em resumo, não há democracia viva sobre uma sociedade tão vergonhosamente desigual.
O segundo é que essa democracia não tem mecanismos de controle da influência e força do poder econômico, mas ao contrário, o poder econômico é garantidor de influência e força. Trocando em miúdos, nossa democracia realiza uma inversão importante e cruel: ela é capaz de transformar minorias sociais em maiorias políticas; da mesma forma em sentido inverso ela é promotora da inversão em que maiorias sociais são minorias políticas. Não à toa que o parlamento e o executivo, seja federal, estadual ou municipal, são completamente dominados por essas minorias sociais que ali são maiorias políticas. Basta escolher uma maioria política e buscar correspondência social. Não encontrará. A começar pelo central: os ricos são uma minoria no Brasil e dominam o sistema político. Os pretos (negros e pardos) são a maioria e, no sistema político, uma minoria; idem as mulheres, maioria na sociedade e minoria total no sistema político. Os trabalhadores do Brasil representam a maioria da sociedade e são uma ínfima minoria no sistema político.
A ditadura conseguiu uma transição indolor, e as forças políticas atuantes sob o regime autoritário seguiram atuando com muita intensidade na democracia, defendendo as bandeiras anti-povo, antidemocracia e antinacional, sempre com muito marketing para que as coisas não sejam ditas e nem compreendidas.
O objetivo desse artigo é contribuir ao debate sobre os problemas do Brasil e que isso seja a base para pensar saídas democráticas e populares e do pensamento sobre um projeto nacional. Não haverá projeto sem força social, mas também é verdade que não haverá um projeto nacional sem uma compreensão coletiva dos problemas, suas causas e o caminho para seu enfrentamento.
Os quatro pontos analisados foram escolhidos pela conexão com a conjuntura atual e também pela ameaça de seu agravamento. Os problemas narrados e não enfrentados desde o fim da ditadura, como todo problema social e histórico, não desaparecem, mas se intensificam e se agravam.
Os problemas sociais não enfrentados não só não desaparecem como passam a ser narrados e tratados como características nacionais, sob o manto do cinismo e ceticismo. Somente com o debate e a politização teremos condição de popularizar essas questões para que sejam enfrentadas na luta e colocados nos livros de história.
*Ronaldo Tamberlini Pagotto, advogado, integra a Direção Nacional da Consulta Popular e a comissão nacional do Projeto Brasil Popular.
Notas:
[i] https://www.brasildefato.com.br/2020/05/16/artigo-notas-sobre-o-comunismo-do-brasil
[ii] https://fc.tmp.br/inesc/en/em-defesa-de-uma-reforma-politica-e-dos-conselhos-populares/