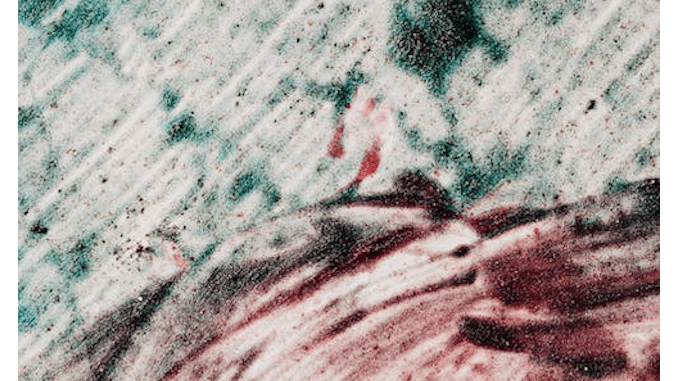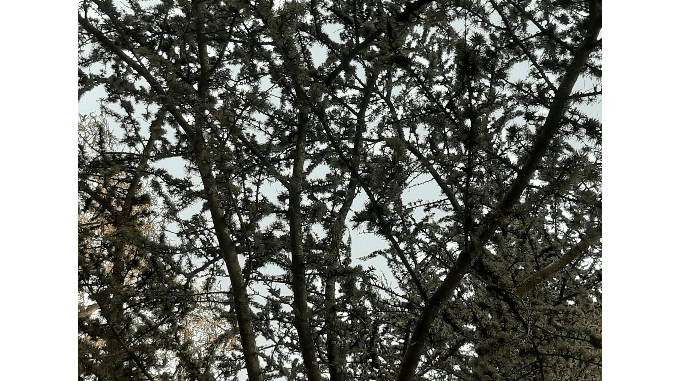Por MARTÍN MARTINELLI*
Palestina e Israel são um dos casos mais importantes de luta nacional, mas que, ao mesmo tempo, acaba por ser um dos mais controversos, e reflete a reconfiguração do sistema mundial
Sionismo não é judaísmo
O Judaísmo é uma religião composta por diferentes orientações e, como outras, seus seguidores estão espalhados por vários países. Isto contrasta com o movimento político sionista, que é “uma ideologia de apropriação colonial em trajes milenares”. Através desta caracterização, distinguimos posições antijudaicas, antissionistas e anti-israelenses. A primeira posição é racista, a segunda é anticolonial e a terceira é semelhante a uma perspectiva anti-Estados Unidos, uma vez que expressa uma rejeição genérica ao imperialismo. Mas o central é registar que Israel actua de acordo com as prioridades geopolíticas daquele país.
O sionismo é um movimento político promovido por judeus em diversos países europeus. Seus primeiros ideólogos situam-se na segunda metade do século XIX, especialmente nas décadas finais. O seu objectivo era estabelecer um Estado com nacionalismo étnico juntamente com uma forma de colonialismo europeu ultramarino. Além disso, procurou que a identidade judaica, religiosa e em parte cultural, se fundisse numa identidade nacional judaica moderna, embora não assumissem um único país de origem, nem a mesma língua, nem cultura, nem costumes em comum, porque vinham de lugares diferentes.
Ele propôs um renascimento nacional como alternativa à perseguição aos judeus que ocorria em vários países. Em 1896, Theodor Herzl, um jornalista austro-húngaro, publicou o livro O Estado judaico onde delineou a ideia de um “restabelecimento” do Estado judaico como uma solução para o “problema judaico” na Europa e para o antijudaísmo. Aí lançou as bases para a constituição do referido Estado e dedicou-se a procurar o apoio das potências mundiais para o conseguir.
Nesse sentido, Theodor Herzl em 1896 afirmou: “A Palestina é a nossa pátria histórica inesquecível. Seu nome por si só já seria um chamado unificador e poderosamente emocional para nosso povo. Para a Europa, seríamos parte integrante do baluarte contra a Ásia: constituiríamos a vanguarda da cultura na sua luta contra a barbárie. Como Estado neutro, manteríamos relações com toda a Europa que, por sua vez, teria de garantir a nossa existência.”
O nacionalismo do final do século XIX e a Grã-Bretanha como potência mundial garantiriam a promoção do novo Estado. Theodor Herzl propôs vários locais para localizar os judeus, como Palestina, Uganda ou Argentina: “Palestina ou Argentina? Deve-se preferir a Palestina ou a Argentina? A Sociedade aceitará o que for dado e o que a opinião geral do povo judeu declarar. A Sociedade estabelecerá ambos. A Argentina é um dos países naturalmente mais ricos do planeta, com uma enorme superfície, uma pequena população e um clima moderado. A República Argentina teria o maior interesse em nos ceder uma parte do seu território. Naturalmente, a actual infiltração judaica gerou divergências; “A Argentina deveria ser esclarecida sobre a diferença essencial da nova migração judaica.”
Também se ofereceu para ser uma guarda de honra dos lugares santos da cristandade, com alguma forma de extraterritorialidade de acordo com o direito internacional.
O objetivo do projecto é salvaguardar uma fortaleza “branca” (ocidental) num mundo “negro” (árabe). Isto traz implicações como o medo de ser ultrapassado demograficamente, o racismo, bem como a dicotomia entre o Ocidental e o Oriental ou Islâmico, como o seu oposto negativo. Junto com isso, ocorreu outro tipo de diferenciação dentro de Israel. Por um lado, os judeus vieram de países de língua árabe do Norte de África e do Médio Oriente, chamados Mizrahim. Este termo unificou o seu significado com o nome Sefaradim – é usado hoje e historicamente referido aos judeus da Península Ibérica que tentaram ser desarabizados. Por outro lado, os Ashkenazim, especialmente os europeus, que formaram e continuam como a elite dominante.
O sionismo secularizou e nacionalizou o judaísmo, embora não na sua totalidade. O seu interesse central era a terra, ele exerce o colonialismo dos colonos, de acordo com a sua própria versão e a versão britânica. Para estabelecer um Estado Judeu, era necessário gerar uma infra-estrutura. Até 1918 e depois com a ocupação britânica da Palestina, planeavam criar ali um Estado Judeu para escapar a uma história de perseguições e pogroms no Ocidente, e consideravam impossível a sua assimilação nas sociedades dos países europeus onde residiam.
Em qualquer caso, os interesses imperialistas britânicos que a apoiaram e os seguidores judeus desta política faziam parte de um grupo menor no seu início. Por sua vez, reivindicaram o que passaram a considerar como sua “antiga pátria”. Por estas razões, a campanha pela colonização estatal na Palestina está associada ao milenarismo cristão e ao colonialismo europeu do século XIX.
Na narrativa nacionalista israelense, uma comunidade religiosa foi transformada em comunidade política, a partir de grupos dispersos pelo mundo e um coletivo definido pela religião e laços de sangue, tornou-se o Estado de Israel. Tentaram apresentá-lo como uma entidade homogênea em movimento através do tempo, desde milênios atrás até o presente. O espaço e a cultura do coletivo são estáticos, pois os casamentos, as migrações e os conflitos internos modificaram os limites do coletivo. Tal argumento também é usado com a Torá, como fonte de identificação dos judeus. Este livro, considerado sagrado, foi exibido como se fosse uma prova dos direitos nacionais em Canaã no passado e na Palestina no presente. Além de dar à nação um sentimento de orgulho e singularidade como povo escolhido.
Inclui tendências variadas e até contraditórias, desde nacionalistas a liberais e socialistas, mas cuja maioria adere à tese territorialista, ligada à criação de um Estado-nação judeu que será o Estado de Israel. Este movimento político buscava um elemento comum para construir uma identidade própria, que era a religião/cultura judaica. O objetivo era encontrar um ponto de fusão para o novo movimento, visto que os participantes eram indivíduos de países muito heterogêneos.
A percepção judaica da sua identidade religiosa transformou-se numa identidade nacional. Judeus de vários países, culturas e línguas que chegaram à Palestina fundiram-se – com diversas dificuldades – numa nova identidade nacional judaica, especialmente após o estabelecimento do Estado de Israel. Ao mesmo tempo, ignoraram a identidade palestiniana em documentos que consagravam o estabelecimento de uma “casa nacional” judaica como um compromisso britânico com o seu poder sobre a Palestina. Excepto durante um breve período após a publicação do Livro Branco de 1939, a Grã-Bretanha permaneceu fiel a esta abordagem dupla até 1947-1948.
Até hoje, a natureza do Estado israelita é especificada pelo regresso dos judeus e pelo não regresso dos palestinos. Se essa dinâmica expirasse, a sua identidade se dissolveria. Na sociedade israelense, a participação direta do Estado e do Ministério da Educação comemora a Shoah. Está localizado num lugar central no discurso público israelita, bem como na sua imaginação social.
Na fase anterior ao estabelecimento do Estado de Israel, os judeus agruparam-se para trabalho coletivo nos kibutzim e nos moshavim. A diversificação da economia na Palestina promoveu a constituição do sindicato sionista Histadrut, integrado intencionalmente – em contradição com a ideologia socialista anterior – apenas com trabalhadores judeus que promoveram a nacionalização da economia. Em 1929, a Agência Judaica foi criada para encorajar a imigração e estruturar a comunidade judaica através de instituições de autogoverno.
Em suma, ao longo de quatro décadas, os sionistas adquiriram terras, colonizaram, estabelecendo uma população significativa mas muito menor em comparação com a população palestiniana. Em primeiro lugar, desenvolveram instituições, organizações políticas e sindicais. E mais tarde, começaram com a difusão do hebraico moderno como uma nova língua nacional e novos mitos foram estabelecidos – o empreendimento colonizador, a modernização e outros – que fortaleceram uma nova consciência e identidade nacional.
O “grande Israel”
Nas teorias do grande Israel tentam legitimar as tentativas de judaizar Jerusalém. A percepção de Eretz Yisrael como um todo foi manifestada no movimento da grande terra de Israel, uma organização secular de elite. A premissa representava dois factores: um conceito territorial e uma ideologia, cujo objectivo residia não só na conquista do máximo território possível, mas também na dominação co-imperial (com o poder americano) da região.
Pesquisadores israelenses especializados em estudos bíblicos usaram um repertório de termos e frases para a região da Palestina e sua periferia, tais como: “Judéia e Samaria são o núcleo central da nação israelita” em 1967; além de “Eretz Yisrael”, “a terra bíblica de Israel”, “grande Israel”, “a grande terra de Israel”, “a terra onde as tribos israelitas tiveram seus assentamentos”, “a terra prometida”, “a terra da Bíblia” e “terra santa”.
O termo Eretz Yisrael aparece apenas uma vez na Torá (Samuel, 1 13:19) e não existe nenhum mapa histórico ou religioso da extensão e fronteiras da “Terra de Israel”. E mesmo que existisse, na contemporaneidade não seria uma base para reivindicar esse território cerca de dois mil anos depois.
Apesar disso, a “Terra de Israel” e outras referências bíblicas foram investidas de conotações históricas e ideológicas de âmbito transcendente tanto na retórica israelita como na cultura ocidental. De acordo com esta percepção, as escrituras religiosas dariam aos judeus o título de propriedade que lhes permitiria espalhar-se pela “Terra de Israel”, o que lhes daria uma suposta legitimidade moral para o estabelecimento do seu Estado e o colonialismo de colonização implementado.
A relação entre as conquistas territoriais israelenses e a Torá refletiu-se numa figura secular como David Ben-Gurion quando afirmou “que a Bíblia constitui o sacrossanto título de propriedade dos ‘judeus’ com respeito à Palestina […] com uma genealogia de 3.500 anos “. Na Torá os mapas não são delimitados, mas sim populações com fronteiras difusas e dinâmicas, muito diferentes do controle exercido por um Estado-nação moderno. As fronteiras traçadas nos protectorados britânicos do século XX são aquelas que ambas as populações reivindicaram.
Os políticos israelitas defenderam um duplo padrão ao exaltar as suas liberdades públicas, ao mesmo tempo que transgrediam os direitos na Palestina. A tolerância religiosa do Estado de Israel de natureza confessional foi destacada e o seu texto sagrado foi explorado para endossar as suas expansões territoriais. Movimentos de colonização como o movimento sionista exploraram a Bíblia como documento legitimador para as suas conquistas contra povos para os quais esse texto não tinha a mesma autoridade. A aplicação da cosmovisão desta obra a um povo que não a apreendeu como categoria de autoridade é um exemplo de imperialismo político e religioso.
O general israelense Moshe Dayan, considerado um herói da guerra de 1967 em seu país, expressou o sonho imperial de um grande Israel em seu livro, Um novo mapa, outras relações, em 1969, cito: “Não abandonámos o nosso sonho e não esquecemos a nossa lição. Voltamos à montanha, ao berço do nosso povo, à herança do Patriarca, à terra dos Juízes e à força da Casa de David. Voltamos a Hebron (Al-Khalil) e Schem (Nablus), a Belém e Anatote, a Jericó e aos vaus do Jordão em Adam Hair.”
O pensamento imperial israelita manteve a sua estratégia de “aliança minoritária” para chegar a acordo com grupos minoritários na região. A sua preferência no Médio Oriente não foi a preeminência árabe ou muçulmana, pelo contrário, procura uma área de diversidade étnica, religiosa e cultural; evitar a possibilidade do pan-arabismo ou de uma união do mundo árabe. Fortalecer diferenças como os persas, os turcos, os curdos, os judeus e os cristãos maronitas do Líbano; aventurar-se nos assuntos internos dos países árabes, fazendo acordos com as referidas minorias étnicas ou religiosas. Este pensamento expansionista está em linha com a expansão territorial e a expulsão da maioria dos palestinianos da Faixa de Gaza e da Cisjordânia.
A luta palestina de gênero, classe e nacional
A resistência palestiniana recebeu influências estratégicas e ideológicas de modelos do terceiro mundo e de esquerda. Esses movimentos de independência, de revolução socialista ou de intransigência contra a interferência dos EUA, foram, em primeiro lugar, a Argélia, depois o Vietname, Cuba e a China. Embora estes países tivessem um padrão de não serem totalmente pró-soviéticos, a verdade é que se posicionaram no caminho oposto aos interesses americanos. Portanto, seu perfil estava mais relacionado à era da descolonização e ao chamado Terceiro Mundo. No entanto, a OLP explorou todo o seu potencial político e militar, dentro de certos limites.
Ao mesmo tempo, o movimento não possuía paradigmas precedentes que pudessem ser efetivamente aplicáveis à sua realidade. Isto significa que estes modelos não se assemelhavam à situação palestina para aplicar os mesmos arquétipos de emancipação nacional. A concepção anterior do objectivo da independência – a eliminação da presença sionista da Palestina histórica – foi reformulada em 1969 com o conceito complementar de um “Estado democrático secular”, que substituiria o exclusivista das administrações israelitas.
Desde 1967, os palestinos associam a sua luta ao que aconteceu no Vietname, na Argélia, em Cuba e na África negra. Esta inovação de perspectiva deveu-se tanto à ascensão de uma consciência política global como à luta universal contra o colonialismo e o imperialismo. A excessiva interferência das potências da área, somada às disputas geradas pela Guerra Fria – contexto regional e global – influenciaram a questão da Palestina. Portanto, devemos analisar até que ponto cada fator o fez. A nível internacional, os Estados Unidos, juntamente com Israel e, em menor medida, a Jordânia, desafiaram consistentemente o estabelecimento de um Estado palestiniano independente.
O movimento palestino apresenta uma diversidade de abordagens e movimentos no campo político. O imaginário de gênero predominou nos discursos dos países, assim como a nação foi descrita como mulher. A pátria era imaginada como um corpo feminino fértil que poderia ser objeto da arbitrariedade dos invasores. Por um lado, as mulheres, através das suas funções biológicas, regeneram o Estado. Por outro lado, os homens são vistos como fundadores honorários da nação que se ajustam à honra das suas mulheres. Os corpos femininos trazem cidadãos ao mundo e geram a nação. Mães e viúvas carregam a bandeira que caiu nas mãos dos seus heróicos filhos e maridos. Os símbolos de género – corpos, vestuário e comportamento das mulheres – tornaram-se sinais substanciais das culturas nacionais.
Do ponto de vista “ocidental”, existe a noção de que as mulheres palestinianas apareceram em cena com a chamada primeira Intifada. Porém, desde o início do século XX, lutaram junto com seu povo contra a colonização. No período de 1950 a 1989 ocorreu a ascensão do movimento de mulheres, o que levou à sua participação na rebelião generalizada de 1988-1992.
O Congresso das Mulheres Árabes de 1929 em Jerusalém iniciou o seu activismo político numa organização específica, no contexto da luta nacionalista. As mulheres deixaram de preservar o tecido social para se tornarem principais atores políticos. Desde os acontecimentos de 1948 e 1967, a sociedade reorganizou as bases de um movimento de resistência popular. A partir daí, o activismo feminino modificou as imagens de género em que o combatente masculino era visto como o libertador da nação e um símbolo central na construção do nacionalismo palestiniano, como pode ser visto no cartaz em anexo.
Da mesma forma, a União Geral das Mulheres Palestinas (GUPW), fundada em 1965, reuniu organizações de mulheres. Esta organização trabalhou com um duplo propósito tanto pelos direitos das mulheres como pela luta nacional e pela construção do Estado. Um grande número de estudos recentes enfoca esses aspectos.
A participação em atividades de guerrilha foi a principal fonte de legitimidade política. A fida’i (combatente) Leila Khaled foi um símbolo da luta armada pela libertação da Palestina, membro da FPLP, apareceu na fotografia após o sequestro de um avião em 1969. O anel em seu dedo é feito de uma granada em gancho e uma bala. Esta mulher revolucionária tinha um perfil notório como militante palestiniana e chamou a atenção do público internacional em 1969. Como membro do Setembro Negro, nesse mesmo ano participou no sequestro de um voo que foi desviado para Damasco; e em 1970, ela o fez no sequestro múltiplo de quatro aviões, foi presa e libertada 28 dias depois em uma troca de prisioneiros.
As mulheres têm um papel fundamental, como em todas as sociedades. Claro que há um debate se a libertação feminina ou nacional vem em primeiro lugar, mas numa tal ocupação e tentativa de limpeza étnica, mulheres, homens, adultos e crianças juntam-se à resistência, à violência e ao pacífico “existir é resistir”, em árabe Sumud.
Em 1969, Leila Khaled tornou-se a primeira mulher no mundo a sequestrar um avião e a figura icónica da militância palestiniana. Os contrastes entre a sua feminilidade e a sua postura combativa atraíram a atenção mundial. A sua fotografia tirada nesse ano por Eddie Adams, com a cabeça envolta numa kufiya, quase abrindo um sorriso enquanto segurava a sua Kalashnikov, adquiriu um estatuto emblemático da resistência palestiniana. Essa imagem, difundida pelas agências de notícias internacionais, impulsionou-a a tornar-se um protótipo revolucionário, semelhante à imagem e representatividade de “Che” Guevara.
A experiência e a visão dos palestinos variavam de acordo com as diferenças de classe, geração e região de origem. As histórias de identidade dos refugiados no Líbano e na Jordânia, na Síria e no interior, ou daqueles residentes em Israel, alimentaram-se umas às outras para unir cada visão de mundo específica. No entanto, a terra foi a componente por excelência, a nível simbólico e material, como denota o Dia da Terra, a figura do felahin, as lutas pelo direito ao regresso e a presença daquela forma do mapa representada nas suas manifestações culturais. Não se sentiam pertencentes aos países onde se refugiaram e assim mantinham a esperança de regressar às suas casas, como demonstra a guarda das suas antigas chaves.
Os moradores dos campos e os quadros da resistência expressaram as nuances de como o local de origem é apreciado nas particularidades da preparação dos alimentos, sotaque, costumes, residência real e memórias locais. No segundo caso, a classe de origem – se possuía terras urbanas, rurais, ou não tinha terra – era educada ou analfabeta. A divisão de classes urbano/rural repetiu-se nos campos de residência, assim como a integração ou não na sociedade libanesa.
Isto afectou tanto as relações dentro dos campos como, por exemplo, os casamentos. Em terceiro lugar, ainda existiam vestígios de atitudes políticas pré-Nakba na década de 1960, como a oposição aos partidos políticos em geral, ao contrário do caso dos palestinianos exilados noutras latitudes que não discutiremos aqui por razões de espaço.
A crescente independência da política palestiniana nos territórios teve impacto na difícil relação com a Jordânia. Desde 1970, aquele reino e a OLP disputavam o direito de representar os habitantes da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Nos campos de refugiados, durante as décadas de 1970 e 1980, criaram uma série de metáforas identitárias de experiências individuais e coletivas. Passaram por diferentes fases, o período de resistência de 1968 a 1982 (da invasão israelita à OLP no Líbano) e a fase subsequente de 1982 à intifada. As suas consequências estiveram ligadas à “ascensão e queda” da OLP e à dialética entre as populações do interior e da diáspora.
Os refugiados palestinos na Cisjordânia rejeitaram o estereótipo das vítimas. Esta atitude e o direito ao regresso foram duas das referências mais importantes, assim como a organização social na vida quotidiana nos campos de refugiados. Os refugiados celebraram o seu estatuto, à medida que o movimento de resistência restaurava a sua identidade como palestinianos após duas décadas de alienação sob o rótulo de “refugiados”. A sua identidade e experiência foram consolidadas através do trabalho humanitário, da utilização de práticas espaciais e das ligações com os seus locais de origem.
Nos campos, uma nova religiosidade proliferou entre os jovens: a oração e a frequência à mesquita, a invocação de Alá, o uso de certas roupas pelas mulheres. Este regresso pendular ao Islão no período posterior a 1982 formou uma opção de identidade crítica a um nacionalismo secular frustrado. Eles perceberam isso como uma reação à derrota de 1982, embora, embora o nível religioso da sua identidade tenha aumentado, a verdade é que a Palestina mudou na sua forma.
30 anos depois de Oslo
O interessante seria partir da educação e da ação global sobre Boicote, Desinvestimento e Sanções, BDS, além do rompimento das relações diplomáticas com Israel, gerando o desmantelamento do sistema de apartheid. Devemos diagnosticar para saber quais são as situações, dado o racismo estrutural aliado à colaboração e inserção de Israel no Complexo Industrial Militar dos Estados Unidos e da OTAN, além de ser o eixo do plano de “caos controlado” no Médio Oriente expandido. Leste, a questão é minar e enfraquecer esse apoio, o americano, o problema real e urgente.
A realidade social e política palestiniana foi fracturada em três planos (alguns consideram quatro, com Jerusalém Oriental): na Cisjordânia e em Gaza, dentro de Israel e fora da Palestina histórica (refúgio e emigração). Estas três dimensões, embora tenham particularidades, não foram isoladas umas das outras e influenciaram-se mutuamente. Para os palestinos fazem parte da mesma realidade e qualquer palestiniano tem os seus familiares espalhados nestes três mundos. Por outras palavras, as três esferas da ocupação israelita da Palestina estão inter-relacionadas e são inseparáveis.
Em primeiro lugar, a questão dos refugiados diz respeito aos que foram expulsos das suas aldeias e forçados ao exílio. Em segundo lugar, aqueles que permaneceram nos territórios palestinianos – duas décadas sob controlo jordano (Cisjordânia) ou egípcio (Faixa de Gaza) –, posteriormente ocupados por Israel em 1967. E em terceiro lugar, aqueles que continuaram dentro de Israel e receberam a cidadania israelita.
Embora este último grupo possa ter aproveitado o facto de ser israelita política, social e economicamente, a verdade é que tiveram de suportar um regime semelhante ao apartheid porque não eram judeus, eram suspeitos de deslealdade ou eram vistos como uma quinta coluna palestina. De cento e quarenta mil em 1949 passaram para mais de um milhão e meio hoje (20% da população israelita).
Sendo marginalizados, os palestinianos-israelenses reivindicaram a sua identidade palestina e uma política que liga o fim da discriminação e o acesso à plena cidadania em Israel com a resolução da questão geral. Ou seja, consideravam a sua situação relacionada com o conflito e pensavam que, após a sua resolução, o establishment judaico assumiria a sua integração em Israel.
Os palestinos na Cisjordânia, em Gaza e em Israel estão unidos na sua luta pela sobrevivência, no sofrimento e na perda. Os membros da diáspora intensificaram o compromisso com a sua pátria e exigem uma voz na procura de uma solução. A percepção centra-se na ocupação israelita da Cisjordânia e de Gaza, e nos esforços palestinianos para estabelecer ali um Estado, sendo assim reduzida a uma das suas dimensões. Este empreendimento colonial europeu teve a particularidade de o sionismo não representar um Estado nos seus primórdios. Depois de 1948, teve um no seu confronto com a população indígena palestina e os seus vizinhos árabes.
Uma representação tendenciosa tem sido uma comunidade tradicional e pré-moderna, que também foi incutida no resto dos palestinos pela maior parte da intelectualidade ocidental. Portanto, manteriam identidades múltiplas: israelitas, árabes, palestinianos, muçulmanos; compatíveis entre si, mas não isentos de tensões. A nova identidade judaica israelita apresentada como uma superação das suas culturas diaspóricas de origem e do seu caldeirão também não tem sido uma construção monolítica e linear.
O caso dos palestinos é semelhante ao dos arménios no negacionismo. Portanto, os israelitas, nesse sentido, são semelhantes aos turcos e aos sul-africanos. No negacionismo turco, o leitmotiv era: um povo, uma raça, uma religião; isto é, “somos turcos, falamos turco e somos muçulmanos”. Ao mesmo tempo, no caso israelita, procurava-se a homogeneidade de um Estado Judeu.
A ferramenta do paradigma colonial de ocupação e a analogia do apartheid contribuiriam para desbloquear o processo de paz e permitiriam mais um passo rumo a uma resolução. Um nacionalismo é opressivo (Israel), o outro é o nacionalismo dos oprimidos (Palestina). Eles são uma identidade nacional, apesar daqueles que a contradizem. É provavelmente um dos casos mais importantes de luta nacional, mas que, ao mesmo tempo, acaba por ser um dos mais controversos.
Embora os palestinos tenham se formado na resistência, a sua especificidade ocorreu na diáspora, algo que, paradoxalmente, está relacionado com diversas diferenças com o caso israelense. Foram reconfigurados, foram exilados, mas não se tornaram jordanianos, nem sírios, nem libaneses. Por sua vez, eles se definiram como árabes (em certo ponto pan-árabes) e estão ligados a uma identidade muçulmana e foram oprimidos pelo Império Otomano.
É uma nação, são árabes e ao mesmo tempo palestinos. Passaram de uma protonação a uma nação forjada, através da escolha de certos símbolos: a resistência, a OLP e a sua carta orgânica, o seu pedido de um Estado laico democrático. Eles têm uma identidade nacional diferente de outros árabes. Os árabes são, em certo sentido, uma nação, mas não se tornaram um Estado, apesar de tentativas como a da República Árabe Unida (UAR, 1958-1961), que foi reorganizada em determinados Estados-nação.
Quando um palestiniano nasce num campo de refugiados no estrangeiro, ele ou ela é considerado palestiniano. Não são apenas uma nação sobreposta, assemelha-se à situação de um povo deslocado por um colono. Por sua vez, o palestino-israelense tem duas nacionalidades.
O povo palestiniano continua a lutar pela sua autodeterminação, independentemente de ser possível a aplicação de uma solução binacional ou de dois Estados. Sem deixar de ver a situação de ocupação que se arrasta há décadas e aumenta continuamente, é uma possibilidade que as eleições marcadas para este ano possam ser reavivadas. Ao mesmo tempo, a aplicação do apartheid à sua população é reconhecida internacionalmente, mas isso ainda não modificou substancialmente a sua realidade.
Entre as formas de resistência palestiniana e de solidariedade internacional para com a sua causa, encontramos a campanha BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções (relacionada com a campanha sul-africana), que se opôs às declarações da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, de rejeitar a assimilação entre judeofobia (anti -semitismo) como uma forma de racismo e anti-sionismo, como uma rejeição das políticas israelitas em relação aos palestinianos.
Reconfiguração do sistema mundial
A retirada dos Estados Unidos é visível em alguns aspectos, como a retirada do Afeganistão, ou a possível retirada do Iraque, mas ainda não podemos conjecturar como será o seu reajustamento para toda a região. O que podemos observar é uma mudança no cenário de intervenções militares que podem minar, de bases, de sanções econômicas como as contra o Irã, e de alianças como com Israel ou a Arábia Saudita, onde têm influenciado actores regionais e mobilizações populares. Isto não conseguiu evitar a destruição de vários países, da Líbia ao Afeganistão, com as terríveis consequências para as suas populações e para os refugiados que isso causou.
Resta saber se os Estados Unidos desmantelam a máquina de guerra implantada no Médio Oriente devido à sua ligação ao apoio do dólar e porque ao mesmo tempo procuram intercalar força e consenso com os subimperialismos da Turquia, do Irã, Arábia Saudita mais o papel co-imperial de Israel; bem como intimidar potências rivais. Os últimos 20 anos deste novo imperialismo e intervenção direta estão separados do desdobramento chinês ao anunciar a Nova Rota da Seda em 2013, que inicia uma forma quase oposta de hegemonia em relação à região, num outro tipo e momento de desenvolvimento.
Este novo cenário de caos sistêmico tem sido delineado desde a crise capitalista de 2008 e a proposta de “pivô asiático” de Obama, e com vários factos incontestáveis de deslocamento geopolítico. Um eixo triangular entre a Rússia, o Irã e a China que em 2013 se opôs às propostas dos EUA para bombardear a Síria. Em 2015, a Rússia envolveu-se de forma decisiva, com o apoio tácito da China.
As mudanças que ocorreram e são visíveis na última década mostram que a “asianização” económica está a lutar pelo poder com dois representantes da tríade, a Europa Ocidental e o Japão, e por um declínio relativo americano em vários indicadores económicos. Os últimos movimentos tectônicos denotam a importância do Oceano Índico e do Pacífico, em comparação com a preeminência anterior do Atlântico; se olharmos, por exemplo, para os portos mais movimentados do mundo.
Israel (a potência americana assegura-lhe uma “vantagem militar qualitativa” na região) juntamente com a Arábia Saudita (apoiante do petrodólar), sustentam as políticas anglo-americanas para a região. Estas estão resolvidas entre uma posição “globalista” que apoiaria a pacificação, e outra “americanista” que persiste na proposta de guerra, juntamente com a gestão da NATO e com o renascimento da QUAD (aliança entre Austrália, Japão, Índia e Estados Unidos ) e agora o AUKUS (Austrália, Reino Unido, EUA).
O espaço pós-soviético é central para a competição global por áreas de influência e recursos. Sob a OTAN, a aliança anglo-americana procura cercar militarmente a URSS e depois a Rússia. Em qualquer caso, o atolamento dos Estados Unidos na Ásia Central e no Médio Oriente demonstraria que a supremacia militar não é consistente com os resultados das intervenções.
Isto é um reflexo da reconfiguração do sistema mundial. Três factores na mesa global contextualizam este novo derramamento de sangue. A influência dos Estados Unidos e o seu relativo declínio no Médio Oriente, mais o desgaste do conflito na Ucrânia, o poder da China e a sua aliança com a Rússia. Influência dos EUA e o seu declínio relativo na região e no Médio Oriente. É por isso que é crucial compreender a importância de analisar o contexto regional e as implicações geopolíticas desta questão.
Embora esta violência seja cíclica, mostra como o mundo mudou, especialmente desde 2013-2014. Enfrentamos uma crise de longa duração nos Estados Unidos, um declínio relativo em vários aspectos económicos, ao mesmo tempo que mantém a primazia financeira e tecnológica, a sua hegemonia global está a ser questionada. Orienta-se com o “pivô asiático” desde Obama em 2011, anterior à Iniciativa Cinturão e Rota de 2013, e com os freios da Rússia e da China à destruição iminente da Síria, que teria sido o corolário da destruição do Iraque (1991). e 2003). ), Afeganistão (2001), Líbia (2011). Por isso, recua em alguns locais-chave como o Médio Oriente, onde a China e a Rússia estão a avançar.
Os Estados Unidos, na sua estratégia de não ceder ainda mais a sua primazia, têm utilizado a sua expansão e intervenção militar. Três áreas de tensão emergem como as principais e uma quarta, a Europa de Leste com a Ucrânia-Rússia e o chamado Oriente Médio, Israel-Irã, e Taiwan na Ásia-Pacífico com a China, além da área do Sahel altamente revolucionada pela movimentos emancipatórios ou poderíamos classificar uma “segunda onda de independência”, pelo menos na África Atlântica.
O padrão de violência simbólica e material em todo o mundo, especialmente desde 1945, aumentou em 2001, com o que chamaram de “guerra contra o terrorismo”. Agora tenta-se renovar esta reconfiguração do sistema mundial, com a ascensão do poder chinês acompanhada pela aliança estratégica com a Rússia, à qual o Irã adere.
A Ucrânia como eixo de confronto está mais desgastada. Acrescenta-se um incipiente processo de desdolarização devido ao planeamento neste sentido por parte das grandes potências emergentes que procuram desta forma equilibrar o poder mundial e evitar a arma das sanções económicas dos EUA como aconteceu com a Rússia ou o Irã. O sistema mundial também é reconfigurado pelos dez anos da “Faixa e Rota”. Temos eixos de tensão nessas rotas e na reconciliação entre a Arábia Saudita e o Irã. É um erro analítico observar apenas o que acontece na Palestina-Israel e dissociá-lo do seu contexto regional e global.
A actual explosão sistémica é a expansão dos BRICS+ (mais as eleições dos EUA em 2024) para onze países: Egipto, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Irã (mais Argentina). Constituem um novo eixo de abordagem à Eurásia, de aumento da produção petrolífera e de passagens geoestratégicas globais que atravessam a região como o Canal de Suez, o Estreito de Bab el-Mandeb e o Estreito de Ormuz. Com exceção da Rússia, são países colonizados ou semicolônias das potências do G-7 nos últimos séculos.
Martín Martinelli é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidad Nacional de Luján (Argentina).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA