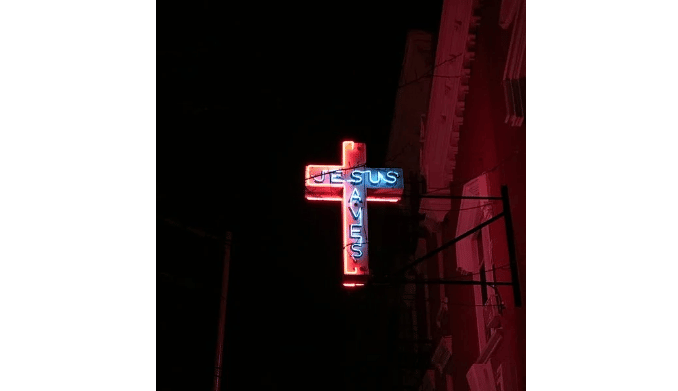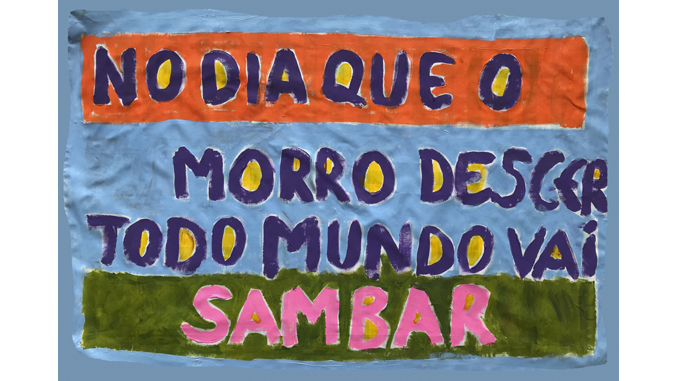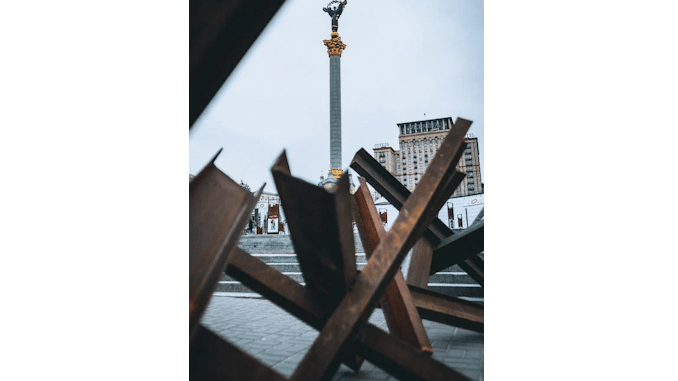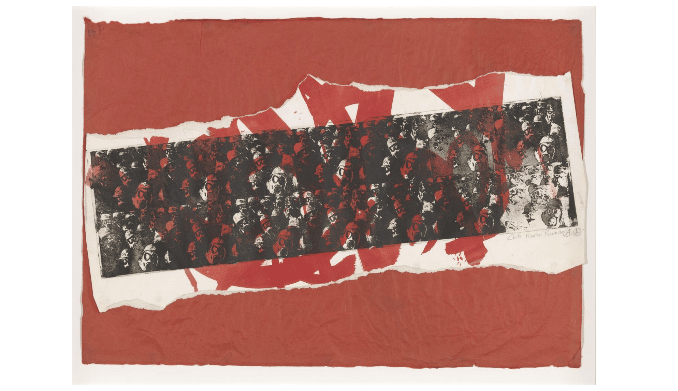Por LUCAS OLIVEIRA MENDITI DO AMARAL*
Os ataques de Israel contra o povo palestino manifestam-se sobre a aparência de retaliação contra os ataques do Hamas, entretanto percebemos que esses os ataques são a concretização histórica do Plano Dalet iniciado há muito tempo.
Os recentes ataques de Israel contra o povo palestino só podem ser entendidos com um pouco de história. Não podemos compreender a motivação atual de Israel sem entender sua fundação, sua base e sua própria estrutura de funcionamento. O presente artigo se reserva o direito de não fazer uma análise às pressas do presente, mas relatar aquilo que a historiografia comprometida cientificamente há tempos constatou.
Não precisamos dizer muito, basta dizer o óbvio: façamos, nesse primeiro momento, um apanhado geral sobre a criação do Estado de Israel, passemos pelas empreitadas sionistas e tremamos diante da face maléfica do “Plano Dalet”, pedra angular da criação de Israel como conhecemos hoje. Revelaremos, assim, a limpeza étnica que fundou Israel e continua a garantir sua reprodução. Para nós, a limpeza étnica da Palestina tem suas veias abertas.
As três correntes do sionismo
Durante sua diáspora, o povo judeu vivia disperso ao redor do mundo sempre carregando o signo de “estrangeiro” em Estados “de” outras nacionalidades e etnias numericamente superiores.[i] Nesse contexto, a ideia de um Estado judeu na Palestina cresceu consideravelmente.
Norman Finkelstein[ii] afirma que haviam três correntes distintas na consenso sionista: (i) o sionismo político, que partia da falência do ideal democrático e do forte nacionalismo romântico, dizia que o antissemitismo jamais seria resolvido, mas que a construção de um Estado em que judeus fossem maioria seria capaz de resolver a questão judaica para os judeus que lá vivessem; (ii) o sionismo trabalhista, que, ligando-se à “esquerda”, afirmava que a questão judaica não se resumia a um Estado, mas seria preciso que dentro desse se criasse uma classe trabalhadora judia, exigindo, assim, uma maioria de trabalhadores judeus; (iii) o sionismo cultural, que acreditava que o problema não era dos judeus, mas do judaísmo, portanto, a ausência de um Estado faria com que o judaísmo definha-se, desse modo, o Estado judeu seria um centro espiritual para unificar a nação judia e a maioria judaica seria condição desse renascimento cultural.
É preciso ter em mente que o principal pilar do sionismo é a criação de um Estado de maioria judaica na Palestina, assim, a imensa população árabe que vivia na região deveria ser transformada, de alguma forma, em uma minoria que, talvez, fosse tolerada pela maioria judaica. Em outras palavras, a criação do Estado de Israel nos termos do sionismo equivaleria à retirada da população que já viva (há muito) na Palestina.
Havia, como vemos, um consenso em relação ao empreendimento colonizador sionista, com raras oposições provindas ou de judeus ultraortodoxos, que diziam que a terra prometida deveria ser devolvida apenas com a vinda do messias, ou de grupos de dissidentes como o Brit-Shalom.[iii]
A justificativa sionista
De todo modo, fica a questão: como os sionistas justificavam seu empreendimento colonizador na Palestina? Em primeiro lugar, eles partiam de duas concepções burguesas nacionalistas sobre um Estado[iv]: (i) a ideia de que o estrutura política de um Estado não pertencia aos habitantes ou cidadãos, mas há nação (comunidade orgânica) que numericamente era superior no território; e (ii) a noção de que o território de um Estado não pertence aos seus habitantes, mas à nação que é singularmente ligada a ele por meio de um laço histórico-espiritual.
Com esse suporte teórico, os sionistas afirmavam que a Palestina é a pátria “histórica” dos judeus, portanto, a maioria árabe que lá habitava seria apenas um acidente de segunda ordem, afinal, aquela pátria sempre pertenceu ao povo judeu e a população árabe teria apenas uma espécie de posse das terras. Norman Finkelstein[v] enumera os “fatos” que justificariam o direito dos judeus sobre a Palestina: (1) A ligação do povo judeu com a terra da Palestina era sui generis; (2) os habitantes árabes da Palestina, embora efetivamente constituíssem uma nação, não formavam uma nação separada, antes fazendo parte de uma nação árabe maior, para a qual a Palestina não tinha especial ressonância; ergo (3) o povo judeu tinha um direito ‘histórico’ à Palestina, ao posso que a população árabe local podia na melhor das hipóteses reivindicar simples direitos ‘residenciais’ na região.
Bem-Gurion, exponente do sionismo, afirmava que a Palestina não era a pátria histórica dos árabes palestinos, já que eles fariam parte da grande nação árabe e suas pátrias históricas seriam a Síria, o Iraque e a península Arábica; a Palestina, por sua vez, seria a pátria histórica do povo judeu.
Esse tipo de justificativa, sobre a qual se funda o Estado de Israel – de seus primórdios até hoje – reforça o que já aventamos: um Estado judeu na Palestina nos moldes do sionismo só poderia existir questionando toda a presença árabe (não-judia em geral), excluindo-a e expulsando-a de seu próprio lar. O que o sionismo desejava, para criar Israel, seria um êxodo massivo de toda população árabe local, criando um Estado exclusivamente judeu.[vi]
As três premissas para viabilidade de um Estado exclusivista
Novamente, usamos o aporte teórico de Norman Finkelstein para explicar as premissas do empreendimento sionista, para depois descermos aos confins do real e expor a dura realidade infligida aos palestinos.
Era consenso entre os sionistas que “a questão árabe na Palestina” só seria resolvida com a expulsão desse povo, possibilitando a criação de um Estado exclusivamente judeu. Porém, para que esse empreendimento colonizador fosse viável, era preciso ter em mente algumas premissas percebidas por Finkelstein.[vii]
(i) O sionismo não deveria esperar passividade e aceitação dos árabes locais, afinal, o movimento sionista não toleraria negociações, ele queria a expulsão total dessa população ou, no máximo, a permanecia de uma minoria enfraquecida. Além disso, como os próprios sionistas não consideravam os palestinos como detentores daquele território, eles não poderiam ser considerados aptos a negociar por terras que nem são deles.
(ii) Para criar um Estado viável, era preciso ter o apoio de uma (ou mais) grande potência mundial para fazer frente a inevitável resistência árabe, ou seja, o empreendimento sionista (e o futuro Estado) estaria protegido por uma força que não depende da população local. Para isso, os sionistas sabiam que desde o início teriam que se submeter aos interesses do imperialismo dessa potência, que de início fora a Inglaterra. Um Estado judeu cumpria diversos interesses imperialistas britânicos, dentre eles destaco: serviria como “testa de ponte”[viii] em uma região estratégica; e desviaria o descontentamento da população local para o Estado judeu, poupando a potência.
(iii) O conflito na Palestina teria que ser resolvido localmente subordinado aos interesses das grandes potências, ou seja, em última análise, o empreendimento sionista só poderia contar com o apoio das potências imperialistas, porém, seus vizinhos árabes poderiam ser convencidos das “benesses” em apoiar um Estado judeu diante de um imenso reino árabe. Ademais, os árabes locais concretizariam suas demandas em sua pátria autêntica, como vimos, assim, tratava-se de deslocar os palestinos para outros países árabes sem nem os consultar.
A revolta
Em 1918, quando a Inglaterra ocupou a Palestina, os judeus correspondiam a 5% da população total.[ix] De início, os colonizadores sionistas tentaram conquistar a Palestina comprando lotes de terras e entrando no mercado de trabalho, garantido sua própria sobrevivência e iniciando o empreendimento colonizador.
Já com todas as demandas sionistas em jogo, em 1917, o secretário de Assuntos Estrangeiros da Inglaterra, Lorde Balfour, fez uma promessa ao movimento sionista: estabelecer um lar nacional para os judeus de todo o mundo na Palestina. Na declaração que fez em nome do governo britânico, ele citou a população árabe local pelo nome de “não-judeus”,[x] como se a Palestina já fosse dos judeus e os árabes que viviam por lá há mais de um milênio eram algo em segundo plano, isto é, há judeus e “não-judeus”, mas não propriamente árabes palestinos.
A Declaração Balfour, como ficou conhecida, serviu para acender ainda mais a chama do empreendimento sionista. A Inglaterra, claramente, era pró-sionista pelos motivos que comentamos anteriormente, sendo que a Declaração Balfour foi anexada ao documento de fundação do Mandato britânico na Palestina.
De qualquer forma, o Império britânico sabia que não podia simplesmente desconsiderar a população local como se não existissem, assim, até 1928 a Palestina era considerada como um estado sob influência da Inglaterra e os ingleses tentaram impor uma estrutura de governo, que eu chamaria de pseudodemocrática. O sistema funcionava em regime de paridade entre judeus e palestinos tanto no parlamento quanto no governo, ocorre que os palestinos eram maioria (de 80 a 90%) e o sistema de paridade distorcia o caráter majoritário do governo, sendo que as comunidades judaicas seriam super-representadas e os palestinos sub-representados.
Fato é que, quando proposto no início dos anos 1920, as lideranças palestinas o rejeitaram, pelo claro favorecimento ao sionismo, porém, em 1928, acuados pela crescente migração judaica, aceitaram o sistema de paridade, mas os sionistas rapidamente o rejeitaram, já que ainda não compunham a maioria da população.[xi]
Diante da inação dos ingleses frente o empreendimento sionista e o não cumprimento nem mesmo do acordo de paridade, os palestinos realizam um primeiro levante contras os ingleses em 1929, que foi rapidamente reprimido. Em 1936, uma grande revolta de palestinos armados pode ser considerada como a primeira etapa de resistência organizada contra o sionismo. Os palestinos, impulsionados pelo assassinato de uma importante liderança em 12 de novembro de 1935, o Sheikh Izz al-Din al-Quassam, se revoltaram contra o Império britânico esperando alcançar a sua independência nacional e demonstrar sua aversão ao estabelecimento de um “lar nacional judeu” na Palestina[xii].
Ghassan Kanafani diz que os slogans da liderança nacional palestina podiam ser resumidos em: (a) a imediata interrupção da imigração judaica; (b) proibição da transferência da posse de terras palestinas-árabes aos colonos judeus; (c) o estabelecimento de um governo democrático, no qual palestinos-árabes teriam a maioria, em conformidade com a sua superioridade numérica.[xiii]
Diante da morte de uma importante liderança, os palestinos se revoltaram espontaneamente, iniciando greves e atos de desobediências civis, que muitas vezes terminavam com o enfrentamento com a tropas britânicas ou judeus sionistas. As elites árabes locais, diante do levante popular, perceberam que deveriam apoiar o movimento ou seriam varridos, assim, o Mufti Hajj Amin al-Hussaini passou a apoiar abertamente o movimento.[xiv] Entretanto, o movimento escapou da própria liderança árabe, sendo que os camponeses deram á revolta a forma de uma insurreição armada, na chamada Jihad sagrada do campo.[xv]
Os ingleses esmagaram a revolta brutalmente com um combate que durou três anos. As tropas inglesas explodiam casas, caçavam e matavam todas as lideranças palestinas, muitos aldeões foram presos, feridos ou mortos e todas as unidades militares palestinas foram sucateadas.[xvi]
A organização militar
Desde o início, os sionistas sabiam que os árabes palestinos não iriam ceder suas terras sem luta, assim, o empreendimento sionista precisava contar com um poderoso aparato militar. O oficial britânico Orde Charles Wingate foi alocado na Palestina em 1936 para conter a revolta, porém, desde logo, como cristão fervoroso que esperava a segunda volta de Cristo em Israel, encampou a ideia sionista e passou a treinar os judeus e suas milícias em táticas de combate.[xvii].
Charles Wingate foi um dos principais responsáveis, com aval do governo britânico, para melhorar consideravelmente o principal grupo paramilitar sionista, a Haganá. A revolta árabe permitiu que os membros da Haganá treinassem todas as técnicas militares contra os camponeses palestinos. As ações da Haganá na época, em geral, se centravam em intimidar as comunidades palestinas ao redor dos assentamentos judeus.[xviii]
Entretanto, para atingir o objetivo sionista, o simples ataque aos vilarejos não bastava, era preciso planejar detalhadamente a limpeza étnica que iriam empreender contra aquele povo. Assim, surgiu a ideia de mapear e ter um registro detalhado de todos os vilarejos palestinos: membros da Haganá eram enviados para missões de reconhecimento e mapeamentos por meio de fotografias aéreas foram realizados.[xix]
Fato é que no final da década de 1930 os registros estavam quase completos, os sionistas colheram, segundo Ilan Pappé[xx]: “Detalhes precisos sobre a localização topográfica de cada vilarejo, suas vias de acesso, a qualidade da terra, fontes d’água, principais fontes de renda, sua composição sociopolítica, afiliações religiosas, nomes de seus mukhtars, relação com outros vilarejos, idade de cada homem (dos 16 aos 50) e muito mais. Além disso, os sionistas criaram o “índice de hostilidade”, que era definido de acordo com o grau de participação na revolta de 1936, mas a atenção maior era dada às pessoas que supostamente mataram judeus durante a revolta”.
“Os arquivos eram constantemente atualizados, sendo sua última atualização em 1947, às vésperas da execução do plano sionista. A adição de 1947 foi uma lista de procurados em cada vilarejo, o que “justificou” atrocidades contra o povo palestino. Mais tarde, em 1948, as tropas sionistas usavam as listas para matar homens palestinos, executando-os no mesmo momento. A inclusão na lista se dava, em termos gerais, pelo envolvimento ativo na luta contra o sionismo, o que era generalizado na população árabe local”.[xxi]
A questão militar, como dissemos, sempre foi intrínseca ao sionismo. David Ben-Gurion, dirigente do movimento sionista de 1920 a 1960, sempre temeu uma resposta armada das nações árabes contra o empreendimento sionista, sendo que tinha a segurança (bitachon em hebraico) como questão central[xxii]. Até hoje, como podemos ver no conflito atual, bitachon é usado como justificativa para a violência extrema contra a população palestina.
Em fevereiro 1947 a Inglaterra, já desgastada pela guerra, decidiu deixar a Palestina e entregar seu Mandato à ONU. Ben-Gurion, desde 1946 vinha trabalhando em um plano militar para ser implementado contra os palestinos assim que os ingleses partissem[xxiii], esse plano era o Plano C (ou gimel em hebraico).
O Plano C foi antecedido pelo Plano A e o B. O Plano A foi criado em 1937 pelo então comandante da Haganá, cogitando uma possível saída inglesa e as possibilidades da implementação de um Estado judeu. O Plano B seguia o mesmo princípio, só que foi refeito em 1946. O Plano C congregava os dois planos anteriores e visavam estabelecer ordens precisas de como agir militarmente contra a população palestina, com estratégias de campanhas ofensivas contra o campo e a cidade[xxiv]. O objetivo principal do Plano C era desencorajar um ataque árabe contra os judeus e retaliar qualquer insurreição árabe.
Entretanto, alguns meses depois, outro plano foi elaborado. Um plano que não pretendia desencorajar e retaliar, mas visava a expulsão total e sistemática do árabes-palestinos da Palestina. Esse era o Plano D (ou Plano Dalet) que contava com todos os arquivos e mapas dos vilarejos, com a lista de alvos humanos[xxv]. O Plano Dalet era, como revelou Ilan Pappé, um plano militar muito bem elaborado de limpeza étnica.
A partilha e a execução do Plano Dalet
Em 1947, quando a ONU começou a discutir a questão da Palestina, os palestinos correspondiam a 2/3 da população total e os judeus a 1/3. A UNSCOP (United Nations Special Committee for Palestine) patrocinava abertamente a solução da partilha, ou seja, para solucionar a questão seria preciso criar dois Estados: um judeu e um “não-judeu”. De fato, isso ocorreu e em 29 de novembro de 1947 a ONU emitiu a Resolução 181, partilhando a Palestina entre árabes e judeus.
Por óbvio, a Resolução da ONU ignorou completamente a composição étnica do país, já que a maioria palestina, população nativa há milênios, sempre rejeitou partilhar sua terra natal. Ademais, caso a ONU partilhasse proporcionalmente a Palestina entre árabes e judeus, os judeus teriam apenas 10% do território, entretanto, Israel nasceu, pela ONU, com 56% do território.
A Resolução da Partilha dava ao Estado Judeu a maioria das terras férteis, as quais incluíam mais de 400 vilarejos palestinos[xxvi], que teriam que ser deslocados, na melhor das hipóteses, caso a Resolução fosse cumprida. O Estado judeu teria 56% do território com uma população de 499 mil judeus e 438 mil palestinos, já o lado palestino teria 818 mil palestinos e 10 mil judeus em 42% do território.[xxvii]
A Resolução 181 foi aprovada em 29 de novembro de 1947 e dias depois os sionistas começaram a desrespeitá-la, iniciando seu projeto de limpeza étnica. Esses primeiros ataques sionistas, apesar de pontuais, já foram suficientes para expulsar quase 75 mil palestinos[xxviii]. O ataque organizado, o Plano Dalet, começou a ser executado em 10 de março de 1948. O primeiro alvo foram os centros urbanos palestinos, sendo que até o fim de abril do mesmo ano, todos já estavam tomados e 250 mil pessoas foram expulsas.[xxix]
Oficialmente, o Plano Dalet determinava a invasão dos vilarejos árabes, porém, caberia às circunstâncias da operação militar específica decidir o destino do vilarejo entre as seguintes opções: rendição ou destruição. Contudo, como demonstra Ilan Pappé[xxx], o resultado prático foi a destruição em massa de todos os vilarejos palestinos: o plano foi convertido, na prática, em uma ordem geral de destruição e massacres.
Em 9 de abril de 1948 o primeiro vilarejo palestino, Qastal (o Castelo) caiu nas mãos dos sionistas, que venceram a resistência palestina liderada por al-Hussayni e, a partir de então, permaneceram com seu plano de dominação total e irrestrita do território palestino.
A Limpeza étnica como estrutura intrínseca do Estado de Israel
Como vimos, a criação de um Estado formado exclusivamente pelo povo judeu sempre constituiu a meta principal do sionismo. Nunca houve a intenção – já absurda por si só – de partilhar o território dos palestinos, a partilha da ONU (nunca respeitada) foi o meio pelo qual o sionismo encontrou sua forma de dar início ao seu caráter fundamental: a limpeza étnica da Palestina para a criação de um Estado exclusivamente judeu. O povo palestino seria tolerado, quando muito, como uma minoria indesejada.
Os ataques atuais de Israel contra o povo palestino manifestam-se sobre a aparência de retaliação contra os ataques do Hamas, entretanto, quando dizemos o óbvio – entendendo um pouco da própria história do sionismo e de Israel – percebemos que, essencialmente, os ataques de Israel são a concretização histórica do Plano Dalet iniciado há muito tempo. A ordem do governo de Israel para que os palestinos evacuem em peso a faixa de Gaza é apenas a demonstração fática do que há muitos anos lobby sionista manteve velado.
Por fim, é importante lembrar que todos os conflitos, começando pelo de 1948 até os atuais não são uma oportunidade para que a limpeza étnica ocorra, pelo contrário, a limpeza étnica é a causa que motiva os conflitos. Dito em outra forma: os conflitos ocorrem para que a limpeza étnica prossiga, as guerras são os meios para que essa limpeza atinja seus fins.
*Lucas Oliveira Menditi do Amaral é graduando em direito na Universidade de São Paulo (USP).
Notas
[i] FINKELSTEIN, Norman. Imagem e realidade do conflito Israel-Palestina. Rio de Janeiro: Record, 2005, pp. 60-61.
[ii] Ibid., pp. 60-63.
[iii] Ibid., p. 65.
[iv] Ibid., p. 67.
[v] Ibid., p. 68.
[vi] Ibid., p. 70.
[vii] Ibid., pp. 72.
[viii] “Posição avançada ocupada por uma força militar em território inimigo, do outro lado de um rio ou de outro obstáculo natural, para assegurar acesso, avanço ou desembarque”. In: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2023.
[ix] PAPPÉ, Ilan. A limpeza étnica da Palestina. São Paulo: Sundermann, 2016, p. 31.
[x] Ibid., p. 33.
[xi] Ibid., p. 34.
[xii] Ghassan Kanafani. A Revolta Árabe de 1936-1939 na Palestina. São Paulo: Sundermann, s.d.p., p. 68.
[xiii] Ibid., p. 69.
[xiv] Ibid., p. 76.
[xv] Ibid., pp. 79-80.
[xvi] PAPPÉ, Ilan. A limpeza étnica da Palestina. São Paulo: Sundermann, 2016, p. 34.
[xvii] Ibid., pp.35-36.
[xviii] Ibid., p. 36.
[xix] Ibid., p. 38.
[xx] Ibid., p. 39.
[xxi] Ibid., pp. 41-42.
[xxii] Ibid., p. 46.
[xxiii] Ibid., p. 47.
[xxiv] Ibid., p. 48.
[xxv] Ibid., p. 48.
[xxvi] Ibid., p. 54.
[xxvii] Ibid., p. 54.
[xxviii] Ibid., p. 60.
[xxix] Ibid., p. 60.
[xxx] Ibid., p. 108.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA