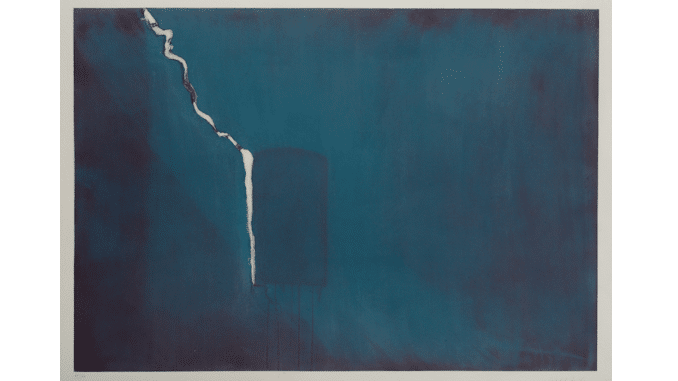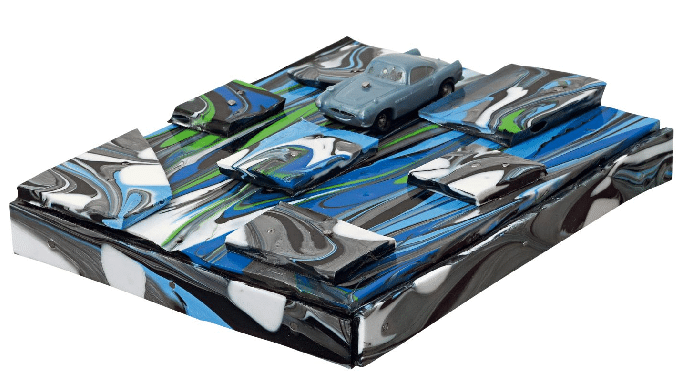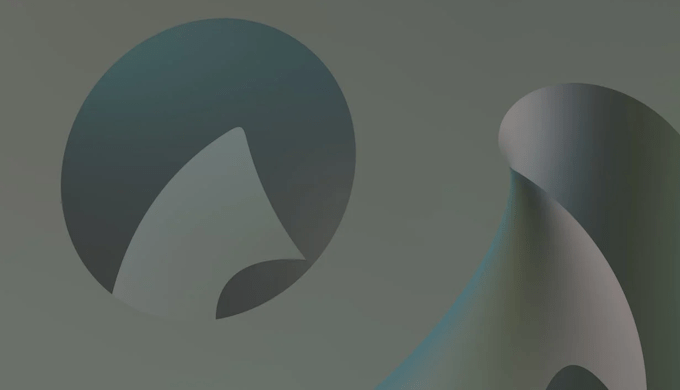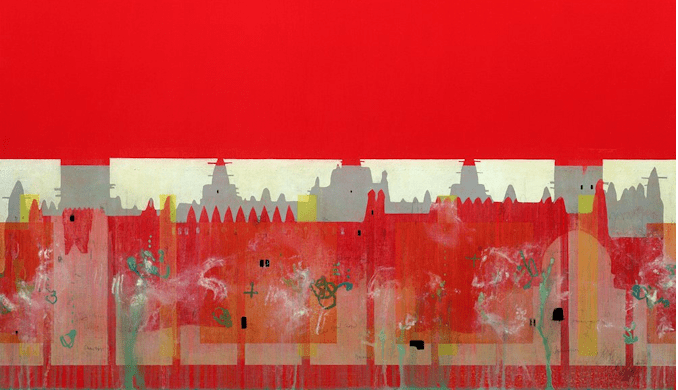Por KRISTIAN FEIGELSON
O que é que o cinema pode realmente fazer face às guerras que continuam a ser consideradas injustas em todo o mundo?
O festival de cinema israelense, que ocorreu em Paris no final de março de 2024, teve como pano de fundo seis meses de guerra em Gaza, sem fim à vista, nem perspectivas para nenhuma das partes. O festival apresentou um panorama da produção recente, no qual os filmes sobre a guerra não estão muito presentes. Como explicar ou interpretar este fato, tendo em conta as quinze guerras ocorridas desde o nascimento do Estado de Israel em 1948 e a abundância de filmes produzidos?
O imaginário da guerra?
O cinema israelense faz parte da história de uma sociedade fundada sobre as ruínas do nazismo e permanentemente marcada pela insegurança existencial. Inicialmente militante, quase propagandista, este cinema, inspirado no espírito de Exodus (1960) de Otto Preminger, celebrava as proezas e a Aliyah do novo homem forte israelense. O cinema tinha como objetivo ajudar a unir em torno do ideal do sionismo uma sociedade com uma visão do mundo muito heterogénea. Durante muito tempo, a mitologia do sionismo alimentou o imaginário de um cinema que, pouco a pouco, punha em causa a ideologia pioneira desde os seus primórdios.[1]
A questão que irá se colocar de forma diferente na viragem para os anos 1970, após a Guerra dos Seis Dias vez que com a emergência do poder dos clérigos, quando o cinema se esforça por apontar os problemas reprimidos da sociedade israelense bem mais que mostrar as guerras. Embora os filmes de guerra sejam minoritários em termos de produção, contribuíram para legitimar uma espécie de narrativa fundadora da sociedade israelense e revelaram gradualmente as suas fraquezas. Como sátira do exército israelense, uma comédia popular como Giv’at Halfon (1976), de Assi Dayan, foi considerada um filme de culto, tal como, muito mais tarde, Zero Motivation (2014), de Talya Lavie, que vendeu 580 000 bilhetes.
Nos anos 1980, em reação à guerra no Líbano, surgiu uma vaga dos primeiros filmes de ficção anti-militaristas: A deux doigts de Zidon (1986) de Elie Cohen, I Don’t Give a Damn (1987) de Shmuel Imberman, Late Summer Blues de Renen Schor (198)7, One of us (1989) de Uri Barbash. O documentário de Ilan Ziv, sobre A Guerra dos Seis Dias, realizado quarenta anos depois no âmbito de uma coprodução israelo-franco-canadense, já não apresenta verdadeiramente os deslumbrantes êxitos militares de uma época, mas analisa uma guerra que mergulhou o país num ciclo interminável de ocupação e terrorismo/represálias. Recentemente, outro documentário, Tantura (2022), de Alon Schwarz, centrado na destruição de uma aldeia árabe, desencadeou um amplo debate em Israel sobre a Nakba e os seus tabus após 1948. Tal como no cinema libanês, as guerras são apresentadas na tela de uma forma geralmente crítica.
Mas, na maior parte das vezes, a guerra é tratada como um assunto secundário e suas motivações não são abordadas. O cinema de ficção israelense se desenvolveu, sobretudo, em torno de comédias ou de dramas sociais (o estatuto da mulher e o feminismo, as crises familiares, as questões talmúdicas e o papel dos ultraortodoxos, a discriminação étnica e a homossexualidade), a partir de temas centrais a favor de uma sociedade que quer, sobretudo, esquecer os problemas da guerra quotidiana. Financiado principalmente através de coproduções com a França, o cinema israelense mostra as convulsões da sociedade israelense e dos seus vizinhos.
O cinema nas fronteiras
Mas as guerras nunca estão longe. E embora continue a ser uma minoria numa produção abundante, os filmes de guerra israelense não são menos emblemáticos. E o seu sucesso e reconhecimento estendem-se para muito além das fronteiras de Israel. Antes de evocar uma guerra nas suas fronteiras, o cinema trata de guerras internas. Tanto na ficção como no documentário, revela as facetas multifacetadas de um conflito que evoluiu consideravelmente entre 1948, a primeira guerra israelo-árabe, e as sucessivas Intifadas de 1987 a 2005, marcadas por uma série de atentados no interior de Israel, num contexto em que a imagem televisiva planetária se tornou um retransmissor essencial.
Como contraponto às imagens televisivas, o cinema participa na construção mais crítica da história recente de Israel, funcionando muitas vezes como uma contra-história. A “casa comum” torna-se uma metáfora mais ampla e por vezes menos visível da ocupação dos territórios desde 1948 até à atualidade. O filme de AmosGitai, The house (1980), por exemplo, já se preocupava com a reconstrução de uma casa israelense sobre as ruínas de uma casa palestiniana. O realizador, que se formou em arquitetura, questiona toda uma série de mitos israelenses e explica-os recorrendo aos arquivos da ocupação, que remontam à colonização britânica da Palestina em 1917-1918. O filme antecipa o que irá acontecer com o processo acelerado de colonização.
“Um certo tipo de cinema israelense mostra o que a sociedade israelense não quer ver, o que a esquerda israelense até esconde. Mostra os palestinos, a repressão, a violência que sofrem, mas também a sua própria ansiedade em relação ao futuro”.[2]
Outros documentários de Amos Gitai sobre a guerra no Líbano, como Diary of the Campaign (1982), ou sobre o assassinato do primeiro-ministro por um extremista judeu, The Last Day of Yitzhak Rabin (2015), revisitam outros aspetos diluídos da história recente. Até então, o inimigo parecia estar nas fronteiras e não no interior do país. O assassinato de Yitzhak Rabin tornou-se um novo trauma interno que apanhou a sociedade israelense de surpresa e trouxe a experiência da guerra para seu interior.
Guerras íntimas
Longe da rotina da guerra, os filmes testemunham muitas vezes à porta fechada, acentuando a intimidade dessas guerras. Um vasto público, incluindo o público não israelense, deve ser capaz de se identificar com uma história e os seus vários protagonistas. Vinte e cinco anos após o acontecimento, Amos Gitai realizou Kippur (2000), baseado na sua experiência traumática como soldado em 1973. O inimigo tornou-se fantasmagórico e o heroísmo do Tsahal quase inexistente, enquanto o humanismo de uma pequena equipe de soldados de resgate é o tema principal. O que está em jogo nesta guerra é reduzido a alguns protagonistas, sem qualquer referência direta à vingança árabe pela humilhação da Guerra dos Seis Dias, quando o Tsahal parecia não só vitorioso como invencível face a um ambiente árabe fundamentalmente hostil.
Continuando esse registo íntimo, a guerra para Dever Kosahvilli em Infiltration (2010) remete para as experiências (íntimas em 1956) da homossexualidade em casernas fechadas para contradizer a imagem viril do soldado. Longe das questões palestinas, a vida de recrutas muito jovens (num exército maioritariamente composto por conscritos e reservistas) oriundos de kibutzim ou de bairros ricos de Jerusalém é virada do avesso pela descoberta de uma alteridade diferente.
Do mesmo modo, em Yossi e Jagger (2002), de Eytan Fox, a guerra torna-se um pretexto para abordar o tema do recalcamento entre oficiais e jovens soldados. Un havre de paix (2018), de Yona Rozenkier, passado durante a segunda guerra entre Israel e o Líbano em 2006, mostra ironicamente o pano de fundo de uma guerra quase invisível, em que três irmãos têm de cumprir os últimos desejos do seu falecido pai num kibutz na fronteira com o Líbano, transportando os seus restos mortais para uma caverna subaquática[3]. Ahed’s Knee (2021), de Nadav Lapid, que ganhou o Prémio do Júri em Cannes, funciona na mesma linha de invisibilidade.
Outros filmes mais significativos do cinema israelense dos últimos anos mostram também um conflito que se desenrola fora de Israel. A guerra de 1982 no Líbano, Paz na Galileia, supostamente uma operação curta, mas seguida da ocupação israelense do país durante dezoito anos, foi tratada de diferentes ângulos no cinema. O impacto da guerra foi dominado pelo ângulo de sua experiência pós-traumática, em que os soldados israelenses, apesar de serem a força ocupante, parecem ser as principais vítimas da guerra no Líbano. Em última análise, o cinema obscurece as consequências da ocupação do Líbano, apagando frequentemente os seus protagonistas.
Em Lebanon (2009), vencedor do Leão de Ouro em Veneza, Samuel Maoz traça o avanço de um tanque num espaço de oito divisões enquanto filma a angústia de quatro soldados dentro de um tanque perdido em território inimigo. O medo torna-se o principal inimigo.
Mais tarde, num outro filme iconoclasta, Foxtrot, Leão de Prata em Veneza (2018), o mesmo realizador esboça uma guerra sob a forma de um passo de dança em anéis, como sugere o título da película que designa um gênero musical e de dança que fez sucesso após a Primeira Guerra Mundial. Aqui, a guerra absurda anda em círculos sem qualquer perspectiva. Acima de tudo, testemunha as forças inamovíveis de uma guerra sem fim, em que o passado pesa permanentemente sobre o presente. Uma família toma conhecimento da morte do seu filho, morto em combate, reabrindo feridas do passado. A partir deste círculo fechado, o filme resvala para um regresso à frente de batalha, mostrando a vida de uma unidade de recrutas no deserto, encarregada de um posto de controle isolado.
O cinema também gera polémica. Quando de sua estreia, e apesar do seu sucesso, o filme foi acusado por Miri Regev, a ministra conservadora da Cultura, de “manchar a imagem do exército”, devido a uma cena que mostrava um erro do exército israelense. Em 2015, após o lançamento de um documentário sobre o assassino preso de Ytsak Rabin, Ygal Amir, Beyond Fear, de Herz Frank, a ministra reiterou os seus comentários, apelando ao fim do financiamento de filmes “anti-israelenses” que retratam judeus assassinos.
Um filme biográfico sobre o mesmo tema e no registo da intimidade, Les Jours redoutables (2019) de Yaron Zilberman, vencedor do prêmio Ophyr para o melhor filme israelense, provocará a mesma controvérsia numa sociedade ainda traumatizada por este acontecimento. Em Beaufort (2007), de Joseph Sedar, a experiência autobiográfica da guerra cruza-se com a ficção, adaptando o romance de guerra de Ron Leshem para mostrar o estado de encurralamento dos soldados pegos numa cilada no Monte Beaufort pelo Hezbollah.
Mais uma vez, o foco é o medo dos soldados e não a loucura dos combates. Valsa com Bashir (2008), de Ari Folman, retoma este questionamento sob a forma de um filme de animação que revisita os aspectos pós-traumáticos ou indutores de culpa da guerra no Líbano, com base no massacre de Sabra e Shatila pelas milícias cristãs falangistas. Check-point (2003), de Yoav Shamir, filma o impacto social da segregação e dos refugiados, desta vez nas fronteiras de Gaza e da Cisjordânia.
Na mesma linha, Bethleem (2013), de Yuval Adler, é um thriller sobre as idas e vindas entre os mundos palestino e israelense, centrado num agente israelense encarregado de recrutar informadores nos territórios ocupados. O filme mostra a natureza porosa das fronteiras, mas também da convivência. No seu documentário de arquivo, Ran Tal 1341 Frames of Love and War (2023) explorou o arquivo de fotografias de guerra de Micha Bar-Am para testemunhar a memória desta violência partilhada e os limites da convivência.
O recente filme de Dani Rosenberg, The Deserter (2024), mostra o cansaço da sociedade face a uma guerra sem fim, em que um jovem soldado israelense foge do campo de batalha de Gaza para desertar e encontrar a namorada em Telavive, quando se pensa que foi raptado e mantido prisioneiro pelo Hamas. Esse filme premonitório e, com um tema politicamente incorreto, levou mais de 10 anos para ser produzido em Israel.
A lei das séries
Há mais de dez anos que as séries de guerra israelenses têm um sucesso inegável, exportadas para uma grande parte do mundo e, em particular, para o Médio Oriente, onde, ao contrário dos filmes de autor exibidos nas salas de cinema, atraem milhões de espectadores através de plataformas como a Netflix. Produzidas ao estilo cinematográfico de um docu-drama, tentam prender a atenção de um público diversificado, muitas vezes alheio às questões diretas em jogo nos conflitos israelo-árabes.
A série Hatufim (2014), de Gideon Rafi, pioneira no género e aclamada internacionalmente, inspirou a série americana Homeland. Baseada numa história verídica, a série relata de forma brilhante o cativeiro de dois soldados israelenses mantidos prisioneiros durante dezessete anos na Síria. Dominado pela síndrome de Estocolmo, um dos prisioneiros torna-se líder da organização terrorista árabe que o torturou e converte-se ao Islão. Em Israel, uma grande parte da sociedade mobiliza-se para libertar os seus soldados.
Ao estilo de um filme policial de cortar a respiração, a série mostra todas as etapas desde a detenção dos reféns na Síria até à sua libertação e regresso a Israel, com o trauma da reintegração, ao mesmo tempo que aborda em profundidade todas as questões relacionadas com a evolução da situação de segurança em Israel e as rivalidades entre os serviços de contraespionagem.
Fauda (2015), de Avi Issacharov e Lior Raz, ambos veteranos, relata o quotidiano das forças especiais israelenses, cuja missão é realizar operações de emboscada atrás das linhas inimigas e nos territórios. Não só o seu conteúdo, mas também a sua dimensão e o fato de ter sido transmitida para todo o mundo através da Netflix, levaram a boicotes e à rejeição por parte de organizações pró-palestinas, que o consideraram demasiado favorável à colonização israelense na Cisjordânia.
O Vale das Lágrimas (2020), de Amit Cohen e Gaël Zaid, a série mais cara produzida pela televisão israelense, também transmitida na Netflix e comprada pelo canal americano HBO, retoma um relato ficcional da Guerra do Yom Kippur, revivendo todos os traumas dos anos 70 vividos na fronteira síria dos Montes Golã. De fato, muitas das questões essenciais já abordadas no passado pelo cinema são revisitadas na série. Mas, na série, o objetivo é identificar-se com alguns heróis-chave cujos destinos seguimos, criando efeitos de mimetismo. Nesta lei da série, a escrita da guerra parece ser muito menos metafórica do que a praticada pelo cinema.
Cinema israelo-palestino?
Marcada pela repetição, como todo o cinema deste gênero, filmada tanto por cineastas israelenses engajados como por documentaristas palestinos, a guerra, tanto interna como nas fronteiras, pôs em evidência alguns dos principais traços desse conflito: controles nos postos de fronteira, lançamento de pedras contra o exército de ocupação nos territórios, expulsões forçadas face à colonização israelense…
A este respeito, à semelhança de outros documentaristas engajados, o trabalho do realizador Avi Mograbi, ativo militante anti-guerra, se não pró-palestino, destaca-se há quase quarenta anos. Por exemplo, fez um retrato polêmico do antigo primeiro-ministro Ariel Sharon. Em Happy Birthday Mr Mograbi (1999), utilizando um dispositivo fílmico complexo, o cineasta revisita o quinquagésimo aniversário do nascimento de Israel numa reflexão conjunta sobre a Nakba palestina e a guerra de 1948, recorrendo a memórias pessoais para desconstruir o discurso oficial.
Em Z 32 (2008), prosseguiu o seu trabalho de décadas sobre as consequências da militarização da sociedade israelense, com base em arquivos e testemunhos de soldados do Tsahal. Em Les 54 premières années (2021), retoma estas questões, recorrendo a entrevistas com soldados para compreender a lógica da ocupação militar nos territórios ocupados. Um outro documentário, Femmes au combat (2023), do realizador Lee Nechustan, aborda a síndrome de stress pós-traumático de quatro mulheres traumatizadas que serviram nas Forças de Defesa Israelenses. A guerra está relativamente fora do tela. Mas o cinema continua a ser um domínio em que israelenses e palestinos colaboram com bastante regularidade.[4] Israel ajudou a financiar produções de cineastas palestinos (Michel Khleifi, Rashid Masharawi, Elia Suleiman, etc.).
O cinema palestino é frequentemente exibido em Israel, embora se trate mais de documentário realizado em condições sempre precárias. Five Broken Cameras (2011) de Emad Burnat e Guy David, documentário franco-israelo-palestino galardoado com vários prémios, traça a história comum da violência.
No campo da ficção, Fanfare Visit (2007) de Eran Kolirin, um grande sucesso popular e cómico na época, retrata uma banda de metais israelense perdida no Egito; o filme conta com atores israelenses e palestinos, alternando entre o árabe e o hebraico, com uma clara vontade, após os Acordos de Oslo (1993), de reinvestir o árabe como cultura ancestral comum face a uma jovem cultura israelense. O seu último filme, Et il y eut un matin (2022), centra-se nas provações e tribulações de um árabe israelense e sublinha o absurdo da guerra.
Mas também aqui, apesar das divisões, a questão da convivência regressa ao primeiro plano do cena, reavivando o sucesso das comédias satíricas sobre o exército. Ajami (2009), realizado pelo palestino Scandar Copti e pelo israelense Yaron Shani, rodado em Jaffa, perto de Telavive, mostra as múltiplas facetas do conflito. Mas o filme descreve uma realidade complexa e heterogénea de um mundo árabe dividido entre muçulmanos e cristãos, entre árabes israelenses e árabes dos territórios, entre árabes cidadãos e árabes proibidos, muito longe dos esquemas simplistas de mocinhos e bandidos. Há muito ausentes deste cinema, os beduínos árabes, que também servem no exército israelense, estão a reaparecer.[5]
Mas o cinema também pode celebrar o desejo de união, como em Jaffa (2009), de Keren Yedaya, uma história de amor secreta entre uma mulher israelense e um homem palestino. Tal como Cinema Sabaya (2021), de Om Fouks Rotem, que se centra em retratos de mulheres judias e árabes e da sua vida quotidiana. Por sua vez, vários outros filmes desenvolveram estas linhas de investigação no centro dos conflitos atuais, centrando-se na dissolução (ou miscigenação) da identidade judaica, como Feriez-vous l’amour avec un arabe? (2012), filmado em Israel entre israelenses e palestinos pela documentarista francesa Yolande Zauberman com Selim Nassib.
Guerras mediáticas em jogo
A guerra cinematográfica, embora muitas vezes antecipando as imagens mostradas pelos media, parece agora ter sido ultrapassada pelo horror de outras imagens que foram multiplicadas por dez. Pensa-se aqui naquelas que foram utilizadas como propaganda nas redes sociais a partir do momento do ataque terrorista do Hamas, a 7 de outubro, e que foram difundidas por todo o mundo. Também neste caso, o imediatismo das imagens ultrapassa qualquer ficção.
O uso de imagens em terras islâmicas, que proíbe aquela do Profeta, deve, por outro lado, ampliar as utilizadas do shahid que se tornou um mártir adulado sem medo da morte. A 7 de outubro, os grupos do Hamas aproveitaram também para filmar as suas atrocidades com os seus celulares, posando em frente de assassinatos ao vivo, de reféns mortos e aterrorizados, em torno da política das terra arrasada e das aldeias devastadas, onde a maioria das vítimas era favorável ao movimento Paz Agora.
Inspirado nos métodos do Daesh, o Hamas, ao fazer reféns civis para os matar e filmá-los em direto nas suas redes sociais, prolonga à sua maneira, os efeitos do 11 de setembro, com a transmissão quase hollywoodesca da queda das torres de Manhattan. Com a circulação global de imagens, para as organizações islamitas, a guerra tornou-se um espetáculo que tem de ser gerido e bem mostrado em todos os tipos de televisão. Tanto a montante como a jusante. A realidade das imagens nuas e cruas encenadas na televisão, em torno de séries de propaganda filmadas pelo Hamas e pela Jihad Islâmica em Gaza ou pelo Hezbollah em Beirute, mostrando desfiles impressionantes de milícias militares ladeadas por crianças armadas até aos dentes, tendo como pano de fundo slogans anti-sionistas e um ódio cego.
Estas imagens destinam-se a reforçar e a transmitir as manifestações de alegria filmadas em repetição por todo o Médio Oriente em reação aos acontecimentos de 7 de outubro. Juntamente com a resposta militar israelense, as imagens são uma oportunidade para o Hamas recordar a expulsão e a identidade ferida dos palestinos depois de 1948, mas também para reativar referências históricas para as populações empobrecidas que fogem de Gaza, sem uma verdadeira saída, confrontadas com os bombardeamentos incessantes da força aérea israelense.
Denominada Al Aqsa, em referência à mesquita de Jerusalém, a operação do Hamas de 7 de outubro tornou-se uma espécie de referência ideológica para remobilizar uma população palestiniana desgastada por décadas de conflito, a fim de inflamar a região com políticas suicidas. Às imagens em loop das destruições de ambos os lados, às controvérsias sobre os erros, seguem-se numerosos vídeos gravados aqui e ali por diferentes grupos islamitas para celebrar os seus atos: vídeos de reféns feridos a pedir a sua libertação, decapitações.
Mas há também vídeos de desinformação, como o do míssil disparado a 17 de outubro, que caiu sobre um hospital de Gaza e foi atribuído a Israel, apesar de os relatórios de peritos posteriores mostrarem que o Hamas foi diretamente responsável.[6] Desde então, houve outras controvérsias sobre os esconderijos de armas do Hamas em hospitais e a destruição causada pelos bombardeamentos israelenses. Em 7 de outubro, a operação do Hamas procurou anular as negociações de paz em curso entre a Arábia Saudita e Israel, enquanto o caso dos mísseis e as suas repercussões mediáticas em todo o Médio Oriente procuraram cancelar a visita do Presidente Biden a Amã.
Estas imagens seguem-se às do terrorismo com facas do homem pobre, isolado nos subúrbios da Europa, mas treinado em jogos de vídeo de guerra e capaz de usar uma câmara amadora para mostrar em direto o assassínio de pessoas inocentes. Fazendo eco das várias guerras mediáticas no Médio Oriente, transmitidas profissionalmente pela maioria das estações de televisão do mundo árabe, estes vídeos amadores publicados nas redes sociais transmitem e glorificam o assassínio em direto. Ao modelo amador do terrorismo dos pobres contrapõe-se o de um sistema profissional e bem organizado de meios de comunicação social dos países ricos do Golfo, alguns dos quais alimentam este terrorismo e repetem em loops na El Jazeera e outros, imagens de horror para maximizar o seu impacto.
Longe do cinema de ficção israelense, que é construído e roteirizado, e que tende a ser equilibrado e crítico em relação à guerra, assistimos aos novos temas dominantes da violência mediática e da guerra globalizada, mostrados repetidamente e sem restrições. Nestas guerras mediáticas, que também se baseiam na desinformação, Israel não parece ter ganho esta última batalha de imagens. Na mídia israelense, ao contrário do que acontece no cinema, os palestinos tendem a ser invisíveis. Mas, no geral, a mídia mostra ao público o que ele precisa ver, especialmente porque é impossível visitar zonas de guerra.
Impacto das imagens
O que é que o cinema pode realmente fazer face às guerras que continuam a ser consideradas injustas em todo o mundo? Embora essenciais para compreender muitas das questões em jogo no Médio Oriente, essas imagens mostram apenas alguns aspectos destas guerras. E nem sempre os aspectos essenciais ou invisíveis (a corrupção, a legitimidade depreciada das organizações palestinianas, a ausência quase total de liberdade de expressão nos territórios e o quotidiano de milhões de palestinos sujeitos ao fundamentalismo religioso e ao terrorismo totalitário, onde a paz é sempre acusada de favorecer Israel…).
Ao contrário de grande parte dos meios de comunicação social, o cinema israelense evita, na maior parte das vezes, as formas bastante convencionais de retratar a guerra. Numa realidade sombria e sem outra perspectiva real que não seja o horizonte dessas guerras, este cinema continua a ser um lugar de troca possível como contra-espelho de um Médio Oriente ferido.[7]
*Kristian Feigelson é professor de cinema na Sorbonne-Nouvelle. Autor, entre outros livros, de La fabrique filmique: Métiers et professions (Armand Colin). [https://amzn.to/3UBZlr2]
Notas
[1] Yaron Peleg e Miri Talon, Israeli Cinema: Identities in Motion, Austin, University of Texas Press, 2011. [https://amzn.to/3wbwVuF]. Ver também o nosso trabalho coletivo com Boaz Hagin, Sandra Meiri, Raz, Yosef e Anat Zanger, Just Images: Ethics and the Cinematic, Cambridge, Cambridge Publishers, 2011.
[2] Janine Euvrard, “Palestinos, israelenses: que pode o cinema?”, Mouvements, 27-28, 2003/3.
[3] Em 2018, fui presidente do júri do Festival Internacional de Cinema de Duhok, no Iraque, a 40 quilómetros de Mossul, então destruída pelo Daesh. Atribuímos o primeiro prémio ex-aequo a um filme israelense e a um filme iraniano em competição, ambos símbolos da vitalidade de um certo cinema atual. A atribuição do prémio pelo nosso júri desencadeou toda uma guerra de represálias mediáticas nos países árabes, obrigando-nos, perante as ameaças de proibição de Bagdade, a reduzir a lista dos vencedores para preservar o festival.
[4] Nurith Gertz e Georges Khlefi, Palestinian Cinema: Landscape, Trauma and Memory, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2008. [https://amzn.to/3WbL45I]
[5] Ariel Schweitzer, O novo cinema israelense, Liège, Yellow Now, 2013. [https://amzn.to/4biaiDT]
[6] Ver o inquérito do New York Times. Consultei também Jérôme Bourdon “Les médias israéliens invisibilisent les Palestiniens” em Le Monde, 8 de abril de 2004.
[7] Agradeço a Achinoam Berger, doutoranda em cinema, a revisão cuidadosa deste artigo, publicado em francês na revista Télos de 9 de novembro e que surge na sequência de vários seminários recentes realizados nas universidades de Beirute e Telavive.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA