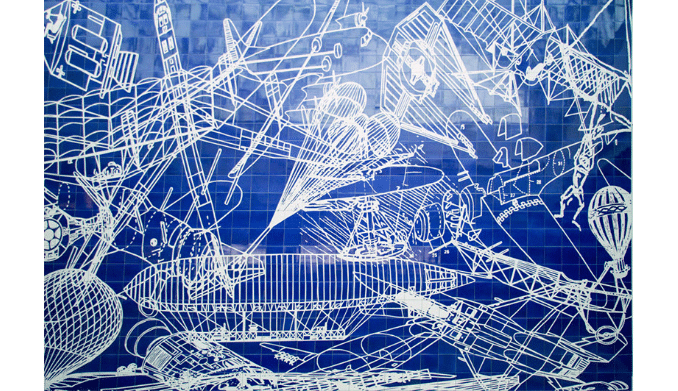Por VITOR MORAIS GRAZIANI*
Comentário sobre a apresentação de dez anos do álbum “Encarnado”
Foi em uma sexta-feira que Juçara Marçal consagrou os dez anos de um dos álbuns mais significativos da finada – e agitada – década de 2010 paulistana. Falo de seu Encarnado, lançado em 2014, e cuja efeméride de primeira dezena foi comemorada com apresentação no dia primeiro de março, no Sesc Vila Mariana. Trajando vermelho cor-de-sangue, Juçara Marçal esteve acompanhada de Kiko Dinucci, Rodrigo Campos e Thomas Rohrer, em espetáculo (a palavra exata é esta) que merece destaque na sempre viva, mas meio dormente, cena cultural da Paulicéia.
Afinal, o quarteto que subiu ao palco, após hiato de consideráveis anos, não era mais o mesmo; provável que justamente por conta deste intervalo. Mas não apenas, dado que o país do 2014 de Encarnado, quer seja, já passou. Qual o sentido, então, em retornar ao álbum? No limite, o que ele pode dizer ainda hoje para além da efeméride, ela por ela mero marco temporal abstrato que justifica estas retomadas de tempo em tempo? Procurarei oferecer mais interrogações ao longo deste comentário, dado que respostas definitivamente minha tenda oracular não tem condições de fornecer.
Porém, vejamos. Juçara Marçal, carioca de nascença, uspiana de passagem e brasileira por vocação, vem se consagrando como a voz de uma época. Não necessariamente uma voz massificada, mas uma voz que traça um diagnóstico preciso do presente, e aponta caminhos para o futuro; de modo que quem souber escutar pode tirar coisas preciosas de seu trabalho. Penso que o tino de alguém que inicia sua madureza cultural cantando música de tradição, em grupos como “A Barca”, sob forte inspiração de Mário de Andrade, e estudando Pedro Nava (“em que antárticas espumas / navega o navegador?”) e hoje aguarda o lançamento de um álbum de remix de seu último trabalho de fôlego, o fortemente eletrônico Delta Estácio Blues (2021), que tem no time de remixadores tudo aquilo que a ideia clássica de USP repeliria de imediato, taxando de integrados, merece mesmo atenção.
Já há de fato algum tempo que a Encruza, grupo que junta (ou juntou) as bandas Metá Metá e Passo Torto, deveria merecer centralidade daqueles que pensam a matéria brasileira pelo prisma da cultura (estes píncaros agônicos, este vale de defuntos). A primeira, formada por Juçara, Kiko Dinucci e Thiago França; e a segunda, de Kiko, Marcelo Cabral, Rodrigo Campos e Rômulo Fróes, creio que deva se somar apenas a messiânica voz dissonante de Douglas Germano (que estudei noutra oportunidade). São eles – que, de maneira bem diferente ao grupo do Fora do Eixo, que teria no já enterrado Studio SP seu farol SP – quem vêm construindo um rumo para os cacos (!) da Música Popular Brasileira (este engole tudo, esta aberração, este partido político).
E foi justamente no Encarnado de Juçara Marçal que um programa de ação foi aglutinado, foi fermentado, para depois ser superado pelos seus resultados programáticos; como se estivesse sendo dado o inadiável salto superador da instituição MPB, ainda que de maneira muito respeitosa com seu passado de glória, o que não significaria, contudo, jogar seu jogo.
De novo, retorno à pergunta: o que Encarnado tem a dizer sobre o hoje? A princípio, nada. Mas se todo obsoleto devesse ser abandonado não teria existido A mulher do fim do mundo (Elza Soares, 2015). Está justamente na capacidade do obsoleto tornar-se atual o grande lance da coisa toda. Como bem notou Walter Garcia, em pioneiro e raro artigo sobre o objeto deste texto, Encarnado é obra das Jornadas de Junho de 2013. Seus ensaios, sua preparação para entrada em estúdio, que iam ocorrendo concomitantemente ao mês-acontecimento; e a posterior gravação, captam o oxigênio mental de uma cena maior. Talvez, então, a pergunta seja: o que esta cena tem a dizer sobre hoje? Como disse, a resposta são mais e mais interrogações. “Confundindo para esclarecer”, o mistério é que os dez anos de “Encarnado” lotaram o segundo maior teatro do Sesc São Paulo e arrancaram aplausos de emocionar, num lado, e, noutro, fazer rememorar como teria sido a apresentação de lançamento naquele mesmo palco, em abril de 2014.
A euforia petista anunciando a Copa que um Junho dizia não dever haver; a efervescência cultural que corria paralela entre os meios intelectualizados enquanto o megazord do Grande Goiás ia se formando na “nova classe média” – quem se lembrará daqueles debates? Tantas ideias, tantos sonhos, não? Pois é, talvez more aí mesmo o grande sisma de Encarnado.
Juçara Marçal vinha do Padê, de 2008, dividido com Kiko, que lançava naquele mesmo ano, junto do Bando Afromacarrônico, Pastiche Nagô, fruto de suas experiências sonoras da noite no Ó do Borogodó. Padê, talvez mais contemporâneo a nós sob certo olhar que Encarnado, pela força da ancestralidade que prenunciava sem saber as tribos identitárias, sonhava mais, e inclusive musicalmente parecia ser mais tributário à periferia da MPB, mas ainda aparentava falar de dentro dela. É certo que os dois primeiros álbuns do Metá Metá (homônimo, 2011; MetaL MetaL, 2012), já anunciavam sim algo; mas era antes mais o caldeirão de Junho que fervilhava que os destroços que nos aguardavam antes da queda.
O “nunca amanheço o mesmo” que encerra as Vias de fato (Kiko, Douglas Germano e Eduardo Luiz Ferreira, do álbum Metá Metá, 2011); o “em busca da beleza” de “Tristeza não” (de Alice Ruiz e Itamar Assumpção, do álbum MetaL MetaL, 2012), prenunciavam sim que uma ruptura irresistível de época vinha aí. E veio. Não era contudo tão deslumbrante e encantada assim, o que Encarnado, a quente, conseguiu captar.
Se seu ponto alto é a falência dalgo, como atesta Walter Garcia em seu artigo supracitado, o que, ademais, podemos identificar, no limite, como uma ideia de Brasil Moderno, afirmacionista e encantador, sua implicação é que, então, era preciso realizar uma virada de mesa, capaz de “fazer cócegas na tradição”, que viria com o Delta Estácio Blues do pandêmico e bolsonarista 2021. Neste sentido, chama mais atenção ainda a retomada de Encarnado dez anos depois, dado que, afinal, trata-se de álbum sobre a morte (o que Walter também já notou). Remorrer o morto? Logo agora, que o lulismo voltou tal qual D. Sebastião navegando pelo Lago Paranoá para nos salvar dos bárbaros incivilizados (a imagem é de Paulo Arantes)?
Confesso que justamente por isso a apresentação me ensimesmou, e fiquei ao limite aguardando como Juçara Marçal interpretaria a canção ápice da morte do Brasil Moderno, a “Ciranda do Aborto”, de Kiko Dinucci. Como o próprio título diz, um aborto; algo irreversível, com algo ainda inexistente. “País do futuro”, “condenado ao moderno”, que “ainda precisa merecer a Bossa Nova”. Ferida nunca estancada. Nada disso deu efetiva emancipação popular, muito menos aniquilação das latentes desigualdades brasílicas. Tudo isso, inclusive, só piora o tamanho do luto, que pode desaguar mesmo em melancolia (Rômulo Fróes que o diga), pois a impressão que fica é que se torna inútil sonhar (n)este país.
Encarnado demarcou isso, e os dez anos que o separam de 2024 apenas comprovaram seu diagnóstico. Um bom exemplo disso são os rumos que esse e A mulher do fim do mundo, de 2015, hoje com nove anos de idade, tomaram. A voz que iria “cantar até o fim”, na canção homônima de Alice Coutinho e Rômulo Fróes, morreu, não sem antes surfar na institucionalização da agenda identitária. De fato cantou até o fim, mas o fim chegou; o que apenas demonstra a dimensão utópica, perfeitamente identificada com as ambições e ambivalências do moderno século XX brasileiro que a proposta estética a que a canção de Alice e Rômulo alude.
Creio que o mesmo não possa ser dito quando pensamos em “Ciranda do aborto”. Não há tentativa de reversão do aborto, de santificação do feto natimorto. É antes o contrário. Reconhece-se a irreversibilidade dalgo, impondo a pergunta que foi título do filme em que Vladimir Safatle atua ironizando as adversidades de sua persona: #eagoraoque (Jean-Claude Bernardet e Rubens Rewald, 2020). Assim, Encarnado cria uma agenda: que fazer com a herança cultural brasileira que morreu sem ter nascido?
Não foi à toa que Juçara Marçal, também estreando como atriz no meio destes dez anos, primeiro na Joana de “Gota d’água {preta}” (Jé Oliveira, 2019), e depois como a Mãe da ópera Café (libreto de Mário de Andrade, direção de Sérgio de Carvalho, 2022), cantou teatralizando a “Ciranda do aborto”, embutindo no canto algo mais gestual que lírico. Terminou a canção aos berros. Era o clímax. Gozo de transa raivosa, acariciado logo em seguida pela “Canção para ninar Oxum” (Douglas Germano). Não tenha ódio por ter morrido antes do Verão. Brazil’s alive and vivo, que fazer? Foi nesta toada que Juçara Marçal emendou versão do “Comprimido”, de Paulinho da Viola. Diagnóstico do presente, com algum distanciamento, tal qual na canção, acompanhado de iluminação mínima, dando destaque às sombras daqueles no palco que apareciam pelas paredes. Da plateia, íamos roendo as unhas com flor nenhuma para cheirar. Sem lírios, sem cravos e nem mesmo rosas emudecidas a despontar no horizonte.
Caminho ambíguo, encruzilhada para valer. Numa ponta, retomar Encarnado hoje, se mostra o acerto de seu diagnóstico, em outra ponta realmente dá um alívio masoquista com aquilo tudo. A hora da morte parece ser mesmo melhor que a putrefação. Como estamos já nesse segundo momento, o primeiro aparenta mais bonito, até porque a década de 2010 que o cavaquinho de Rodrigo Campos ia anunciando em seu samba “Velho amarelo” tinha lá mesmo suas doses de Paixão e Fé (“Quero morrer num dia breve / Quero morrer num dia azul / Quero morrer na América do Sul”).
Parece que era até bom mesmo, de um lado, apostar nos poderes redentores do Brasil, e, noutro, dizer que eles trocaram de lado. O que talvez não fosse tão nítido era que o que vinha pela frente era mais sangue. Aqui e agora, na putrefação do Brasil Moderno, vendo algo ir para o bueiro sem volta, o sentimento torna-se mesmo meio ambivalente. Mas é bom lembrar que Juçara e companhia não se contentaram com o acerto do diagnóstico.
Considero mesmo uma postura heroica, de não entregar o jogo quando o jogo já até acabou (e nós fomos derrotados, inteligências artificias que o digam), o que Juçara Marçal fez de Encarnado adiante, com destaque a Delta Estácio Blues. Ali, nas letras, há a rememoração, a junção dos cacos do Brasil Moderno, muitos deles desde há muito escanteados, como aqueles fixados nos bambas do Estácio (“Bide, Baiaco, Ismael”). Noutra ponta, a sonoridade eletrônica, feita pela máquina, pelo digital, pelo artificial, pelo chucro. Como se sabe, o som sempre pesa mais que a letra; afinal, há gente mesmo que não crê que toda a obra de Roger Waters esteja à esquerda, capaz gritar por Bolsonaro presidente do Brasil em seus shows de 2018.
Assim, Delta Estácio Blues é tributário do paradigma do contemporâneo lançado por Encarnado. Ele vai para o jogo, tentando disputar espaço com os reels de Instagram, com os tiktoks intermináveis, e com as mil e uma discussões estúpidas do X que sugam tempo dos progressistas reféns do progresso (ah, “pogréssio”…). Há quem possa ver, com alguma dose de lucidez já em extinção e com a qual tendo a concordar, que a proposta passa do ponto, colocando-se integrada demais a algo que já nem tem mais noção de passado.
Mas então, que fazer? Cruzar os braços, subir a torre de marfim e assistir o salve final de metralhadoras a anunciar que acabou mesmo, com todas as implicações que isso traz, inclusive a nós, humanos, de passagem pela vida, pelo planeta? Interrogação que, confesso, não gostaria de dar. Mas que me resta dar justamente por não ter as respostas. Se alguém as tiver, como dizem os sobreviventes do lado vencedor ao final de uma guerra: “estamos salvos!”. Ou não.
*Vitor Morais Graziani é graduando em história na Universidade de São Paulo (USP).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA