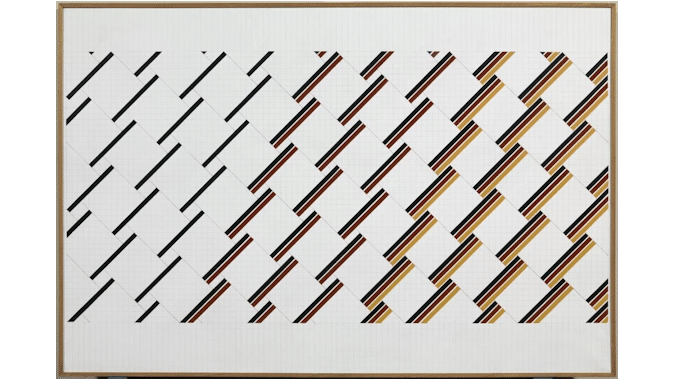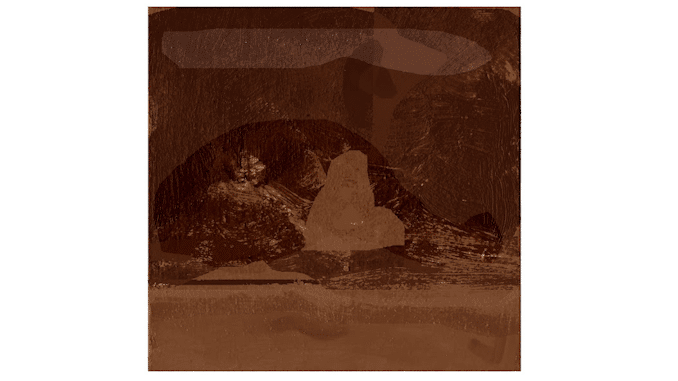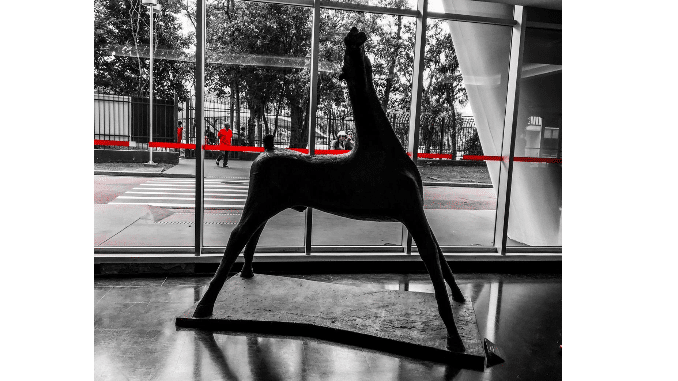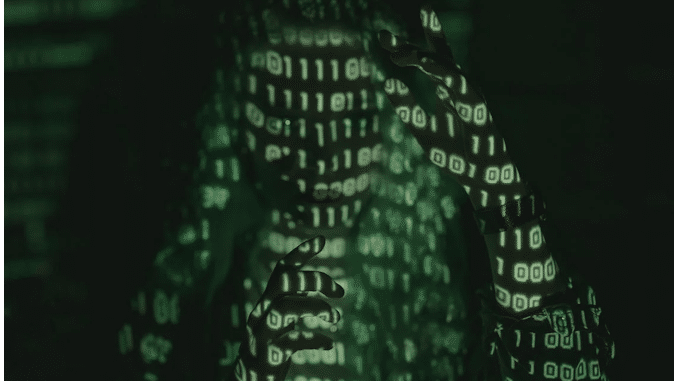Por FELIPE CATALANI*
Notas sobre o processo social brasileiro na crise[1]
“Reter é hoje privilégio de um pequeno grupo dos poderosos, que sabe Deus não são mais humanos que os outros; na maioria bárbaros, mas não no bom sentido” (Walter Benjamin, Experiência e pobreza).
“Sou um agente da civilização contra a barbárie.” Poderia ser Quincas Borba, mas é Fernando Haddad, ainda enquanto prefeito de São Paulo, em 2015. Talvez haja quem diga que, no limite, “guerra cultural” é isso: cultura contra não-cultura. Quem sabe poderíamos nomear esse conflito, tal qual imaginado pelos que se consideram do lado da cultura, de a civilização contra seus descontentes, para homenagear a terrível tradução americana do título de um clássico de Freud: Civilization and its Discontents. Contra a intuição fundamental de Freud, a civilização seria algo autossuficiente, ou quase, pois ela teria sempre que lidar com alguns inadaptados incivis.[2]
Para além da autocomplacência, o modo como esse par de conceitos – civilização e barbárie – vem sendo mobilizado no discurso e no imaginário político contemporâneo mereceria atenção, sobretudo após nosso último capítulo da dialética brasileira do esclarecimento (também conhecida como “dialética da ordem e da desordem”, nos termos de Antonio Candido), que não é outra coisa senão o colapso brasileiro da modernização. Se Haddad concebia-se em 2015 como “um agente da civilização contra a barbárie”, certamente não lhe faltaram motivos para incarnar essa nobre posição em 2018. Durante a campanha do primeiro turno, alguém havia feito até mesmo uma espécie de gráfico que representava, no canto da extrema direita, a “barbárie” (Bolsonaro), e, ao lado, a “civilização” representada em um degradê que ia da esquerda para a direita, onde estavam distribuídos no espectro político todos os outros candidatos, de Alckmin a Boulos, passando por Amoedo, Meirelles, Marina, Ciro e Haddad.
Não pretendo fazer um julgamento daquela imagem que, como outras dezenas de milhares, foi produzida para disputar corações e mentes de eleitores no campo virtual, no sentido de dizer que a linha que divide “civilização” e “barbárie” deveria ser deslocada para incluir os outros nomes, o que seria uma bobagem. Interessa observar que a civilização representa aqui um limite, à esquerda e à direita do sistema político, e a barbárie seria um excesso beyond the line inaceitável. Em que sentido, portanto, Haddad poderia ser considerado um “agente da civilização”? Se tomarmos essa acepção corrente, em que civilização é uma contenção e a barbárie é o descontrole e o desrecalque de algo como uma “tendência natural à violência”, a denominação até pode funcionar – embora a barbárie real não caiba nesse pequeno esquema.
Para tentar entender como esse par de ideias pode estar em operação, pensemos por exemplo nas leis de trânsito. É considerada uma das maiores vitórias da esquerda da capital paulista a criação de ciclovias e a diminuição dos limites de velocidade em marginais e grandes avenidas. Ironias à parte e permitindo o exagero, talvez a ideia de “leis de trânsito” configure a alma da esquerda hoje. Quem sabe esse exagero não seja tão descabido, se adicionarmos às “leis de trânsito” a ambulância e os socorristas que vão ao atendimento das vítimas das fatalidades-acidentes. Nada que seja também tão espantoso se considerarmos que o destino da esquerda, após o desaparecimento do horizonte de transformação da sociedade, tenha se reduzido à famigerada “gestão do social”. Menos espantoso ainda se constatarmos que na gênese histórica do social em meados do século XIX (após o trauma de 1848, certamente) está também uma questão de segurança, a saber, os acidentes de trabalho nos moinhos satânicos da sociedade industrial moderna. E cabe lembrar que, já em sua origem, “a seguridade [assurance] não é a antecâmara do socialismo, mas seu antídoto”. (DONZELOT, 1994, p. 137)
Se hoje é essa segurança que estamos chamando de “civilização”, podemos dizer que, no nosso presente prolongado em que o futuro catastrófico deve ser evitado pela gestão dos riscos, estamos diante de algo como um progressismo sem progresso, análogo à experiência lulo-petista do reformismo sem reforma. Por isso, a comparação com o reformismo do século XIX, mesmo que seja como crítica em nome do desejo revolucionário, é inadequada, pois “reforma” aqui não significa outra coisa senão adiar o momento em que a casa vai cair.
A “força civilizatória” da esquerda é análoga portanto à de um freio – certamente não o “freio de emergência” de Walter Benjamin, que significava a interrupção da máquina do mundo e que permitiria a seus passageiros dela descerem e tomarem o rumo que bem entendessem – o freio a que nos referimos aqui é pura contenção, um mecanismo portanto inerente ao funcionamento normal das coisas, mas que aqui tem a função única de retardar e evitar um grande acidente. Portanto, o “freio” não é um elemento isolável: ele é inseparável do acelerador. Ou seja, não se trata somente de Segurança, mas também de Desenvolvimento – sendo que um é a verdade do outro.
Quer dizer, chegamos aqui ao que a Escola Superior de Guerra chamou de “Objetivos Nacionais Permanentes” (justamente, Segurança e Desenvolvimento). Como sintetizou Robert McNamara em seu A essência da segurança (1968), evocado por um expert da ESG explicando a Doutrina de Segurança Nacional: “Segurança é Desenvolvimento e sem Desenvolvimento não pode haver Segurança”.[3] Portanto, ordem é progresso. Não é por acaso que o mesmo expert afirmará que, “[..] antes do eminente estudioso, o Brasil pode orgulhar-se de haver inserido, em sua Bandeira Nacional, algo semelhante”. (Idem) A segurança é a chave para entender o “progresso” como essa linha temporal onde as coisas avançam (que seja para o abismo) e nada muda.
Insistamos mais um pouco nas leis de trânsito. Quando Doria venceu Haddad nas eleições municipais de 2016, muita coisa já tinha acontecido e vinha acontecendo, tanto na cidade como no país. E também já apareciam de forma agressiva, por parte da esquerda, especulações ressentidas sobre o “pobre de direita”, o “pobre coxinha”, o “pobre empreendedor” (que não é o “trabalhador” em sentido clássico, mas é aquele que, impossibilitado de vender sua força de trabalho, se vira de alguma forma para se integrar socialmente).[4] Seria o resultado daquelas eleições o retorno ao ponto de equilíbrio da hegemonia tucana paulista, no Estado que é a “locomotiva do Brasil” e que é tradicionalmente comandado pela burguesia industrial e pelo agrobusiness?
Mais ou menos. Afinal, como hoje é claro, Doria representa menos uma direita tradicional e conservadora, mas já é uma nova direita aceleracionista interessada na terra arrasada. Os espetáculos de violência gratuita promovidos pelo ex-prefeito, como acordar mendigos com jatos de água fria e bombardear a cracolândia, já davam sinais disso. Ora, o mote da campanha de Doria era justamente “Acelera São Paulo!”, em que era transformada em metáfora geral sua promessa de aumentar os limites de velocidade das vias de circulação – não para “resolver” o trânsito, nisso ninguém acredita e nem precisa ser engenheiro de tráfego para saber que se trata de algo “cronicamente inviável” (tal como a sociedade retratada no filme de Sérgio Bianchi), mas somente para que algo de essencial seja desrecalcado, nem que seja o direito de lançar o próprio carro para dentro do Rio Tietê ou o de passar por cima do “atraso de vida” que é qualquer ente que esteja no caminho.
Afinal, qual zona de contenção na cidade é mais extensa que suas próprias vias de circulação, em seus fluxos, retenções e filas, em que espera é sinônimo de aflição?[5] Mas é certo que sempre haverá um esclarecido paz e amor (um ciclista militante, talvez) a dizer que essas almas irritadas são terríveis e ignorantes egoístas de classe média (sic) ou infelizes ressentidos que não descobriram o prazer de pedalar 20 km após uma jornada de viração ou após a espera na fila de desempregados no mutirão do emprego do Vale do Anhangabaú.
Pois bem, e não é que o desrecalque apocalíptico-aceleracionista de Bolsonaro também flertou com o impulso libertário-suicida dos motoristas? Ainda deve estar fresco na memória que em junho deste ano [2020] o capitão foi pessoalmente à Câmara dos Deputados levar um projeto de lei que envolvia a suspensão da obrigatoriedade do uso da cadeirinha para crianças, o fim do teste toxicológico para caminhoneiros e o aumento de 20 para 40 pontos o limite para a suspensão da CNH (“por mim, eu aumentava para 60”, afirmou Bolsonaro).[6] Até aqui, nada que fira as convicções do nosso “agente da civilização”. De um lado, experiência da desmesura, disrupções pulsionais, desrecalque e irracionalidade em estado puro; do outro, um “Princípio de Responsabilidade” que se expressa como racionalidade da gestão do risco.
Claro que não há como negar a razoabilidade de tentar reduzir os danos de um sistema, o rodoviário, que em um ano é capaz de matar mais de 1 milhão e 300 mil pessoas no mundo. Adicione-se a isso que nas regiões do mundo que se encontram em um estágio avançado de colapso (como Oriente Médio e parte significativa da África), o carro, a maior herança do capitalismo fordista, torna-se muito mais fatal.
Tomando um último exemplo do mundo da circulação e do tráfego e pensando aquilo que fora germinado no asfalto quente do país: quando Haddad defendeu militarmente, junto com Alckmin, o aumento da tarifa de ônibus, estava ele enfrentando uma “horda de bárbaros” enquanto agente da civilização? Se o critério for mantido, será forçoso dizer que sim – o que, no entanto, fará com que os conceitos mudem de sinal e que os repensemos. Por fim, serão obrigados a dizer que bárbaros inimigos da democracia eram os revoltosos incendiários de 2013 – o excesso que extrapolou os limites da segurança – enquanto os agentes da civilização eram os mantenedores da ordem, no caso, a tropa de choque a prender e arrebentar manifestantes – a contenção.
Depois que a “coisa virou”[7], começou a aparecer a crítica desse excesso (a “gota d’água” a mais) e a defesa da contenção por parte da esquerda, e é nesse contexto que se configura um discurso bastante ambíguo de “defesa da civilização contra a barbárie”.[8] Na verdade nem tão ambíguo assim, pois, como chegou a ser dito por aí algumas vezes, em tom de piada ou não, “deveríamos ter pago aqueles 20 centavos”. Basicamente: o pessoal deveria sofrer calado mais um pouco. E quando se evoca uma “frente antifascista” (?) em outros lugares do mundo ao redor de figuras como Macron e Clinton, a mensagem não é outra: contenham vosso mal-estar no neoliberalismo, que está sendo chamado de Civilização Ocidental.
A barbárie que Bolsonaro representa não são seus excessos pulsionais nem a falta de polidez em suas falas e gestos, que causam nos pudicos esclarecidos a “vergonha internacional”, mas a própria destrutividade do processo civilizatório (que também atende pelo nome de modernização capitalista) em seu estágio final. Quando Adorno e Horkheimer, no final da Segunda Guerra Mundial, redigiram a Dialética do Esclarecimento com a finalidade de explicar por que a humanidade não se humanizou e sim adentrou um período de trevas, tratava-se de mostrar como o horror não era algo como um meteorito vindo de outra galáxia, mas que ele foi produzido de forma imanente, e portanto a partir das contradições internas ao processo de Esclarecimento. Portanto eram obrigados a constatar que os agentes da civilização eram também agentes da barbárie e vice-versa. É certo que tal interpretação não poderia ter se tornado hegemônica, afinal ela boicotava de antemão o projeto restauracionista da Reconstrução de uma sociedade que tinha se autodestruído e que deveria necessariamente significar a perpetuação do horror.
Já na visão liberal-humanista de um HelmuthPlessner, a recaída alemã na selvageria hitlerista era signo de uma nação atrasada, e portanto ela era analisada sob a ótica de um déficit: “faltou humanismo político”, escreve Plessner (1982, p. 19) em seu clássico Die verspätete Nation [A nação atrasada]. Tal “humanismo”, que permanece intacto, seria o norte da Reconstrução. Em sua antropologia filosófica, a falta de espírito produziu um excesso de corpo, que em sua visão teria levado ao naturalismo anti-humanista nietzschiano que se imiscuiu na herança romântica do culto ao Volk(culpa do Herder). Portanto, humanizar-se é criar freios (PLESSNER, 2019, p. 122): o ser humano talvez seja uma “besta loira”, mas “a besta está no estábulo” (idem, p. 126) – contida, portanto. A civilização reconstruída é esse estábulo.
Uma transfiguração ideológica semelhante ocorre no Brasil, também à esquerda, porém em outra chave, pois reaparece igualmente a ideia de retorno, de déficit, de atraso, de um elemento arcaico não modernizado que reapareceria como resultado de um processo civilizatório inacabado ou de um recalque malfeito. Mas este arcaico anti-humanista não aparece, ao menos originalmente, vinculado à ideia de “povo”: se na Alemanha há um abismo entre a esquerda e os pobres, visto que qualquer coisa que lembra Volk já aparece com a cara völkisch de um carrasco da SS, o Brasil, por outro lado, goza de uma mistificação positiva do povo, ligado à tradição do nacional-popular e com vocação progressista.[9] Algo que, no entanto, produziu um desencontro frustrante para a esquerda, horrorizada com o “pobre de direita”, que vai desde o pobre de mau gosto que trai a beleza cultural mítica brasileira até o pobre que estaria “traindo seus interesses objetivos” ao votar errado. Enquanto na Alemanha a esquerda despreza o povo que “corresponde a seu próprio conceito” (que aparece como Volk), no Brasil a esquerda despreza o pobre que não tem “cara de povo” e que não “age como povo”. Basicamente: o populismo de esquerda tornou-se órfão de seu objeto. E então, como canta Juçara Marçal em Encarnado: “o que era belo / agora espanta”. E com o timbre exato da Ciranda do Aborto: “a ferida se abriu / nunca mais se estancou”.[10]
O que aconteceu? Diante das transformações sociais que ocorreram no Brasil de forma simultânea ao colapso da sociedade do trabalho em curso no mundo desde a década de 1970, seria preciso observar como as categorias de “classe trabalhadora”, “classe média” e “povo” foram empregadas nas últimas décadas, pensando o entrecruzamento de suas (im)precisões sociológicas e o sentido político-moral que tais categorias evocam.
Lançarei algumas modestas hipóteses. Reações teóricas ao problema começam a aparecer a partir do momento em que a ideia de “nova classe média” passa a circular, sobretudo após as pesquisas e o livro de Marcelo Neri, economista da FGV que ocupou cargos nos governos Lula e Dilma e que idealizou um dos programas de crédito social. Como “classe média” tem uma conotação péssima no Brasil, sobretudo em meios de esquerda, tratou-se logo de reagir a essa ideia que parecia conter veneno político afirmando-se que se tratava não de uma nova classe média, mas de uma nova classe trabalhadora (como o fizeram, por exemplo, Marcio Pochmann, Jessé Souza e Marilena Chauí – poderíamos incluir aí o “precariado” de Ricardo Antunes).
De alguma forma, já vinha assombrando o pensamento social brasileiro a possibilidade de um monstrengo que poderia emergir das transformações sociais em curso, um fantasma que precisava ser recalcado por meio de conceitos sociológicos que buscavam evocar as virtudes progressistas da “classe trabalhadora” em sentido clássico. Afinal, a classe trabalhadora é agente da história e motor da modernização – e, no entanto, Trabalho, História e Modernização já haviam perdido seu lastro objetivo e o Capital já havia entrado de forma definitiva na era de sua reprodução fictícia. O mundo do trabalho no qual essa “nova classe trabalhadora” estava se fazendo e sendo feita (certamente não como o “making” da classe trabalhadora inglesa de Thompson) só no limite ainda poderia ser chamado de “mundo”. neoNão obstante, aproveitando a metáfora de Silvia Viana, é no óleo fervente desse mundo do trabalho simulado (que é também o mundo do desemprego estrutural) onde o coxinha foi frito[11], o mesmo óleo quente que arrancou a pele do povo cujo rosto a esquerda não mais reconhece. Sem entender o que ocorre ali, em meio a essa centralidade negativa do trabalho[12], a esquerda continuará na histeria de seu neoiluminismo de crise bradando que “a Terra é redonda” como se fosse Galileu diante das trevas medievais na aurora da modernidade.
Dentro desse debate da “nova classe média/nova classe trabalhadora”, não é irrelevante observar aquilo que estava sendo produzido por Jessé Souza, que no entanto se tornou hoje ideólogo do petismo mainstream com sua máquina de produção de consolos (com requintes de paranoia) e de discursos nobilitadores para uma esquerda desmoralizada. Aliás, a carga moralizante de suas análises sociológicas, tendencialmente mais cristãs que materialistas, é algo que salta aos olhos – o que se imprime mesmo em dois de seus conceitos centrais, o de ralé e o de batalhadores.
Foquemos brevemente nos “batalhadores brasileiros”, que constituiriam precisamente aquele grupo social de trabalhadores que emergiu da ralé. O que dá o tom ali é uma moral do trabalho vinculada, como não poderia ser diferente, a um elogio do sofrimento que cedo ou tarde seria recompensado pelos frutos da nação do futuro. “Nossa pesquisa, escreve Jessé, mostrou que essa classe conseguiu seu lugar ao sol à custa de extraordinário esforço: à sua capacidade de resistir ao cansaço de vários empregos e turnos de trabalho, à dupla jornada na escola e no trabalho, à extraordinária capacidade de poupança e de resistência ao consumo imediato e, tão ou mais importante que tudo que foi dito, a uma extraordinária crença em si mesmo e no próprio trabalho.” (SOUZA, 2010, p. 50) Ou ainda, nas palavras de Roberto Mangabeira Unger comentando o livro de Jessé no prefácio: “Lutam, ativamente, com energia e engenho para escapar da ralé e entrar no rol da pequena burguesia empreendedora e emergente. Exibem qualidades que Euclides da Cunha atribuía aos sertanejos.” (UNGER, p. 10)
Ora, se tirássemos daí a roupagem nacional-popular com seu imaginário do povo forte e corajoso, isso poderia sem dificuldades ser traduzido na linguagem neoliberal mais desbocada como elogio da resiliência. Em suma: empreendedorismo, um eufemismo para gestão da sobrevivência[13], mistificado como valentia sertaneja. Por meio das virtudes populares vinculadas ao esforço, à luta (entendida como batalha pela autopreservação) e à persistência que, apesar de todas as adversidades, aponta para frente (embora não haja nada adiante), busca-seemular o antigo esforço descomunal da superação do subdesenvolvimento e da luta contra o atraso que animava o imaginário populista dos anos 1950-60 e, se formos mais longe, da industrialização e do ethos do trabalho da Era Vargas. Ao povo caberia ser o sujeito da modernização retardatária[14] e carregar o fardo da formação da civilização brasileira.
Entretanto, na situação contemporânea, é bem provável que essa ladainha progressista tenha perdido sua força persuasiva e que a incrível resiliência sertaneja desse batalhador incansável tenha encontrado um limite nessa luta sem horizonte de expectativa. Quem sabe hoje Jessé olhasse para seus batalhadores e constatasse o mesmo que um dirigente da Ford afirmou no início dos anos 1970, na aurora do que Chamayou chamou de “sociedade ingovernável”, a respeito de seus operários: “há nos empregados um esmorecimento geral da tolerância à frustração”. (CHAMAYOU, 2018, p. 25)É provável também que a energia social identificada por Jessé não seja, como ele desejaria, o combustível de um salto adiante modernizador, mas o ingrediente básico para uma explosão de ódio social em meio a uma dessocialização catastrófica. E no entanto, teóricos sociais estavam enxergando naquele mundo da viração, em que a possibilidade da consolidação de uma sociedade salarial à moda do pós-guerra europeu estava bloqueada de saída, uma espécie de porta para o futuro tal qual o “privilégio do atraso histórico” (TROTSKY, 1961, p. 4) imaginado por Trótski em sua teoria do desenvolvimento desigual e combinado, em que se pularia de uma só vez “do arco e flecha para o rifle” (idem). Nos termos de Mangabeira Unger: “É preciso – e possível – organizar uma travessia direta do pré-fordismo para o pós-fordismo, sem que o país todo tenha de passar pelo purgatório do fordismo industrial. Os batalhadores e a pequena burguesia empreendedora seriam os primeiros beneficiários dessa construção.” (UNGER, 2010, p. 12) Acontece que essa “travessia direta” do “subdesenvolvimento” para o mundo do trabalho pós-fordista de serviços, como há de ser num país periférico onde a verdade do processo global se revela de forma mais nítida, era um atalho para o colapso.
Como Unger não é de todo ingênuo, ele via que os “batalhadores” tinham algo de refratários[15], pois, estando um pouco acima do nível dos miseráveis, não eram alvos das políticas de gestão. O governo deveria, portanto, se preocupar em domesticar essa energia e inventar para eles algum programa social, de modo que os batalhadores deveriam ser “os primeiros beneficiários potenciais dos projetos de capacitação e de ampliação de oportunidades. Mostraram que se podem resgatar porque já começaram a resgatar-se por conta própria”.(UNGER, 2010, p. 10) E, no entanto, não “se resgataram”: havia ali algo de ingovernável que era o próprio limite da governança petista. Converteram-se em “ingratos”, como afirmou o ministro Gilberto Carvalho após as manifestações de 2013.
Quisessem ou não chamar de “nova classe média”, havia a expectativa de que essa nova classe trabalhadora se tornasse o cimento da nova sociedade brasileira de forma análoga às classes médias do Atlântico Norte, embora com o diferencial da roupagem colorida do nacional-popular, o que seria mais uma prova da contribuição brasileira para a sociedade democrática do futuro. Só não se desejou dizer que o projeto era formar uma classe média (por parte de alguns) porque esta é entendida como uma “elite de privilegiados” (SOUZA, 2015, p. 240) que quer se “distinguir”, são racistas e babacas – são portanto os representantes das relações de produção (em sentido moral somente, pois as reais relações de produção não entram em questão) que resistem às forças produtivas, portadoras do progresso. Não é por acaso que na narrativa petista oficial o “golpe” e o bolsonarismo são interpretados como a reação das pesadas estruturas do atraso que não se deixaram quebrar pelas forças progressistas (que no caso seria o próprio PT). Chega a ser cômica a tentativa de convencimento de que essa “reação conservadora” (para dizer de forma simples) é uma “reação ao avanço”, portanto ela só pode ser sintoma daquilo em que os governos do PT foram “bons”.
De todo modo, voltemos à “classe média”. Lembremos da célebre caracterização de Marilena Chauí em sua contribuição ao livro sobre os “10 anos de governos pós-neoliberais [sic] no Brasil”: a classe média é uma “abominação cognitiva”, porque burra; uma “abominação ética”, porque violenta; uma “abominação política”, porque fascista. (CHAUÍ, 2013, p. 134). A barbárie personificada, em suma. Ora, não é exatamente disso que posteriormente foram xingados os “batalhadores” que votaram em Bolsonaro? Contudo, Chauí gostaria de, com o conceito de “classe trabalhadora”, defender a solidariedade e outras antigas virtudes civilizatórias ligadas ao trabalho – que entretanto não existiam mais em uma sociedade que só no limite pode atender por esse nome. Falar em “nova classe trabalhadora” parecia, portanto, mais um verniz eufemizante, uma idiossincrasia moral de intelectuais que os próprios gestores e tecnocratas não têm, por isso eles não titubearam em falar de “nova classe média”, embora o termo também fosse uma mistificação da realidade.
De todo modo, como “classe média” também trabalha, de algum modo ou de outro, a distinção sociológica que se desejava fazer ali parecia antes uma referência a como as distinções operam socialmente em termos morais ou culturais (à maneira da distinção simbólica concebida por Pierre Bourdieu). O que está por trás do argumento é que há uma classe média representante do atraso atávico (vinculada a tudo que aparece como improdutivo, como o patrimonialismo, o rentismo etc.), e uma outra, trabalhadora, batalhadora e ascendente, que deveria se tornar a base social de um capitalismo “civilizado e democrático” – turbinado e sem crise, sem dúvida.Afinal, como diz Lula: “[…] obviamente que eu tenho clareza que o trabalhador só pode ganhar se a empresa for bem. Eu não conheço, na história da humanidade, um momento em que a empresa vai mal e que os trabalhadores conseguem conquistar alguma coisa a não ser o desemprego”. (LULA, 2013, p. 16) Quem viu as últimas entrevistas de Lula, enquanto ainda estava na prisão, ou mesmo seu depoimento em A verdade vencerá, percebe que seu espírito “utópico” (que é inegável) está vinculado à fantasia do infinito da valorização do valor (que Marx denominou de fetiche do capital).
No limite, podemos dizer que tal fantasia é constitutiva da própria ideia de esquerda tal como ela se configura no pós-guerra, uma vez que seu horizonte definitivo se tornou, de forma mais ou menos intensa, regular/governar/desenvolver o capitalismo, desempenhando uma função distributivista e de apaziguamento dos antagonismos sociais. Portanto, não importa se liberal-keynesiana ou stalinista com veleidades autoritárias, esse infinito do valor passa a estar no coração da esquerda, que precisa então acreditar e fazer os outros acreditarem que há sempre valor sendo produzido e que a acumulação é um processo indefinido e potencialmente eterno. O drama – e isso é algo observado por Robert Kurz na virada dos anos 1980 para os 90 – é que, conforme o capitalismo vai perdendo sua capacidade de se reproduzir, a esquerda vai sendo desmoralizada.
No Brasil, quando chega a “hora da esquerda” na esteira da redemocratização, o quadro global da tendência ao colapso e do desmanche da sociedade do trabalho já estava dado. O processo de automação em curso e a contínua expulsão de trabalho vivo do processo produtivo (que ocorria de forma brutal também, ou sobretudo, no campo) já não podia ser compensada, tal como ocorreu no centro orgânico do capital, por uma expansão externa do mercado tal qual após o boom fordista nas décadas de 1940 e 50. “O cenário, escreve o sociólogo José de Souza Martins, era o do crescimento do número de desenraizados, vivendo precariamente à margem da economia organizada, gentes supostamente sem horizonte e sem futuro.” (MARTINS, 2011, p. 11) O quadro era já o do “Brasil anômico” (na denominação de Martins), em que a formação de algo como uma sociedade “próspera” (em termos capitalistas) e de pleno emprego era uma impossibilidade lógica e histórica. Nessa situação, se avolumava um contingente populacional supérfluo do ponto de vista da reprodução do capital. O que fazer? Martins comenta uma conversa de 1982: “Num dos intervalos para o cafezinho, João Pedro Stédile comentou comigo que ‘quem conseguisse organizar esses lumpens mudaria o país’.” (idem) Dois anos depois era fundado o MST.
Se o MST em algum momento apresentou um potencial de ruptura revolucionária é porque ele foi capaz de organizar essa gente sem eira nem beira, pobres expulsos do campo e aglomerados nas enormes periferias urbanas, uma população de “sujeitos monetarizados sem dinheiro” que já não tinha possibilidade alguma de ser integrada pela sociedade do trabalho.[16] Eram “inempregáveis”, como disse FHC nos anos 1990. “A situação para estas massas é de fim de linha. Elas precisam lutar para sobreviver, e isto somente pode ser possível numa rebelião contra boa parte das forças produtivas do capital e seu modo de produção.” (MENEGAT, 2013)[17] No caso do PT, não era evidente qual seria sua relação, nas palavras de Tarso Genro, com essa “população marginalizada, lumpesinada ou meramente excluída do mundo da Lei e do Direito” (apud MARTINS, 2011, p. 12). Ao mesmo tempo, como diz Martins, “a designação ‘lúmpen’ indicava a desconfiada incorporação política de uma massa de desamparados cujo comportamento podia ser enquadrado, mas não podia ser assegurado”. (idem)
Portanto, não se tratava de uma base de trabalhadores sindicalizados prontos para montar um “capitalismo sindical” de parcerias à europeia. Não estava dado de antemão que um pacto social seria formado. Com o tempo, mostrou-se que o único destino dessa massa era ser governada, com a mão esquerda e direita do Estado neoliberal, que ora ampara e assiste as populações vulneráveis com programas sociais, ora pune, encarcera e mata. Mas não foi sem sucesso, muito pelo contrário, a gestão do social com a mão esquerda, cujas origens espirituais talvez devessem ser retraçadas nessa relação umbilical da esquerda brasileira com a Doutrina Social da Igreja e que casou com tecnologias governamentais de ponta (que inclusive passaram a ser exportadas como práticas modelo). Em dado momento, portanto, “as dificuldades conceituais do Partido dos Trabalhadores com a massa lúmpen chegaram ao fim quando ficou claro que ela se tornara constituinte do lulismo e fora decisiva na reeleição de Lula […].”(idem)
Nesse ínterim, os movimentos sociais aparelhados pelo Estado também se tornaram plataformas para gradualmente catapultar setores da “ralé” para essa nova classe média por meio do crédito social. Ou seja, como lidar com as fraturas do “Brasil anômico”? Cash, baby. Anomia no capitalismo se pacifica com grana, tanto faz se sem valor, importa é que a circulação funcione. Se isso é algo que faz sociedade, aí é outra questão… Importante é que choveu dinheiro e as pessoas ficaram felizes – quem não ficou? E não faltaram sociólogos e filósofos para confirmar que dinheiro liberta, civiliza, emancipa etc. De todo modo, além de desafogar as necessidades materiais mais básicas, dinheiro traz sobretudo respeito e reconhecimento. O que não é irrelevante, pois a crise do trabalho inaugurou uma verdadeira Era da Humilhação. Quando Kurz falava sobre “a honra perdida do trabalho”, devemos levar em conta que isso significa uma desonra objetiva dos (ex-)trabalhadores, que passam à categoria de “deploráveis”, tal como Hillary Clinton designou os eleitores do Trump, que eram justamente maioria entre os ex-operários das regiões desindustrializadas do rustbelt.
Nesse sentido, a “moral do trabalho” não é um mero ornamento superestrutural, mas ela tem uma objetividade social no capitalismo e ganha outro sentido, mais brutalizado, no instante da crise do trabalho enquanto tal. Há uma forma de compensar tal condição indigna: se tal compensação não pode aparecer na produção (no trabalho), a dignidade deve ser realizada na outra ponta: no consumo (que seja eterno enquanto dure). O dinheiro é o passe para entrar no mundo – o sujeito monetarizado sem dinheiro é o próprio “homem sem mundo”.[18] Mas como aquilo que parecia ser crescimento rumo ao infinito era uma simulação movida a capital fictício (deve-se ter em vista aqui sobretudo o boom das commodities[19]), era provável que uma hora o dinheiro acabasse depois que a bolha estourasse. E como dinheiro não forma sociedade, o que aparece quando ele acaba é o violento contrário de sociedade – e já nos primeiros meses do governo Lula havia quem dissesse que a famigerada “inclusão pelo consumo” não faz sociedade e que aquilo ia dar em fascismo, e no entanto eram acusados de catastrofistas, exagerados etc.
É provável que humilhação e sofrimento acumulados produzam algo diferente de paz e amor, sobretudo numa situação em que a “tolerância à frustração” dos batalhadores ao redor do mundo está em baixa – e no entanto os que reagem com “mais amor por favor” parecem somente querer reforçar a tolerância à desgraça da normalidade. Entra também em baixa a tríade de Comte– amor, ordem e progresso – que era uma fórmula de pacificação para encerrar os períodos turbulentos de crises e revoluções e para cimentar as bases de uma história lenta. Esse cimento, os vínculos em uma sociedade fraturada, era o social, cujo lastro, como explicado por Donzelot, está no declínio das paixões políticas. Ora, a partir do momento em que, como anunciado pela dama de ferro, there’s no suchthing as society, a artificialidade do “social” e seu prazo de validade ficam visíveis na medida em que, justamente, a sociedade vai se tornando ingovernável, e o conflito social, como reconhece Honneth (2012), se brutaliza diante do declínio das expectativas de reconhecimento. Talvez o que apareça aí seja o processo reverso ao analisado por Donzelot: o declínio do social e o retorno das paixões políticas. E nisso reaparece o ódio não como uma patologia qualquer, mas como a paixão política por excelência, a paixão do confronto e do antagonismo. Em 2013 se dizia: “Acabou o amor, isso aqui vai virar a Turquia” – a referência era o fôlego libertário da praça Taksim, mas “tornar-se Turquia” pode ser, como sabemos, algo bem pior.
O que surge desse desmoronamento parece sombrio. Podemos especular se Walter Benjamin, observando nosso mundo contemporâneo, talvez pensasse que, como antídoto à barbárie em curso, pudesse surgir uma “barbárie positiva”, tal qual imaginada por ele ao refletir sobre os homens e mulheres mutilados saídos de uma situação de guerra (a Grande) e com sua capacidade de fazer e transmitir experiência atrofiada.[20]De forma distinta dos “agentes da civilização”, que se tornam positivamente agentes da barbárie, os inimigos da barbárie também estão enleados no horror. Sem os “barbarizados”, as vítimas desumanizadas e arrebentadas por essa máquina de moer gente e, no entanto, condenadas a improvisar num tempo sem desenvolvimento, não há nada que se possa fazer contra a real barbárie. Quem sabe do improviso possa surgir uma nova inteligência – mas isso somente se Benjamin tiver razão.
*Felipe Catalani é doutorando em filosofia na USP.
Referência
ABÍLIO, Ludmila Costhek. “O Estado está se transformando em orientador da precarização do trabalho.” Entrevista, 2019. Disponível em: http://www.correiocidadania.com.br/72-artigos/imagens-rolantes/13799-o-estado-esta-se-transformando-em-orientador-da-precarizacao-do-trabalho
_______________________. “Uberização do trabalho: subsunção real da viração”. Passa Palavra, fevereiro de 2017.Disponível em: https://passapalavra.info/2017/02/110685/
ADORNO, Theodor W. “Crítica cultural e sociedade”. In: Prismas. São Paulo: Ática, 1998.
__________. “Spengler e o declínio”. In: Prismas. São Paulo: Ática, 1998.
__________; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
ARANTES, Paulo. O novo tempo do mundo. São Paulo: Boitempo, 2014
_______________ “Documentos de cultura, documentos de barbárie”. In: Zero à esquerda. São Paulo: Conrad, 2004.
BENJAMIN, Walter. “Experiência e pobreza”. In: Obras escolhidas I. São Paulo: Brasiliense, 1994.
BRASIL, Francisco de Souza. Doutrina de Segurança Nacional: muito citada, pouco comentada. Revista de Direito Administrativo, 137. Rio de Janeiro: Forense, jul-set/1979.
CATALANI, Felipe. “Aspectos ideológicos do bolsonarismo”. Blog da Boitempo, outubro de 2018. Disponível em: https://blogdaboitempo.com.br/2018/10/31/aspectos-ideologicos-do-bolsonarismo/
_________. “A decisão fascista e o mito da regressão: o Brasil à luz do mundo e vice-versa”. Blog da Boitempo, julho de 2019. Disponível em: https://blogdaboitempo.com.br/2019/07/23/a-decisao-fascista-e-o-mito-da-regressao-o-brasil-a-luz-do-mundo-e-vice-versa/
CHAMAYOU, Grégoire. La société ingouvernable: une généalogie du libéralisme autoritaire. Paris: La fabrique, 2018.
CHAUÍ, Marilena. “Uma nova classe trabalhadora”. In: SADER, Emir (org.). Lula e Dilma: 10 anos de governos pós-neoliberais no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2013.
CORRÊA, Ana Elisa Cruz. Crise da modernização e gestão da barbárie: a trajetória do MST e os limites da questão agrária. Tese de Doutorado em Serviço Social. Rio de Janeiro: UFRJ, 2018.
COSTA, Henrique. “Fascismo na sociedade sem classes: uma interpretação do bolsonarismo”. Le Monde Diplomatique Brasil, março de 2019. Disponível em: https://diplomatique.org.br/fascismo-na-sociedade-sem-classes/
DONZELOT, Jacques. L’invention du social: essai sur le déclin des passions politiques. Paris: Éditions du Seuil, 1994.
FELDMANN, Daniel. “A crise permanente do capital e os sentidos do novo nacionalismo autoritário no século XXI”. Manuscrito no prelo, 2020.
GARCIA, Walter. “Nota sobre o disco Encarnado de Juçara Marçal (2014)”. Revista USP, São Paulo, n. 111, p. 59-68, outubro/novembro/dezembro 2016.
HADDAD, Fernando. Entrevista, outubro de 2015. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/02/politica/1443822860_854536.html
HONNETH, Axel. Brutalization of the social conflict: struggles for
recognition in the early 21st century. Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, 2012.
KURZ, Robert. A honra perdida do trabalho. Lisboa: Antígona, 2018.
____________. Dinheiro sem valor. Lisboa: Antígona, 2014.
____________. O colapso da modernização: Da derrocada do socialismo de caserna à crise da economia mundial. São Paulo: Paz e Terra, 1993.
LULA, Luiz Inácio. “O necessário, o possível e o impossível (entrevista concedida a Emir Sader e Pablo Gentili)”. In: SADER, Emir (org.). Lula e Dilma: 10 anos de governos pós-neoliberais no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2013.
MANZIONE, Daniel. Eles não usam macacão: crise do trabalho e reprodução do colapso da modernização a partir da periferia da metrópole de São Paulo. Tese de Doutorado em Geografia. São Paulo: FFLCH-USP, 2018.
MARTINS, José de Souza. A política do Brasil lúmpen e místico. São Paulo: Editora Contexto, 2011.
___________. Do PT das lutas sociais ao PT do poder. São Paulo: Editora Contexto, 2016
MENEGAT, Marildo. “Unidos por catástrofes permanentes: o que há de novo nos movimentos sociais da América Latina.” In: PAULA, Dilma Andrade de & MENDONCA, Sonia Regina (orgs.). Sociedade civil: ensaios teóricos. Jundiaí: Paco Editorial, 2013.
PASSA PALAVRA. “Olha como a coisa virou.” Passa Palavra, Noticiar, Brasil, 25 jan. 2019. Disponível em: https://passapalavra.info/2019/01/125118/
PITTA, Fábio. “O crescimento e a crise da economia brasileira no século XXI como crise da sociedade do trabalho: bolha das commodities, capital fictício e crítica do valor-dissociação”. Manuscrito no prelo, 2020.
PLESSNER, Helmuth. Die verspätete Nation. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982
__________________. Philosophische Anthropologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2019.
POCHMANN, Marcio. Nova classe média? O trabalho na base da pirâmide social brasileira. São Paulo: Boitempo, 2015.
SOUZA, Jessé. A tolice da inteligência brasileira. São Paulo: LeYa, 2015.
____________. A ralé brasileira: quem é e como vive. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.
_____________. Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe trabalhadora? Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
SINGER, André. O lulismo em crise. São Paulo : Companhia das letras, 2019.
____________. Os sentidos do lulismo. São Paulo : Companhia das letras, 2012.
TELLES, Vera. “Mutações do trabalho e experiência urbana”. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 18, n. 1, 2006.
TROTSKY, Leon. The History of the Russian Revolution. Chicago: Haymarket Books, 1961.
UNGER, Roberto Mangabeira. Prefácio. In: SOUZA, Jessé. Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe trabalhadora? Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
VIANA, Silvia. “Acabou!” In: Argumentum, Vitória, 11(2), P. 17-30, 2019.
Notas
[1] O artigo integra o livro O pânico como política: o Brasil no imaginário do lulismo em crise(RJ, Mauad X, 2020), organizado por Fabio Luis Barbosa dos Santos, Marco AntonioPerruso e Marinalva Silva Oliveira.
[2] Vale hoje para os falsos “críticos da barbárie” aquilo que Adorno dizia sobre os críticos da cultura: “O crítico da cultura não está satisfeito com a cultura, mas deve unicamente a ela esse seu mal-estar. Ele fala como se fosse o representante de uma natureza imaculada ou de um estágio histórico superior, mas é necessariamente da mesma essência daquilo que pensa ter a seus pés. […] O crítico da cultura mal consegue evitar a insinuação de que possui a cultura que diz faltar. […] Onde há desespero e sofrimento, o crítico da cultura vê apenas algo de espiritual, o estado da consciência humana, a decadência da norma.” (ADORNO, 1998, p. 7)
[3] A citação inteira: “Em uma sociedade que se está modernizando, Segurança significa Desenvolvimento… Segurança não é material militar, embora esse possa ser incluído no conceito; não é força militar,embora possa abrangê-la; não é atividade militar tradicional, embora possa envolvê-la. Segurança é Desenvolvimento e sem Desenvolvimento não pode haver Segurança.” (apud Brasil, 1979, p. 399)
[4]Sobre a ideia de viração tal como ela aparece na sociologia do trabalho, ver por exemplo o artigo de Vera Telles (2006) “Mutações do trabalho e experiência urbana” e o de Ludmila Costhek Abílio (2017) “Uberização do trabalho: subsunção real da viração”. Sobre como o colapso da sociedade do trabalho se manifesta nas periferias urbanas, ver a tese de Daniel Manzione (2018), intitulada Eles não usam macacão: crise do trabalho e reprodução do colapso da modernização a partir da periferia da metrópole de São Paulo.
[5] Sobre o sentido social dessa espera no mundo contemporâneo, conferir o capítulo “Zonas de espera: uma digressão sobre o tempo morto da onda punitiva contemporânea” do livro O novo tempo do mundo (2014) de Paulo Arantes.
[6] No momento da redação deste texto, aparece a notícia de que Bolsonaro extingue também o DPVAT, seguro para acidentes de trânsito.
[7] Para uma análise sobre os desdobramentos políticos pós-2013 feita a partir do ponto de vista da militância, ver Passa Palavra (2019).
[8] Remeto a um texto escrito em um outro contexto (“Documentos de cultura, documentos de barbárie”) em que Paulo Arantes (2004, p. 221-235) comenta um tal “Manifesto contra a Barbárie e em favor da Arte”.
[9] O filme Bacurau (2019) é exemplar nesse caso, e de modo tão exagerado que seu caráter de consolo, diante da situação contemporânea, fica excessivamente evidente.
[10] Notemos que o álbum foi produzido em grande parte durante os eventos de 2013. Para um comentário geral do disco, ver o artigo “Nota sobre o disco Encarnado de Juçara Marçal (2014)” de Walter Garcia (2016).
[11] “A nova direita não nasceu em 2013, menos ainda nos idos da colonização. Ela é cria de uma dissolução socialmente estruturada, portanto não de uma anomia qualquer a ela imputada e por ela retribuída em acusação espelhada. O coxinha foi frito na desgraceira generalizada do trabalho cuja forma flexível nos deformou a todos, à sombra da qual, contudo, ele encontrou uma expressão política particular.” (VIANA, 2019, p. 26)
[12] O termo, que indica também a intensificação do sofrimento no trabalho no instante de sua crise, é de Paulo Arantes (2014, p. 106). A teoria de fundo sobre a crise do trabalho é de Robert Kurz e as observações sobre sofrimento social, de Christophe Dejours. Com esse termo busca-se salientar que, quanto mais a crise do trabalho se aprofunda e quanto mais o trabalho se torna objetivamente obsoleto, mais ele se torna, na vida das pessoas, um problema, e mais sua centralidade social no capitalismo se agudiza. Isso significa, portanto, que a crise do trabalho não significa a perda de sua centralidade, tal como imaginado, por exemplo, por Habermas a partir das observações de Claus Offe sobre a crise da sociedade salarial europeia e do Welfare State, de tal modo que, no cerne de sua teoria, um novo paradigma centrado na linguagem deveria ocupar o velho paradigma marxista do trabalho.
[13] Como sugere Ludmila Costhek Abílio (2019).
[14] Sobre o conceito de “modernização retardatária”, ver o capítulo “O fracasso da modernização” do livro O colapso da modernização de Robert Kurz (1993).
[15] Sobre essa “segunda classe média”, ele diz: “Morena, vinda de baixo, refratária, a sentir-se um pedaço do Atlântico norte desgarrado no Atlântico sul, essa nova classe média compõe-se de milhões de pessoas que lutam para abrir ou para manter pequenos empreendimentos ou para avançar dentro de empresas constituídas, pessoas que estudam à noite, que se filiam a novas igrejas e a novas associações, e que empunham uma cultura de autoajuda e iniciativa.” (UNGER, 2010, p. 9)
[16] Acompanho aqui o argumento de MarildoMenegat (2013) em seu artigo “Unidos por catástrofes permanentes: o que há de novo nos movimentos sociais da América Latina”.
[17] Para um aprofundamento desse argumento, ver também a tese de doutorado de Ana Elisa Cruz Corrêa (2018) intitulada Crise da modernização e gestão da barbárie: a trajetória do MST e os limites da questão agrária.
[18] Não por acaso uma das figuras centrais do “homem sem mundo” é o desempregado, tal como ele aparece na análise de Günther Anders do romance Berlin Alexanderplatz de Alfred Döblin.
[19] Para uma explicação informada sobre a crise econômica atual no Brasil e a relação entre boom das commodities e capital fictício, ver o artigo “O crescimento e a crise da economia brasileira no século XXI como crise da sociedade do trabalho: bolha das commodities, capital fictício e crítica do valor-dissociação” de Fábio Pitta (2020).
[20] Refiro-me ao ensaio “Experiência e pobreza” (1994).